Impactos e caminhos do trabalho com famílias, a convivência e o fortalecimento de vínculos na proteção social básica – Sextas Básicas #04

Por Rozana Fonseca e Joari Carvalho Queremos que os encontros virtuais promovidos pelo Blog Psicologia no SUAS, com coorganização do Joari Carvalho, os Sextas Básicas, sejam elementos potencializadores que venham agregar a todas e todos que fazem a Assistência Social, especialmente neste período da pandemia provocada pelo novo coronavírus e temos muitas perguntas. Então, é certo que não nos prescindimos da necessidade e urgência da construção de algumas reflexões e proposições para o SUAS durante e pós pandemia. Alguns elementos que planejamos discutir no Sextas Básicas #04 Ações da PSB em situações de calamidades públicas e emergência Integração das ações de proteção social no SUAS Desafios da PSB frente ao agravamento das desproteções sociais A proteção social básica – PSB nem sempre é lembrada como parte inerente de ações em situações de calamidades públicas e emergências, para além do remanejamento de profissionais para ficarem à disposição temporariamente de ações de resposta improvisadas e não raramente assistencialistas e inefetivas. Quando já está um pouco mais estruturada a gestão local sobre as calamidades, o que é raro, a PSB pode contribuir estrategicamente com o serviço previsto na Tipificação Nacional como componente da proteção social especial, e de alta complexidade. O problema com essa situação é que entender estritamente isoladas as ações de PSB tanto reforça a fragmentação interna entre as próprias ações da assistência social, que reduz a capacidade de resposta e mantém a vulnerabilidade às ameaças cada vez maiores, quanto impede compreender a lógica processual e dinâmica da gestão integral para a redução dos riscos de desastres, que valoriza e fortalece ações de proteção social antes dos iminentes desastres, como na prevenção dos riscos e na preparação para a redução do impacto deles nas vidas das pessoas, mas também depois das desmobilizações das ações de respostas, quando começa a etapa de reconstrução, de preferência mais forte, da capacidade de proteção social pela convivência comunitária e pelo fortalecimentos dos vínculos familiares. Neste sentido, o enfrentamento da pandemia tem evidenciado e alarmado quase toda a população do país – exceto uma minoria incompreensível que até naturaliza isso como fatalidade e procura obter vantagens particulares – acerca de efeitos graves das desproteções sociais para o agravamento dos danos, como os maiores índices de mortalidade e violência, e também dos prejuízos, com o aumento da pobreza, da fome e do desemprego. Isso tudo incide, sobretudo, sobre as populações em situações de maior vulnerabilidade social, que são justamente aquelas às quais se destinam preferencialmente as ofertas de PSB, com medidas de redução das causas da vulnerabilidade, como os atendimentos e acompanhamentos dos CRAS, o trabalho de serviços de convivência, as estratégias de equipes volantes, os atendimentos em domicílios e a integração preventiva e promotora da autonomia com programas, benefícios e transferências de renda socioassistenciais. O que já era e o que pode ser básico, em termos de recursos, referências, participação, gestão, articulação, conhecimento e outros elementos, na proteção social daqui por diante? Para compor este “Sextas Básicas” com reflexões e algumas proposições a partir dessas questões levantadas, contaremos com as contribuições da Solange Leite, Paulo Silva e mediação do Joari Carvalho e Rozana Fonseca como anfitriã dos encontros. Sextas Básicas #04 Tema: “Impactos e caminhos do trabalho com famílias, a convivência e o fortalecimento de vínculos na proteção social básica” Quando: sexta-feira (15/05)Horário: 19hCanal do Blog Psicologia no Suas no YouTube Sobre as (os) participantes Solange Leite Psicóloga – CRP08/09294. Atua no CRAS OESTE Pinhais/Paraná. Atuação na defesa das/os Trabalhadores e da Psicologia no SUAS. Participou da Organização do FNTSUAS e FETSUAS/PR. Colaboradora da Conpas – Gestão CFP 2017 a 2019. Paulo Silva Educador Social, trabalhador do SUAS desde 2004 através de Organizações da Sociedade Civil nas cidades de São José dos Campos e atualmente em Campinas. Especialista em Arte Educação pelo Instituto Brasileiro de Formação para Educadores, Mediador Sócio Cultural do Projeto Poética Musical e Co-fundador do Grupo de Estudos e Práticas Permanentes em Educação Social que atua na área de formação com educadores e educadoras sociais. Páginas do trabalho desenvolvido: Saberes e Práticas do Educador Social – GEPPES –Grupo de Estudos e Práticas Permanentes em Educação Social A mediação é de Joari Carvalho – Psicólogo social – CRP 06/88775. Atua no órgão gestor da assistência social de Suzano – SP. Mestrado em psicologia social. Ex-colaborador convidado da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social do CFP (2018 e 2019) e ex-conselheiro membro do Núcleo de Assistência Social e do Núcleo de Emergências e Desastres do CRP- SP (2009 a 2016). Coorganizador do Sextas Básicas. A anfitriã é Rozana Fonseca, criadora deste espaço, que o tem com o lema agregar todas e todos que se debruçam à construção do SUAS. Esperamos vocês para o nosso encontro virtual #4. Este é o link https://www.youtube.com/watch?v=vlXzfaa6RdU&feature=youtu.be para você participar ao VIVO do Sextas Básicas #4 Assista direto aqui ou pelo Youtube!
Cartilha da Pessoa Idosa

A cartilha tem o objetivo de auxiliar os idosos a compreenderem os seus direitos e como podem se prevenir da violência. A Cartilha da Pessoa Idosa foi elaborada pelas instituições que compõem o Comitê Interinstitucional de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa – cooperação entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por intermédio da CGJ, e a FAMURS (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Com textos e ilustrações, o material apresenta as garantias e os direitos dos idosos, além de auxiliar a detectar e denunciar as formas de violência… Texto adaptado da notícia de lançamento do site TJRS. Leia na íntegra – TJRS Cartilha lançada em ação referente ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, que acorre a cada 15 de junho. A cartilha pode ser utilizada como material auxiliar em atividades coletivas como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, grupos no PAEFI, PAIF, Oficinas com famílias e nos demais serviços socioassistenciais. Quero acrescentar uma observação quanto ao novo símbolo que identifica pessoa idosa em atendimentos preferenciais. O PL do Senado nº 126 de 2016 foi aprovado e agora tramita na Câmara dos Deputados sob o nº 10282/2018. Ementa PL do Senado nº 126 de 2016 : Altera a Lei nº 7.405, de 12 de novembro de 1985, e a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, para dispor sobre o uso de símbolos desprovidos de caráter pejorativo na identificação de pessoa com deficiência e de idoso.
Atividades do SCFV – 0 a 6

Caderno de Atividades do SCFV para crianças de 0 a 6 anos, publicado pela SNAS. O documento é endereçado ao orientador/educador social que atua na condução dos grupos do SCFV, além de ser inspirador para outros profissionais que atuam nos serviços socioassistenciais, especialmente aos profissionais que exercem a função de técnico de referência deste serviço. A divulgação diz que o “Caderno de Atividades do SCFV é um material complementar ao Caderno de Orientações Técnicas do SCFV para Crianças de 0 a 6 anos, que será disponibilizado futuramente”. Bem que poderiam ter publicado após o caderno de Orientações técnicas, já que é um documento complementar, valendo ressaltar que o Caderno Orientações Técnicas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 0 a 6 anos está sob consulta pública até 30 de abril de 2019 – Veja aqui Sobre o Caderno: (…)Pretende-se que este material estimule o educador/orientador social a atuar de forma reflexiva, criativa e lúdica com as crianças de 0 a 6 anos e os seus(suas) cuidadores(as) no SCFV. Espera-se que seja um disparador de possibilidades e maneiras de planejar, elaborar, propor e conduzir as atividades ofertadas, sem perder de vista as especificidades do atendimento socioassistencial(…) #BibliotecaBPS Instagram do Blog: @psicologianosuas Facebook: Blog Psicologia no SUAS Fonte: Rede SUAS
Autonomia e suas contradições: inquietações da prática profissional
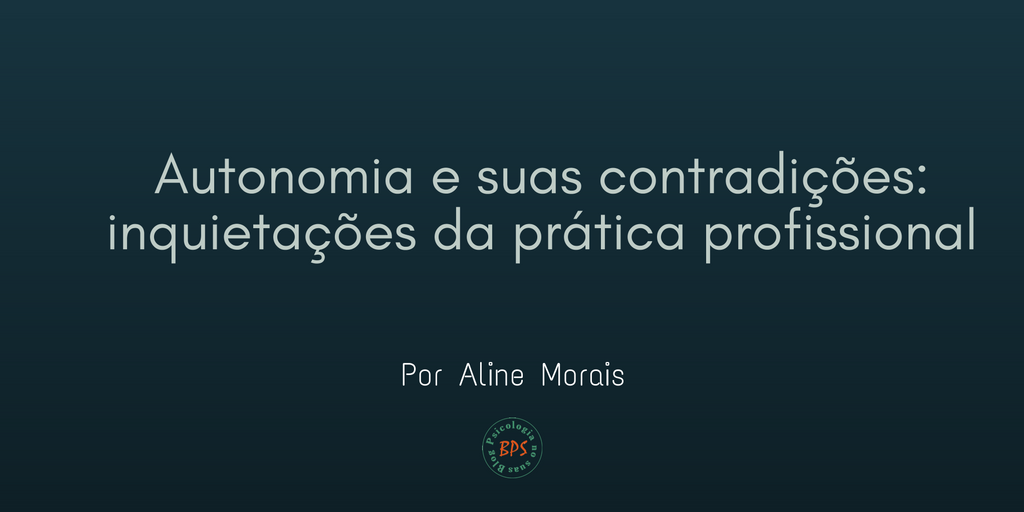
Por Aline Morais Ao pensar no trabalho social com famílias, nos objetivos de nossas ações, em um deles temos sempre acordo: promover autonomia. O que é mesmo isso? Por que os usuários da assistência precisam disso, o que lhes falta? Uma demanda (não sei bem se dos usuários, ou dos técnicos) que tem me inquietado, advém de algumas situações comuns entre algumas famílias que chegam ao CRAS, as quais imagino que com os colegas também: “problemas” com higiene (da casa, pessoal, dos filhos, etc). Chegam demandas das escolas, do Conselho Tutelar, da Saúde. Casa extremamente suja e desorganizada, crianças sujas ao chegar à escola, famílias que acumulam materiais recicláveis para venda, entre outros tantos. Assim, até que ponto tais questões configurariam negligência? Ou problema de saúde pública? Ou ainda, até onde podemos interferir no ‘funcionamento’ familiar? Quem somos nós para dizermos: “arrume sua casa”, limpe melhor o seu filho ou a si mesmo? São questões com as quais tenho me deparado, tendo a certeza de que essa questão é extremamente delicada e requer muita reflexão antes da ação. Requer cuidado, na medida em que temos lutado para nos desfazer do ranço higienista e do controle das famílias pobres que a assistência carrega em sua história. Além disso, o que deve ser levado em consideração não é o desejo do profissional, mas as necessidades das famílias, certo? Muitas perguntas e poucas respostas. Procurei materiais acadêmicos que pudessem ofertar algum suporte sobre tais questões, mas não encontrei nenhum material relacionado diretamente a discussão da higiene na assistência social (se alguém tiver, por favor, compartilhe!). Uma frase que me marcou naquele documentário “O ciclo da vida” (super indico!) foi de uma entrevistada que disse não acreditar em negligência, pois cada um dá aquilo que tem. Diante disso, entramos no campo das escolhas e nã0-escolhas (sobre a qual Lívia falou lindamente neste post ⇒“Você vai trabalhar no SUAS”: considerações sobre uma não-escolha) e, consequentemente, sobre autonomia. Sempre que penso em autonomia, me vem uma compreensão de que se trata da possibilidade de escolher, mediante as oportunidades e as não-oportunidades. Nesse caso, acho que um bom exemplo é um garoto que cometeu ato infracional. Vejo que no imaginário social tal atitude transgressora é vista como uma escolha. Contudo, antes disso, é necessário pensar que para escolher, é preciso ter alternativas. Quais as alternativas que se apresentaram de chances de vida para este jovem? Veja bem, vai além do debate de que ele é vítima (das mazelas sociais) ou autor. Estamos aqui falando de autonomia. Ou seja, antes de se promover autonomia, devem-se ter chances de escolhas, opções. E, há que se considerarem os aspectos micro e macrossociais envolvidos. Assim, percebo que falamos em autonomia de uma forma banalizada, como se fosse um conceito dado e autodefinido, ou ainda, um objetivo facilmente alcançável. Para ele, existem diversas definições. Segundo documento recente que aborda sobre o Trabalho Social com Famílias, autonomia é a “capacidade do indivíduo de eleger objetivos e crenças, de valorá-los com discernimento e de pô-los em prática sem opressões” (BRASIL, 2016, p.20 apud PEREIRA, 2000). Sposati (2013) traz algumas reflexões críticas a respeito do modo de proteção social brasileiro, o qual acaba por expressar uma dependência dos sujeitos, em contraponto a uma autonomia a ser exercida pelo indivíduo, estimulando seu espírito ‘empreendedor’. Para autora, a autonomia tornou-se um argumento neoliberal, o qual pretende desfazer da condição de sujeitos dependentes da assistência, para que exerçam autonomia, sendo, na realidade, a “ocupação remunerada de mão de obra, para que o beneficiário se transforme em provedor de sua própria proteção” (p.657). A crítica dela vem do tratamento diferenciado entre proteção social contributiva e não contributiva, sendo esta última tratada ainda como um ‘favor’ e não um direito. Nesse cenário, é necessário olhar para as entrelinhas e pano de fundo da Política de Assistência Social, notando que a autonomia encontrará espaço na contra-hegemonia, na luta pelos direitos. Ela se manifestará quando o usuário disser para o técnico que cuidará de sua casa e de seus filhos como quiser, com aquilo que tem (de repertórios e vivências). Nem sempre a conquista da autonomia irá nos agradar como técnicos, ela poderá vir a partir do embate, do questionamento, do posicionamento, das escolhas possíveis. Com isso, é preciso deslocar o olhar da norma e da disciplina, para estar em uma ação técnica relacional. Assim, talvez poderemos identificar quais os limites de nossas ações. Promover autonomia também pode significar recusar algumas atitudes, enquanto técnico. Quando eu estava executando uma oficina junto a idosos do SCFV, percebi que eles solicitavam que eu pegasse as tintas, os pinceis, e todos os outros materiais para conseguirem fazer a atividade proposta. Até a cor que iriam utilizar, pediam que eu escolhesse, e quando eu dizia “escolhe você”, alguns respondiam “tanto faz”. Neste momento, percebi que o que eu estava promovendo ali era quase o contrário da autonomia. E demorou para isso vir à consciência, não foi óbvio. Na tentativa de agradá-los, eu fazia o que me pediam. Portanto, é preciso estar atento e não cair na rotina de trabalho, para abrir espaço para essas percepções. A autonomia é aceitar no outro o que não entendemos, permitir sua participação nas suas próprias condições. Implica na capacidade dos sujeitos em criar e ampliar as suas vinculações, ter respeito mútuo, implicando em uma prática especial de troca. Governar a si próprios, sem imposições, decidir que atitudes tomar (LOPES, 2008), mesmo que seja uma “não-escolha”. Portanto, temos aqui algumas pistas de que não podemos cobrar respeito de pessoas que não foram respeitadas, ou cobrar escolhas ‘certas’ de quem não teve opções. Diante disso, ganha centralidade a necessidade de uma escuta qualificada, a respeito dos modos de vida, e, sobretudo, da alteridade. A alteridade implica reconhecer que o indivíduo existe em interação com o outro, valorizando as diferenças existentes e exercitando a empatia. Segundo Barros (2004), é preciso que o técnico saiba redimensionar o próprio saber, saiba transitar em relações de alteridades sociais e culturais em suas ações. Para concluir, percebo
Mais praticidade nas inscrições para os Encontros e Hangouts abertos do Blog
Agora ficou mais fácil e prático participar dos nossos Encontros e Hangouts gratuitos através do Canal do Blog no YouTube. Basta você se inscrever, uma única vez, e sempre que agendarmos os eventos você receberá as informações e o link de transmissão em seu E-mail. Mesmo que você já participou dos Encontros anteriores, eu peço a gentileza que se inscreva também neste formulário, assim ficará no mesmo arquivo de registro dos demais interessados – A partir do próximo evento, este será o único banco de endereços que usarei para enviar os links da transmissão Não sabe como funciona os Encontros? Veja AQUI INSCREVA-SE GRATUITAMENTE! QUERO PARTICIPAR
Novo Caderno de Orientações PAIF e SCFV
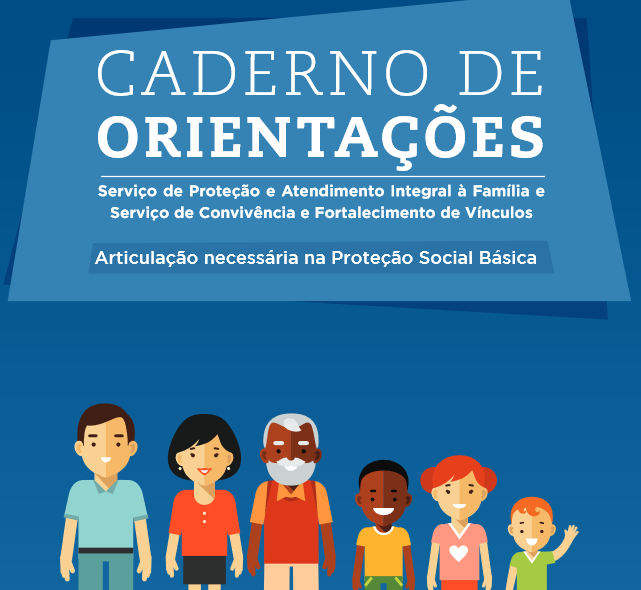
Para afinar ainda mais os serviços PAIF e SCFV, o MDS/SNAS lançou mais um caderno de orientações. Neste, o objetivo é discorrer sobre a importante e necessária articulação entre os serviços na PSB. De acordo com o MDS/SNAS, o presente documento pretende contribuir para as discussões acerca da organização e operacionalização do PAIF e do SCFV, fornecendo elementos para que gestores municipais e equipes da proteção social básica atuem conforme os conceitos e diretrizes estabelecidos nas normativas vigentes (grifo). Com esse intuito, o material está estruturado em dois eixos: a gestão territorial e a execução dos serviços (MDS,2015). É um documento com linguagem bem direta e didática quanto aos principais pontos da execução destes serviços, retomando questões dos cadernos já publicados pelo MDS. Vou ler tudo e tirar mais impressões. Mas considerando as nossas discussões nos debates ao vivo, já considero uma publicação pertinente porque poderá elucidar muitas dúvidas . BAIXAR – MDS – Caderno de Orientações -Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Articulação necessária na Proteção Social Básica. MDS, 2015. ou baixe pelo Site MDS. Boa leitura e bons estudos! 🙂
Jogos socioeducativos adaptáveis para o SCFV
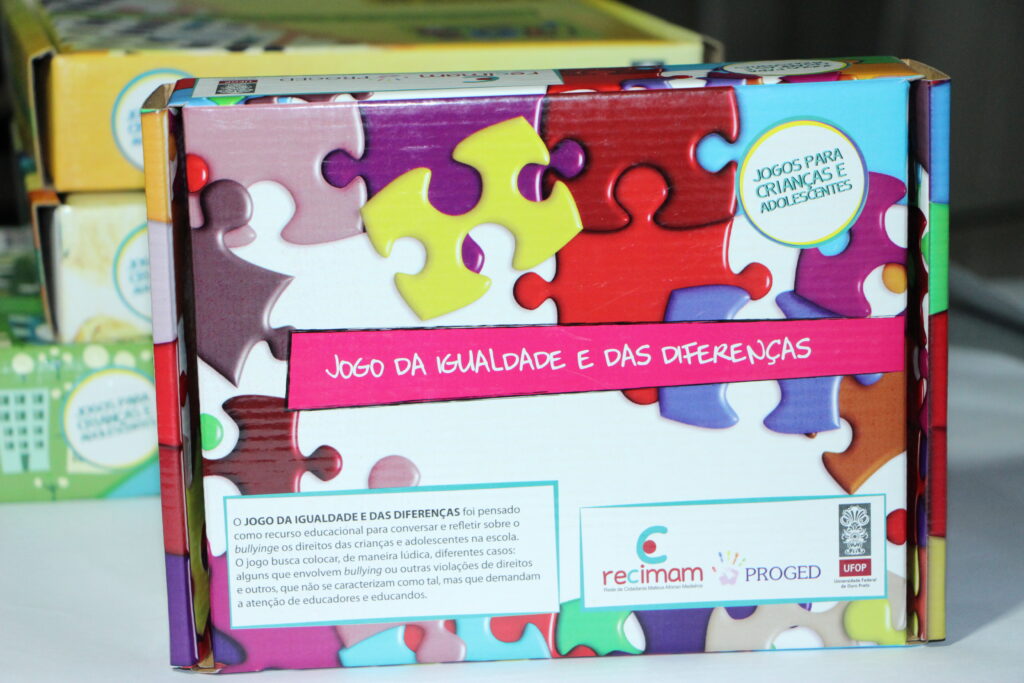
UPDATE – 23/06/2017: O site da Recimam está fora do ar, assim, os links para baixar o jogos estão indisponíveis. Infelizmente não há o que eu possa fazer ( eu apenas compartilhei o material), mas vou entrar em contato com a autora para ver se ela disponibiliza os arquivos por e-mail e se conseguir, atualizo novamente o Post. Obrigada pela compreensão! Rozana Oi pessoal, Conforme adiantei na fanpage, eu divulgo hoje quatro jogos educativos elaborados pela RECIMAM – Rede de Cidadania Mateus Afonso Medeiros e PROGEG – UFOP. Uma das autoras (grande referência profissional pra mim 🙂 ) a Prof. Drª. Lúcia Afonso me presenteou e apresentou os jogos, mostrando que ao adaptar a linguagem para o contexto do SUAS – SCFV, eles podem funcionar com uma ferramenta para trabalhar Cidadania, Direitos Humanos, prevenção e combate ao Bullying, Meio ambiente e outros temas . A intenção era fazer este post após o uso dos jogos nos grupos, mas como não estou mais no CRAS passarei para uma colega trabalhar com o orientador social do SCFV (depois eu volto aqui e escrevo a experiência). Para não atrasar mais resolvi postar mesmo que seja para apresentar o material a vocês e indicar onde vocês podem baixá-los para impressão. Sim! Os quatro jogos estão disponíveis para acesso e download gratuito. Eu encontrei um texto “O lúdico na Educação em Direitos Humanos” de uma das autoras dos jogos, Flávia Lemos Abade, onde ela diz o seguinte: ” Ao longo dos anos de 2011 a 2013, a equipe do Projeto de Extensão Oficinas de Direitos Humanos do Centro Universitário UNA produziu em parceria com o Programa de Educação para a Diversidade (Proged) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) quatro jogos. Foram eles: Jogo da Igualdade e das Diferenças (sobre bullying e direitos na escola), Trilhas da Cidadania (sobre direitos de cidadania, em uma perspectiva diversificada), Dominó dos Objetivos do Milênio (sobre os Objetivos do Milênio) e Siga o Lixo (sobre reciclagem e meio ambiente). Em 2013, com apoio material do Ministério da Educação (MEC) e da UFOP, esses quatro jogos receberam programação visual e foram impressos para serem distribuídos nas escolas públicas estaduais trabalhadas pelo Proged. Além de um folheto com regras, conteúdos e materiais, cada jogo incluiu um texto para educadores, abordando o seu uso em EDH”. Eu vou deixar que vocês acessem todo o material e demais referências lá no site da Recimam – Portanto, basta você clicar no título de cada foto abaixo para ir direto ao DOWNLOAD. 1. Jogo da Igualdade e das Diferenças (sobre bullying e direitos na escola) 2. Trilhas da Cidadania 3. Dominó dos Objetivos do Milênio 4. Siga o Lixo (sobre reciclagem e meio ambiente) Eu achei excelente a proposta destes jogos e acredito que a experiência com eles poderá ser bem proveitosa. E quem sabe as autoras não criam uma versão especial para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos? 😉 Meus agradecimentos a Prof. Drª Lúcia Afonso pelo presente e pela honra do encontro! Parabéns a todos os profissionais envolvidos neste projeto, também em especial a Flávia Abade que fez uma vista aqui estes dias e me deixou um recado carinhoso 😉 Site RECIMAM Referência do texto citado: Curso intensivo de Educação em Direitos Humanos – Memória e Cidadania 2014 / coordenação e apresentação Kátia Felipini Neves e Caroline Grassi Franco de Menezes ; textos João Ricardo Wanderley Dornelles … [et al.]. São Paulo : Memorial da Resistência de São Paulo : Pinacoteca do Estado, 2014. Acesso clique AQUI
Grupo da melhor idade? Quem foi que disse?
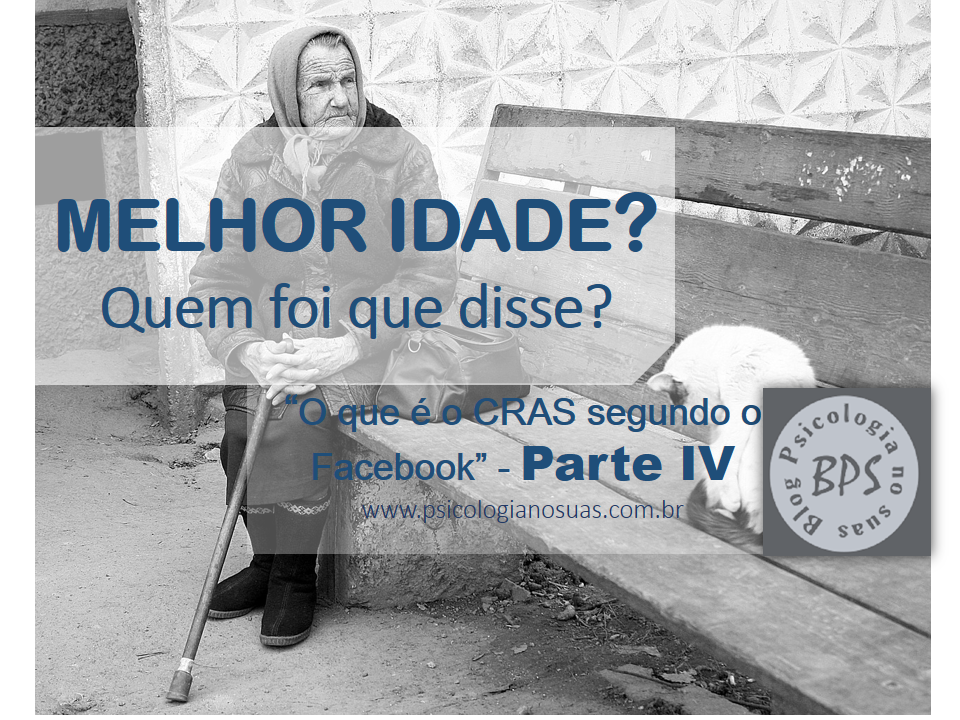
No penúltimo Post da série “O que é o CRAS segundo o Facebook”, vou tratar hoje dos discursos acerca dos idosos, públicos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoa idosa. Conforme já provoca o título deste post, quero convidar você a repensar essa ideia de que a velhice é a melhor idade. Então a vida começa aos 60, quem foi que disse? Mas já disseram que a vida começa aos quarenta. Quem foi que apagou as primeiras quatro décadas? “Quem foi que disse que a vida começa aos quarenta? (Biquini Cavadão – Zé ninguém) É compreensível que o termo “Melhor idade” seja reproduzido desmedidamente (e não me refiro apenas aos CRAS, CREAS, mas também a outras instituições, como reproduziram nas últimas semanas os perfis no facebook do Senado e do CNJ) porque soa afável e demonstra boas intenções daqueles que trabalham com este público nos serviços públicos ou privados. Mas sabemos que a bondade e a boa intenção não são garantias de um trabalho social capaz de romper com o assistencialismo e promover processos emancipatórios do sujeito. Tratar a velhice como a melhor idade é um romantismo raso que desqualifica a vida dessas pessoas e que tenta esconder as agruras do que significa ser velho numa sociedade que insiste que só há beleza e produção na juventude. Olha como caímos nas ciladas dos discursos. Quando tratamos os idosos como viventes da melhor idade estamos justamente banalizando sua vida atual, é como se o idoso deixasse sua bagagem para trás e entrasse desvestido em um portal onde ser velho significa viver no paraíso. Mas neste paraíso ele deixa de ser sujeito para se tornar uma massa, um coletivo. E os desejos, afetos, escolhas, projetos, sexualidade, sexo, trabalho, mobilização social, participação e inúmeras expressões da subjetividade? Isso é coisa da fase ruim da vida! No paraíso o que eles querem mesmo é dançar um forró e jogar dominó. É bom isso, assim eles esquecem as dores, sabe aquelas dores que andam? Que a cada hora estão numa parte do corpo? Isso é do idoso. Há aqueles idosos que se queixam desse “paraíso”, reclamam que é sempre o mesmo CD, o mesmo lanche, ou que faltou açúcar no café. Como pode? Ah, esses são os ranzinzas! Lembra que eu escrevi nos textos anteriores sobre a diferença de um trabalho social feito por profissionais com formação e daquele feito antes do SUAS, onde o trabalho (em sua maioria) era pontual e sem embasamento teórico, técnico e metodológico? É justamente esse ponto que me convoca a refletir sobre a reprodução de discursos equivocados por profissionais que deveriam pensar e agir diferente, criando novas formas de ver, compreender, tratar e trabalhar com os idosos. Nesta altura do texto você pode questionar: mas que alarde por conta de um termo! – se isso acontecer não fui capaz de provocar a reflexão esperada, mas quero reforçar que nossa prática é resultado do nosso discurso. Se o discurso não revela aliança com a emancipação, autonomia e protagonismo, como ser agente ético e político de mudança? Portanto, não é mais ético e construtivo deixar que cada um diga qual é ou qual foi sua melhor idade? No próximo e último texto desta série, farei sugestões de algumas formas mais assertivas de divulgação dos serviços do CRAS, CREAS, SCFV através do Facebook. Update Para ler todos os textos desta série, clique nos links: O que é o CRAS segundo o Facebook – PARTE I O que é o CRAS segundo o Facebook – PARTE II Oficinas no SCFV Grupo da melhor idade? Quem foi que disse? O uso das redes sociais pelos CRAS, CREAS e outras unidades do suas
Oficinas no SCFV

O que é o CRAS segundo o Facebook – Parte III Oi Pessoal, enfim saiu o Post sobre as oficinas no SCFV da “Série”: O que é o CRAS segundo o Facebook. Por favor, caso você esteja chegando hoje no Blog ou não acompanhou esta discussão, eu recomendo que você recorra aos dois Posts anteriores para se situar: O que é o CRAS segundo o Facebook – PARTE I — PARTE II – O que é o CRAS segundo o Facebook Fiquei de escrever sobre as minhas reflexões acerca das atividades e oficinas que ocorrem no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e sobre os discursos dos profissionais acerca dos grupos atendidos e sobre formas mais assertivas de divulgação dos serviços do CRAS através do Facebook. Bom, o reordenamento do SCFV, além de outros pontos, veio para enfatizar a necessidade de atender as pessoas, cuja natureza da vulnerabilidade ou risco social as colocam como prioritárias para a proteção social e para que a organização e execução do SUAS abarcassem de vez o PETI. Lembrando que o Programa foi lançado pelo Governo Federal em 1996 e sucessivamente o PETI foi ganhando forma nos Estados e Municípios. Portando o PETI tinha “vida própria” antes do SCFV, e as ações dele então, precisavam ser incorporadas ao SUAS, assim como a sua gestão foi incorporada na Proteção Social Especial. O SCFV, pelo que vemos nas divulgações na rede social – pontuando as atividades mais recorrentes e comuns – é uma oportunidade para as crianças e adolescentes realizarem atividades esportivas e para a pessoa idosa realizar artesanato e dança. Aí você pensa: é mesmo, mas o que é que isso tem demais? Se você não leu, sugiro a leitura deste texto: PARTE II – O que é o CRAS segundo o Facebook para alguma compreensão dos equívocos evidenciados na reprodução destas atividades. Não teria problema se o Município estivesse construindo ou aprimorando agenda para as políticas públicas voltadas ao esporte, cultura e lazer em um formato aberto para população em geral e não apenas aos estudantes. Os Municípios têm secretarias ou departamentos voltados a estas políticas, mas por que não funcionam? E é a assistência que vai ofertar esta política? Mas nem seria ofertar, pois trata-se de atividades sem planejamento neste âmbito e sim tratadas como oficinas para cumprir os objetivos do SCFV. É bom lembrar que atividades de esporte, cultura, artes fazem parte da formação do sujeito e da vida em sociedade, portanto, independente da condição de vínculos familiares ou comunitárias, todo cidadão tem o direito de acessar essas políticas em qualquer fase de desenvolvimento. Portanto isso deve ser política pública implantada no Município e não a secretaria de assistência social suprir essa lacuna com ações compensatórias. Compreendo que quando essa demanda existe e a oferta é identificada na assistência social como necessária, é porque a política de esporte, cultura e lazer é inexistente, está precária ou desarticulada no Município e portanto há a desproteção do cidadão e então, em vez de mobilizarmos a comunidade e a gestão para que se organize esta política vamos ofertar estas atividades? As quais acabam ocorrendo em redundância e às vezes “disputando” o mesmo público? As oficinas de cunho esportivo, cultural, artes podem sim serem recursos meios mas não como fim para alcance dos objetivos do serviço, e nem serem por si só caracterizadas como SCFV. Vemos as unidades encaminhando a criança ou adolescente para a “aula” de futebol, de dança, de teatro e não para o SCFV. É aí que está a questão! Também é sabido que muitas entidades que ofertam estas atividades são acionadas pelos CRAS, orientados pela gestão, para inserir os usuários no SISC (Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) sem ao menos passar pela equipe técnica do PAIF. Cadastrar esse público no CRAS não significa acompanhar. E será que todo mundo é vulnerável e precisa fortalecer os vínculos? Como saber se tem sentido o encaminhamento para aquela família e seus membros sem as ações do PAIF? Vocês já pensaram nos usuários inseridos no sistema? Eles ficarão quanto tempo lá? O serviço é realizado por percurso e deve ter planejamento com início meio e fim, mas se não há esse planejamento e acompanhamento, como ter as informações sobre os impactos sociais e saber a hora de atualizar o sistema? Lembrando que esta inserção no sistema tem a ver com o a capacidade de atendimento informada pelos Municípios ao MDS, a qual muitas vezes foi feita sem diagnóstico real da demanda e sem debate com os técnicos e rede de serviços. O SCFV é complementar ao PAIF, então ele necessariamente deveria estar alinhado com o acompanhamento familiar, monitoramento e avaliação. Acionar o técnico de referência do serviço para dar uma palestra para os pais ou usuários não conseguirá atingir os objetivos do SCFV. Pois bem, acabei citando vários pontos – posteriormente vamos debatendo e ampliando essas ideias. Então, para que possamos identificar o grau de equívocos e necessidades de aprimoramento do SCFV, eu sugiro as seguintes perguntas e reflexões sobre as oficinas? O seu Município tem Secretaria ou Departamento de Esporte, Cultura e Lazer? Você (Técnico, Coordenador de CRAS, Coordenador/gerente da PSB, Gestor) já se reuniram com eles para articular agendas de trabalhos? A inserção dos usuários ao SCFV acontece desarticulada do PAIF? A equipe técnica do PAIF conhece todos os usuários do SCFV e suas famílias? O técnico de referência do PAIF, com atribuição de técnico de referência do SCFV tem condições (devido as demais atividades) e é suficiente para articular, planejar e orientar os trabalhos dos orientadores sociais do SCFV? O SCFV para a pessoa idosa apenas reproduz o que as entidades religiosas e de comunidades já realizavam? (Esta pergunta deve ser contextualizada com a leitura do Texto II) O SCFV para a faixa etária de 18 a 59 está atendendo as pessoas com deficiência e as demais prioridades? Faça estas perguntas quanto a execução do SCFV em seu Município para que você possa analisar e ver se esse texto reverbera algum sentido no seu contexto.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV TOP 10 #03

Hoje tem mais um Post do TOP 10 Blog Psicologia no SUAS. No texto #03, trago os materiais (com atualização dos Posts anteriores) referentes ao reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, pois este assunto ainda é permeado de muitas dúvidas. O SCFV estava tipificado desde 2009, então para facilitar a compreensão é importante tratar o reordenamento como uma instrução de operacionalização/execução deste serviço, principalmente quanto ao público prioritário, além é claro, dos avanços positivos como a mudança na lógica de financiamento, dando maior autonomia e flexibilidade aos Municípios para organizarem o serviço de acordo com o público mais recorrente. Vale considerar também a mudança quanto ao público atendido, pois foi incluído o público de 18 a 59 anos, o que alterou a Tipificação através da Resolução nº 13 de 2014. Quanto a este público é importante frisar, novamente, a importância de se trabalhar com o público prioritário. É sempre bom perguntar: quem realmente se encontra em situação de vínculos familiares/sociais fragilizados está inserido no SCFV? a prática nos mostra que nem sempre está frequentando e é por isso que devemos ficar atentos e não ir “lotando” os grupos com todos os sujeitos que acolhemos na unidade. É preciso estudar os casos, identificar verdadeiramente a demanda dos usuários e das famílias. É sabido que nos é exigido muito mais do público que mais precisa, mas que menos acessa os serviços do que daquelas famílias que buscam o serviço e expressam com mais facilidade suas necessidades e potencialidades – esta é uma das razões de se ter equipe de referência no PAIF e PAEFI. Portanto, repense as formações dos grupos, será que um grupo cheio é sinônimo de pleno funcionamento do SCFV? estão atendendo o público prioritário? Se atente para a diferença entre público do serviço e público prioritário. Quais são as situações prioritárias para o atendimento no SCFV? Segundo a Resolução CIT nº 01/2013 e a Resolução CNAS nº01/2013 considera-se público prioritário para a meta de inclusão no SCFV crianças e/ou adolescentes e/ou pessoas idosas nas seguintes situações: Em situação de isolamento; Trabalho infantil; Vivência de violência e, ou negligência; Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 anos; Em situação de acolhimento; Em cumprimento de MSE em meio aberto; Egressos de medidas socioeducativas; Situação de abuso e/ou exploração sexual; Com medidas de proteção do ECA; Crianças e adolescentes em situação de rua; Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. Bom, feito estas considerações, relaciono abaixo os links para vocês acessarem os materiais sobre o Reordenamento e sobre SCFV em geral: ( Clique no Título para baixar os documentos) 1 – Resolução nº 01, de 21 de Fevereiro de 2013, que “Dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS 2 – Passo a Passo – Reordenamento SCFV 3 – Reordenamento do SCFV pela Subsecretaria de Assistência Social de MG ( vídeos de uma capacitação realizada pela SUBAS- MG, os quais Joanita Pimenta detalha e explica muito bem sobre as mudanças – Agradeço a Sedes pelo pronto atendimento ao liberar novamente os vídeos!) 4 – Resolução CNAS Nº 13, de 13 de Maio de 2014. Inclui na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, a faixa etária de 18 a 59 anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 5 – Slides do MDS (disponíveis na Internet) sobre o reordenamento ( para gestores do SUAS e técnicos em geral) Slide Reordenamento SCFV Apresentação Reordenamento SCFV histórico com PETI Apresentação Reordenamento SCFV 23102012 6 – Perguntas e Respostas sobre o SCFV – MDS ( Ótimo material para tirar as dúvidas. Tenho certeza que muitas das suas dúvidas serão sanadas através da leitura deste material realizado pelo MDS) 7 – Teleconferência mais recente que aborda o SCFV como complementar ao trabalho social com famílias e prevenção das situações de vulnerabilidade ( 2014) 8 – Teleconferência ( MDS e NBR) sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ( 2013) 9 – Cadernos de Orientações SCFV e PETI 10 – O PETI não acabou, seria muito bom se isso fosse verdade! ( texto que discorro sobre os entendimentos equivocados acerca do reordenamento e do PETI) 11 – Caderno MDS: Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (2014) —————————– Boa leitura! Se achou interessante, compartilhe com seus colegas de trabalho! Nossa fan page: facebook.com/PsicologianoSUAS Acompanhe os demais Posts da série TOP 10 do Blog: 1 – #01 Indicação de Leitura para atuação no SUAS ( encontre mais de 90 sugestões de materiais sobre Cras, Creas…) 2 – #02 Atividades com Idosos no PAIF – SCFVI – PAEFI ( encontre sugestões de materiais e experiências com grupo de idosos) Até breve!