Inovações metodológicas para o trabalho social com famílias
Com este blog sempre tive a alegria potente de dividir os materiais com os quais esbarrava nos percursos de minhas pesquisas e etudos. Penso que conhecimento é para ser dividido e não escondido para pertencer a poucas pessoas. Quanto mais divido, mais eu aprendo! E quando um material tem uma contribuição minha? A felicidade é dobrada! O texto é uma revisão e reedição em parceria com a Janice Merigo, do texto originalmente publicado aqui no Blog. Então, este, especialmente, pode não trazer tanta novidade para quem é leitor assíduo aqui, mas, trata-se de um caderno de textos com as demais formadoras do Projeto Inovações metodológicas para o trabalho social com famílias – Edição Litoral Norte Paulista* e portanto, garanto que vale muito a pena a leitura! Obrigada especial à Janice Merigo por fazer o texto ganhar tantas escutas no projeto, levando-o à consolidação neste caderno. Também agradeço ao NECA, na pessoa da Ângela Maricondi por ser tão acolhedora e permitir que meu texto e meu trabalho chegue a mais pessoas contribuindo com o aprimoramento do trabalho social com famílias. *Uma realização do NECA/Associação de Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente, com patrocínio do Programa Petrobrás Socioambiental e em parceria com a SEDS/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo e as SecretariasMunicipais de Assistência Social de Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião. Boa leitura e bons estudos!
Da solução partilhada ao acolhimento: o profissional do SUAS no combate ao novo coronavírus
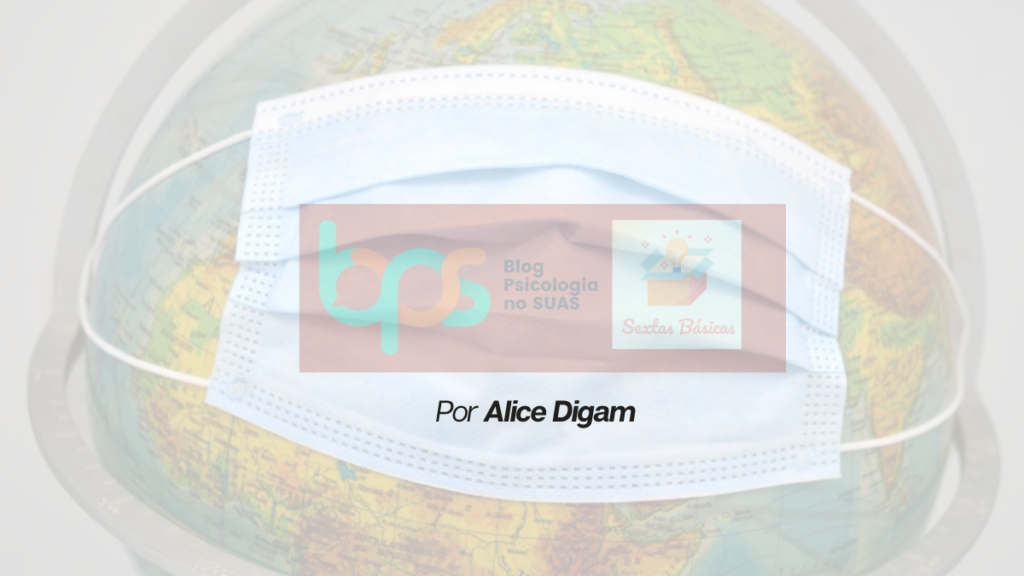
Por Alice DiGam* Numa sociedade complexa e globalizada — em que o invisível coronavírus nos obriga unir, reunir, estudar, trabalhar e refletir sobre o sentido de todos nós juntos — descobrimo-nos seres em coexistência, ainda que vivamos modelos hierárquicos, com ênfase na relevância profissional e no status econômico. Bem da verdade, haveremos de nos descobrir, em breve, multiprofissionais metidos em uma rede interdependente de saberes e cujo ponto de culminância será o conjunto de soluções oferecido à comunidade. Eis aqui, também, nossa aposta. Momento oportuno para a valorização de conhecimentos não institucionais, de profissionais, de trabalhadores e de cidadãos comuns sob uma nova perspectiva: tanto as práticas arroladas nas listas de serviços essenciais para a população em detrimento do isolamento social, visibilizando assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, coveiros, médicos entre outros profissionais, quanto sujeitos invisíveis que vêm se arriscando cegamente para sobreviver, a exemplos de faxineiros, cozinheiros, motoristas, motociclistas e ciclistas na função de entregadores de produtos em domicílio. É igual modo importante mencionar o onde estamos, recuperar no discurso o território dentro do qual uns são forçados a manter os pés isolados do contato com o outro enquanto outros são obrigados a encarar o front. Ocupar um lugar no espaço brasileiro, feito da somatória de povos, de diferentes culturas, de biomas os mais diversos, fatiado em divisões administrativas invisíveis, mas que determinam modos de fazer e gestar as políticas públicas, as locais e as de caráter nacional. Falar sobre o que nos distingue socioterritorialmente — na perspectiva da Vigilância Socioassistencial — implica discorrer sobre os reflexos da gestão da Política de Assistência Social e do SUAS, em especial, de município para município e de estado para estado ou vice-versa. Nesse sentido, significa encarar o fato de que vivenciamos gestões mais ou menos consolidadas, mais ou menos equipadas, mais ou menos preparadas para enfrentar a crise sanitária associada ao novo coronavírus. Às vezes mais, às vezes menos. A Vigilância Socioassistencial é um setor do SUAS, no âmbito da gestão da Política de Assistência Social, capacitado para elaborar diagnósticos socioterritoriais, prever e antecipar a ocorrência de riscos sociais, mitigar situações de alta complexidade instaladas, entre outras situações, de modo a garantir maior assertividade na tomada de decisão pelo seu corpo gestor e conduzir a operação das atividades. Aqui uma realidade que não correspondente àquilo que se assiste em municípios brasileiros; mesmo aqueles que dispõem de um setor oficial,e do ponto de vista do trabalho técnico operativo, uns funcionam aqui e ali melhor e outros aqui e ali pior. Se inconstante e titubeante e desencontrada a oferta de um benefício assegurado, será ainda possível falar em política pública? É preciso sublinhar a prevenção como hábito muito mais barato e eficiente do que a atuação na alta complexidade. Isso serve para o SUAS, para o SUS, para todos; é premissa para a vida. O mesmo se aplica tanto para os municípios que possuem Plano de Redução de Risco de Desastres (PRRD) quanto para aqueles que não o possuem. Certamente, quem passou por situação de calamidade pública e/ou elaborou seu PRRD deve ter ampliado seu repertório e até aumentado a capacidade de respostas a situações calamitosas possíveis — é o que foi denominado “cidade resiliente” e 59,4% dos municípios brasileiros ainda não possuem um para chamar de seu (IBGE, 2020). Na esteira dos saberes apreendidos, um sábio como Morin é capaz de afirmar que “as certezas são uma ilusão”, que não basta ter um plano, não basta instalar um setor de Vigilância, são fundamentais capacidades objetivas para implantá-los, além do reconhecimento de que o aprendizado depende de trocas realizadas no dentro da experiência. Os planos, as elaborações e as reelaborações de diagnósticos, de ações, de composição de atores e de funções tratam, exatamente, disso. Método análogo foi adotado no âmbito da Organização Mundial de Saúde (OMS), humilde em reconhecer que não tem respostas concretas para todas as dúvidas que se colocam. A agência acompanha a evolução da pandemia — país a país, dia a dia — e está altamente envolvida com os investimentos em prevenção, mitigação e pesquisas para descoberta da cura para a doença. Tudo dito sustentado nos saberes que são aprendidos rotineiramente, a partir das circunstâncias relatadas pelos países membros e pelos achados de pesquisas. Mas qual o ponto que nos une hoje? Planejar a atuação profissional no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que, por sua vez, é transversal e perpassa outros sistemas e políticas públicas, ainda que pouco homogêneo na sua manifestação operativa a maneira de um sistema único. O que deveríamos fazer ou saber e saber fazer, considerando que passaremos por uma calamidade advinda de uma pandemia associada a uma crise sanitária? “Se preparar para o pior e esperar pelo melhor” escreveu Ana Claudia Quintana Arantes, médica geriatra, especialista em cuidados paliativos, PhD no cuidado humanizado do outro e que tem por profissão e escolha acompanhar seus pacientes até o momento de suas mortes. Aquela profissional da saúde que contrapõe a afirmação de Morin pela única certeza que podemos tirar da vida. Os trabalhadores do front, assim como o trabalhador do SUAS, devem estar conscientes dos fatos, devem estar informados, acompanhar a agenda de notícias, inteirar-se da legislação e normativas vigentes, assim como compartilhar com equipes e gestores aquilo que apreendem e observam. Contudo, é precioso filtrar as informações, fontes de dados e conteúdos. A enorme quantidade de lives, artigos, notícias de jornal, blogs, sites, cursos etc., podem repercutir efeitos paralisantes ou pior, polarizar a opinião entre o certo e o errado, o preto e o branco, como se não existissem cinzas na paleta de cores. A realidade para os trabalhadores do SUAS está pelo avesso. Ainda que já considerada a frágil infraestrutura para realização dos trabalhos — insuficientes os recursos humanos, os equipamentos, o orçamento, a remuneração, a formação continuada, há uma avalanche de grandes novidades. Pela primeira vez na história, o profissional do SUAS foi catapultado para o posto de profissional estratégico na área da saúde. Pela primeira vez na história, a sociedade foi
8 Propostas de ações na Assistência Social sobre o Dia Internacional da Mulher
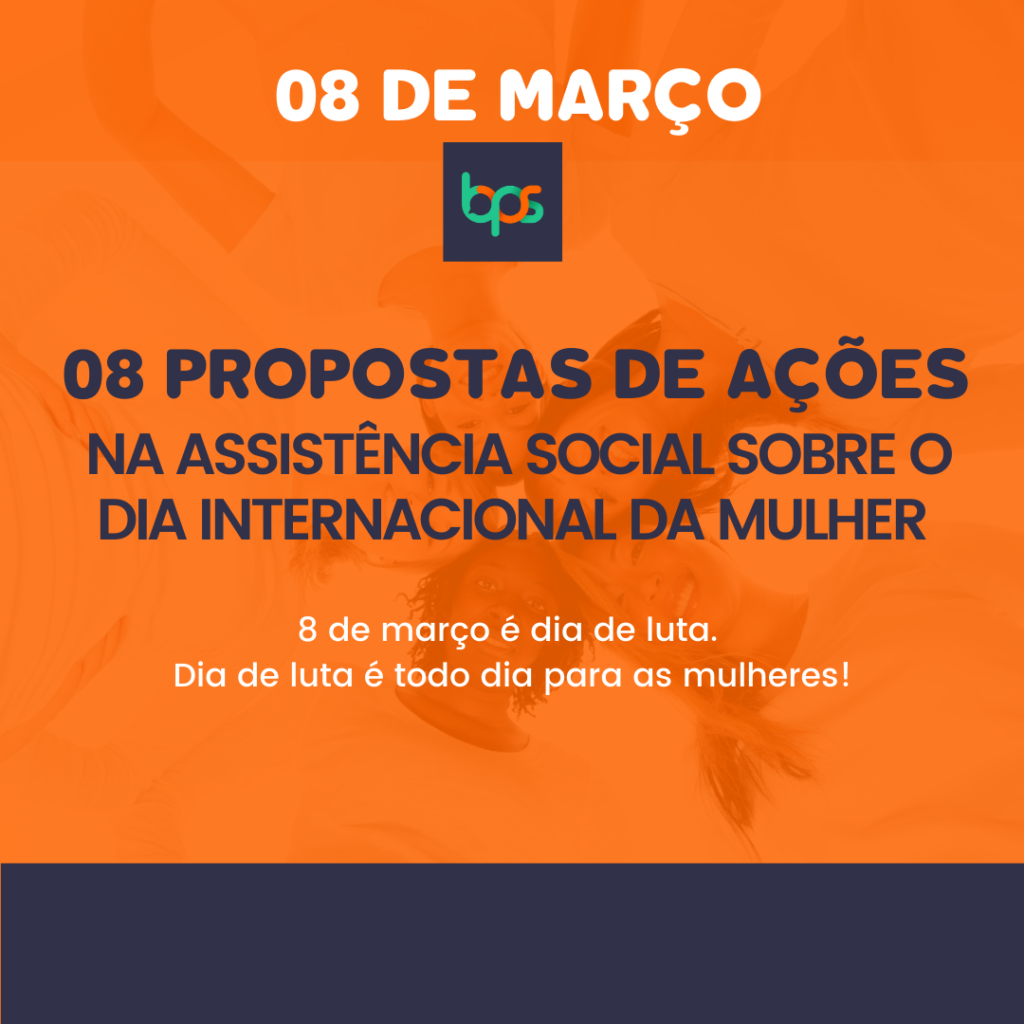
O dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Começo este texto desfazendo uma equivocada ideia acerca da origem dessa data, espalhada por vários meios de comunicação, principalmente textos pela internet e jornais físicos ou digitais. A explicação comumente dada é que se trata de uma data que faz referência ao incêndio ocorrido no dia 25 de março de 1911 na Triangle Shirtwaist Company, em Nova York, onde 146 pessoas morreram, em sua maioria mulheres. Eu aprendi que essa não é a verdade sobre esta data, a qual tem um cunho muito mais político e social do que a população insiste em negar. Aprendi com a socióloga Eva Blay ao ler seu ensaio 8 de março: Conquistas e Controvérsias, em meados de 2012, quando divulguei este artigo no blog e propus um debate acerca das atividades que são feitas nas unidades da Assistência Social em alusão a esta data. Por algum motivo este texto foi perdido e só tem o vídeo da transmissão on-line que fiz através do Youtube (se você quiser conferir pode ir lá no Canal, mas lembre-se que se trata de um vídeo ao vivo, então reserva um tempinho e um caderno para anotar as poucas partes relevantes 😊). Para Eva Blay o dia fora proposto por Clara Zetkin já em 1910, sendo possível inferir que decorrida a tragédia se potencializou a necessidade de discutir as precárias condições das mulheres em relação ao trabalho. Sendo, portanto, uma data que marca as lutas das mulheres por igualdade de direitos. O Dia Internacional da Mulher só foi oficializado em 1975, pela ONU, lembrando suas conquistas políticas e sociais. No Brasil, é evidente uma menção comercial da data e uma alusão rasa ao ser mulher. Normalmente são atribuídos adjetivos que em nada colaboram com as lutas políticas e sociais das mulheres: forte, guerreira, edificadora do lar, educadora… A lista é bem extensa, mas estes adjetivos já ajudam com a reflexão de como essa data é tratada com um viés liberal e comercial. Vale, portanto, reforçar que a data 08 de março é fortemente atrelada às lutas dos movimentos sociais e feministas. Então, chegou a hora de marcar o objetivo deste texto: fazer com que as profissionais das equipes do SUAS e de outras políticas públicas que passarem por aqui, reflitam e mudem a perspectiva sobre esses eventos em referência ao dia 08 de março que são comumente realizados nos serviços e comunidade como dia da beleza, palestra de autoestima e atividades que reforçam a ilusão de mulher guerreira. A Política de Assistência Social tem um significativo apelo às mulheres e sabemos como é fácil reproduzir desigualdade de gênero ao invés de combatê-la, portanto, faz-se necessário refletir que se esse tema fosse tratado como agenda ao longo do ano, as equipes não teriam muita dificuldade em propor atividades mais politizadas e fecundas. Assim, a proposição aqui é que se trabalhe ao longo do ano temas em relação aos direitos das mulheres e inclusive contemplando as meninas (crianças e adolescentes) dos serviços, visando agregar atividades e superar aquelas que mencionei como rasas e meramente comerciais. Não é demais pontuar que cada atividade deve ser avaliada conforme o contexto de cada microrregião e que essa lista só tem como meta ser um disparador de ideias e mostrar o quanto se pode fazer muito mais do que esses eventos superficiais, inconsistentes e de que em nada reivindicam posicionamento teórico-técnico das profissionais do SUAS. Sugestões de atividades politizadas para o dia 08 de março nos CRAS, CREAS e demais unidades de serviço da Assistência Social: Formação das trabalhadoras/res do SUAS A gestão precisa contemplar a formação sobre gênero no rol das capacitações promovidas pela Educação Permanente – EP e sabendo que as mulheres formam a maioria das equipes que gerenciam e operacionalizam o SUAS (este que tem as mulheres como a maioria das participantes), faz-se urgente problematizar e formar novas possibilidades de leituras e intervenções no contexto contraditório da proteção social no campo da Assistência Social e das demais políticas transversais. Cabe, então, considerar o fato de que as duas profissões mais presentes na Assistência Social são “femininas”: a Psicologia tem 89% de profissionais mulheres e o Serviço Social é composto por 93,7% (dados PNAD 2007). Destaco que a falta de implementação da PMEP não deve inviabilizar atividades destinadas às mulheres trabalhadoras do SUAS, assim, pode ser realizada uma Palestra ou Oficina sobre movimentos sociais feministas; sobre mulheres e relação com o trabalho de cuidar, este muito atribuído ao feminino. 2) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Momento para realizar um evento no formato de Fórum ou outro mais adequado a cada realidade e possibilidade, sobre a formação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e no caso do mesmo já estar implantado, vale um evento para avaliar seu funcionamento e como está seu alcance junto a sociedade e instituições públicas e privadas. Bom lembrar que seria um excelente momento para avaliar e monitorar as deliberações da última Conferência Municipal. 3) Movimentos Sociais e as Conquistas Femininas Oportunidade para discutir o alcance dos direitos políticos e sociais das mulheres ao longo da história do Brasil, principalmente no século XX e como as mulheres podem refletir sobre os lentos avanços e necessidade de mais mobilização para que a condição da mulher na sociedade continue sendo transformada em direção a igualdade de gênero. Considero interessante aproveitar o evento para evidenciar mulheres que foram/são fundamentais nas lutas de emancipação e visibilidades dos direitos das mulheres, bem como daquelas que lutam denunciando as desigualdades ainda tão arraigadas na sociedade. Estou fazendo uma lista das mulheres e projetos feministas que me inspiram e em breve divulgo aqui com vocês! Você pode trocar o dia da beleza pelo dia de homenagens às mulheres que fazem a diferença no seu território! 4) Mulher e Maternidade Atividades como Rodas de Conversa e Oficinas são uma boa opção metodológica para tratar desse tema com as usuárias dos serviços. Como essas mulheres vivenciam o cuidado com os filhos ou com a
Atendimento psicossocial ou interdisciplinaridade na assistência social?
Quando iniciei, em 2009, meu trabalho no CRAS eu fui orientada que os atendimentos eram psicossociais. Eu achei ótimo, uma vez que eu já conhecia a abordagem psicossocial. Mas com o passar do tempo e com o desenvolvimento da minha capacidade de observação e análise do que se fazia nos serviços e principalmente o estranhamento quanto ao sentido que as pessoas davam ao termo psicossocial, eu descobri que algo estava equivocado. A ideia de que o atendimento é psicossocial nos serviços (PAIF, PAEFI e nos demais serviços da Assistência Social) foi propagado como atividade conjunta da psicóloga com a assistente social – Escreva o primeiro comentário quem nunca pensou assim ou ouviu tal afirmativa em reuniões com gestores, coordenadores, em atividades oficiais ou bastidores em congressos, seminários e teleconferências do MDS. Para escrever este texto percorri todos os principais cadernos oficiais de orientações técnicas e não encontrei o termo psicossocial como é entendido nos serviços da Assistência Social. Então por que esse conceito ganhou tanta força? Talvez porque para as assistentes sociais estava marcado que o trabalho era conjunto com o profissional de psicologia, enquanto que para a psicóloga era o argumento que desbancava qualquer proposta terapêutica/psicológica. Para os gestores/coordenadores pode ter sido a maneira mais fácil de entender e passar a ideia do trabalho coletivo nos serviços aos membros das equipes. Minha análise direciona para a proposição de que o “psicossocial” passou, equivocamente, a assumir um lugar que deveria ser o da defesa do trabalho interdisciplinar. Interdisciplinariadade no SUAS é tomada como diretriz para toda metodologia de trabalho adotada, ou seja, é prevista como base para o desenvolvimento dos processos de trabalho com as famílias e com o território. Como o atendimento na Assistência pode ser psicossocial (como proposta de intervenção de duas profissões) se as equipes dos serviços são compostas por múltiplas profissões? Como juntaremos os profissionais da Pedagogia, da Terapia ocupacional, do Direito, da Sociologia, da Antropologia e dos demais previstos na Resolução nº 17 de 2011? A resposta é o campo da interdisciplinaridade – Veja o tabela interdisciplinaridade- psicossocial – porque este é o preceito para a atuação técnica nos serviços, no trabalho social com famílias. É este termo que encontramos nas principiais normativas técnicas dos serviços que compõem a rede socioassistencial. Mas porque ele não viralizou como o psicossocial? Será por que os serviços foram implantados com a presença mais numerosa dos profissionais das categorias do Serviço Social e Psicologia? Seria uma explicação muito simples e objetiva, por isso eu tenciono para a ideia de que a interdisciplinaridade é ainda campo desconhecido ou não praticado pelos profissionais, os quais estão atuando mais na lógica multidisciplinar. Considero relevante afirmar que atendimentos – ações particularizadas ou visitas domiciliares, em dupla não significa que o trabalho está sendo interdisciplinar. Bem como ao postular que o trabalho tem base na interdisciplinaridade não se está dizendo que a única maneira de fazê-lo é por meio da dupla. Escreva o segundo comentário quem nunca ouviu: “fulana é minha dupla” “eu amo a minha dupla”! Trabalho interdisciplinar requer, sobretudo, um rompimento de paradigma. Para exercer a interdisciplinaridade é preciso romper com a ideia de que os problemas podem ser subdivididos em categorias, onde para cada situação haveria um especialista. As situações de vulnerabilidades e riscos sociais são compostas por multidimensões e qualquer tentativa de dissecá-las para eleger qual parte pertence a um determinado conhecimento, quebra-se as interconexões e as complexidades que as constituem. Família, território, violência, institucionalização, são temas complexos e para questões complexas, respostas complexas. Tendo compreendido que o termo psicossocial está sendo usado de forma deslocada e esvaziada, espero ter contribuído para que você abra essa roda e deixe chegar os demais saberes. No próximo texto apresentarei o conceito psicossocial como abordagem metodológica, tendo como campo teórico a psicologia social e comunitária, além de referenciar alguns livros sobre a intervenção psicossocial. Instagram do Blog: @psicologianosuas Facebook: Blog Psicologia no SUAS Acesse o Texto II: Abordagem psicossocial e a práxis na Assistência Social
Preconceito de quem? Algumas inquietações sobre as relações entre trabalhadores e usuários no SUAS

Por Lívia Soares de Paula* Em dezembro do ano passado, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) lançou em parceria com o Fórum Nacional de Usuárias e Usuários da Assistência Social (FNUSUAS), durante a XI Conferência Nacional de Assistência Social, a “Campanha de Combate ao Preconceito contra a Usuária e o Usuário da Assistência Social”. Na ocasião, foi apresentado o primeiro vídeo da campanha. Segundo informações do site do CFP, a iniciativa tem por objetivo: provocar o debate sobre questões que perpassam diariamente a vida das pessoas que acessam os benefícios, programas e serviços da Assistência Social. A responsabilização individual pela situação de pobreza, a acusação de vagabundagem e visão de que a situação de vulnerabilidade social é resultado de escolhas são algumas delas.[2] Dando continuidade às ações da campanha, foi realizado um Diálogo Digital intitulado “Vergonha não é ter direitos, vergonha é ter preconceito”.[3] Assistindo a este Diálogo, me vi desafiada a dividir com vocês neste espaço algumas reflexões que me ocorrerem a partir das falas dos convidados. A primeira questão que me ocorreu, a meu ver, revela uma possível contradição. Ao receber a divulgação do Diálogo, de pronto pensei: “preciso ver este evento, ouvimos falar e falamos tão pouco deste assunto”. No entanto, enquanto assistia, me vi pensando no quanto falamos sobre os usuários: “fulano não adere”; “não tem jeito com essa família”; “será que está me contando a verdade?”; “a gente tenta de tudo, mas eles parecem não querer ajuda” … Essas, dentre diversas outras, são frases muito comuns em nosso cotidiano de trabalho. Em minha percepção, estaria aqui revelada a contradição: falamos pouco sobre o assunto ao mesmo tempo em que falamos muito sobre os usuários. Muito sobre aquilo que eles não conseguem e sobre as angústias que o contato com eles nos traz. E foi esta constatação que me desafiou a abordar o tema aqui, para que possamos juntos lançarmo-nos algumas indagações sobre nossa prática junto ao público da Política de Assistência Social. Um dos pontos importantes e que podem nos apontar indicativos da direção na qual temos caminhado em nossa atuação no que tange a este aspecto, diz respeito à participação dos usuários nas esferas de Controle Social. Os usuários de seu município participam efetivamente dos conselhos de direitos? Sabem o que são estes conselhos? Estão presentes nas conferências? De que forma esta questão é tratada pela gestão e pelos técnicos do equipamento em que você está inserido? Junto a isso, precisamos nos perguntar também sobre como temos conduzido o acompanhamento das famílias que atendemos. Qual é o lugar que as famílias ocupam neste acompanhamento? Como é a construção das estratégias de trabalho em cada situação? Quem participa? Quando temos que redigir algum documento sobre o trabalho realizado, as famílias têm sido consultadas? As respostas a cada uma destas perguntas nos auxiliarão na identificação do cenário no qual estamos trabalhando. Talvez sejam suscitadas novas interrogações. A partir daí tornar-se-á possível falarmos sobre o trabalho junto aos usuários, de forma séria, comprometida e responsável. Na minha percepção, infelizmente, ainda estamos longe disto. Longe disto porque nosso discurso ainda está concentrado em um “sobre o usuário” que, na maioria das vezes, não inclui um “com o usuário”. E não podemos negar que este discurso “sobre o usuário” está, em muitas circunstâncias, carregado de preconceito. Isto posto, constato que, diante da campanha que norteia este texto, é impreterível que nos indaguemos: Preconceito de quem? E quando o preconceito parte de nós mesmos, trabalhadores do SUAS? Esta foi uma das questões levantadas no Diálogo realizado pelo CFP. E é de fato uma questão delicada: será possível trabalhar o preconceito da sociedade em relação aos usuários sem antes trabalhar os nossos próprios preconceitos? Será que nosso discurso sobre o usuário nos aproxima ou nos distancia dele? Para refletir um pouco mais sobre isto, proponho que façamos um exercício. Suponhamos que, depois de compartilharmos nossa história com uma pessoa, presenciemos esta mesma pessoa conjecturando e lançando hipóteses sobre o porquê agimos de determinado modo e não de outro, o porquê temos determinadas dificuldades. Sem nos consultar, a pessoa está dedicada a construir uma teoria sobre nós. Suponhamos que, após este momento, a pessoa traga ao nosso encontro (ou seria ao nosso confronto?), de forma pronta, as “soluções” que ela está certa que resolverão as dificuldades que compartilhamos. Como nos sentiremos? Não raro, é esta a atitude que temos frente aos nossos usuários. Fazemos conferências para deliberar sobre ações direcionadas a eles, sem que eles estejam efetivamente presentes. Individualizamos e psicologizamos suas dificuldades, esquecendo as especificidades de cada contexto em que estão inseridos. Não ouvimos suas vozes. Desmerecemos o que eles nos apresentam. Não valorizamos o seu saber. Neste momento, estamos servindo a quem? Sem ações emancipatórias legítimas, engrossamos o caldo da benevolência, da caridade, da assistência social como “favor”. Já vivenciei e me incomodei muito com situações nas quais o usuário nos agradece por aquilo que fizemos “por ele”. Cada vez que um usuário me agradece por aquilo que fiz “por ele”, me questiono: será que não consegui, de novo, fazer “com ele”? Volto ao Diálogo Digital instigador deste texto: estamos conseguindo trabalhar junto aos nossos usuários a noção de que não é vergonha ter direitos? Muito já foi dito sobre o quanto a Política de Assistência Social nos convoca a repensar nosso papel enquanto profissionais. E os desafios frente a este assunto também nos convocam a prosseguir repensando. Nosso suposto saber precisa ser deixado de lado. Ele nos coloca distantes dos nossos usuários. O saber que pode ser fermento para a emancipação precisa ser construído no entre, na relação que estabelecemos com as famílias que atendemos. Nesta relação não pode caber verticalidade. Sobre a escuta das pessoas atendidas na Política de Assistência Social, Silva (2014) afirma: […] Uma escuta que dê voz, que revele, realmente, a expressão da palavra aos sujeitos de sua história […] É importante que seja um espaço onde o protagonismo assuma seu efetivo exercício político de cidadania na complexa trama das relações sociais. (p.153) Sendo
Visita Domiciliar no SUAS
Parte I – Introdução ao tema e questionamentos iniciais Estava devendo este texto há um tempo, desde que publiquei o texto referente a busca ativa. O qual eu recomendo a leitura antes de ler este acerca da visita domiciliar (VD). (Acesse aqui “Busca ativa: estratégia para o Trabalho Social com Famílias”) Para você que deixou pra ler o texto indicado depois 😉 , vou só pontuar aqui que a Busca Ativa é diferente da visita domiciliar. A visita domiciliar pode ser uma estratégia para a realização de uma busca ativa, mas uma busca ativa pode não ser uma VD. Pois bem, quando pensei em escrever sobre este assunto foi porque recebo muitas perguntas/afirmações/e-mails de colegas, como: O psicólogo pode fazer visita domiciliar? A visita domiciliar é atribuição privativa do assistente social O técnico de nível médio (orientar social/educador social/agente social) pode realizar visita domiciliar? Insolência como: “a/o psicólogo ao acompanhar a/o Assistente social nas visitas tem agido como bolsa tiracolo” Sempre tem que ser uma atividade realizada pela dupla (Assistente social + psicóloga)? Não sei como estas questões soaram para você, a mim trazem a necessidade de falar sobre isso refletindo o quanto precisamos avançar na qualificação do trabalho social ofertado na Assistência Social. O que é Visita Domiciliar? É uma técnica social, de natureza qualitativa, por meio da qual o profissional se debruça sobre a realidade social com a intenção de conhecê-la, descrevê-la, compreendê-la ou explicá-la (…) tem por lócus o meio social, especialmente o lugar social mais privativo e que diz respeito ao território social do sujeito: a casa ou local de domicílio (que pode ser uma instituição social). Amaro, pág.19 Historicamente a visita representa um recurso essencial que o assistente social aciona para exercer seu trabalho. No item “profissionais visitadores” (pág. 25) a autora ressalta que os assistentes sociais são os profissionais mais qualificados à execução da VD considerando sua formação. Ela também reconhece que em razão da territorialização das políticas sociais, cresce o número de profissionais que empregam a VD como metodologia de trabalho, como psicólogos comunitários, médicos de famílias e enfermeiros -O livro não é específico da atuação na Assistência Social. O livro da Sarita Amaro é uma referência neste tema e o livro que cito aqui não é o livro lançado em 2003 que a maioria de vocês conhecem: Visita Domiciliar – Guia para uma abordagem complexa. Trata-se de um livro totalmente novo intitulado “Visita Domiciliar: Teoria e prática” de 2014, lançado pela editora Papel Social. Bom, a intenção não é fazer resenha do livro, só quero recomendá-lo fortemente porque você encontrará nele, de forma bem clara, os aspectos teóricos, técnicos, éticos e metodológicos da visita domiciliar, nortes imprescindíveis para uma boa prática desta atividade no SUAS. Eu, portanto, continuarei o texto tentando dialogar com as questões apontadas acima trazendo o diálogo para o que observo e analiso no nosso cotidiano fazendo ainda uma ponte com a leitura do livro A Polícia das Famílias de Donzelot. Problematizando a Visita domiciliar A visita domiciliar é uma prática, a meu ver, muito perigosa na rotina dos serviços da assistência social. Digo isso porque sabemos que há uma enorme precarização do trabalho e que os profissionais contratados ou mesmo os concursados não foram capacitados para exercerem o trabalho social segundo os objetivos de cada serviço e de acordo com o que preconiza a Política de Assistência Social. Ainda é recorrente uma prática esvaziada da concepção do direito social e pautada nos direitos humanos. Assim, corre-se o risco da utilização desta técnica como recurso para averiguações de informações, “checagem”, fiscalização dos dados identificados nas entrevistas na unidade, critério para acesso a benefício eventual, ente outros objetivos com características policialescas e coercitivas. “Indicar os meios para reconhecer a verdadeira indigência e tornar a esmola útil aos que a dão e aos que a recebem”.* Ao ler o livro “A Polícia das Famílias” de J. Donzolot eu fiquei impressionada como que ainda é tão arraigado nas entrelinhas das intervenções dos profissionais no SUAS, mesmo que a PNAS propõe o contrário, a ideia de que é natural metodologias de intervenção que venham certificar A VERDADE acerca da necessidade/demanda apresentadas pelas famílias. Assim, considero que a VD teria que passar por uma revisão quanto a terminologia e metodologia. Ela ainda carrega o peso do passado na sua gênese no sistema judiciário e no trabalho filantrópico. A Visita Domiciliar é proposta como uma técnica para conhecer de perto a realidade das famílias. Na real, estamos batendo à porta das pessoas sem aviso prévio e sem sermos convidados (nem vou falar hoje do Criança feliz!). Visita se faz a quem conhecemos e a quem nos convida! Ou você fica satisfeito de receber uma pessoa desconhecida em casa, sem avisar, para te fazer um monte de perguntas e querer saber como você gerencia sua família? Ah! E o fato da pessoa/família ser pobre perde automaticamente o direito a vida privada? Ou você tem batido a porta das pessoas de posses a qualquer hora do dia e sem expor o motivo? … “É sempre preferível que o visitador não convoque seu cliente, mas vá ao domicílio deste último e que tal visita seja feita de surpresa”… “A tecnologia do inquérito sobre as famílias pobres, organizada por Gerando pôde, então, tornar-se uma fórmula extensiva de um controle social cujos agentes serão mandatados por instâncias coletivas e se apoiarão na rede administrativa e disciplinar do Estado”. (Le visiteur du pauvre, concebido em 1820) – problematizado por Donzelot no seu livro de 1977 “A Polícia das Famílias”. Deixo vocês com essas provocações e muito em breve volto com a Parte II e poderá ter parte III também (Caso a parte II fique extensa). Minha pretensão é trazer o restante do texto expondo o que proponho para a visita domiciliar como estratégia de intervenção do trabalho social com famílias num tempo pós SUAS pautado numa lógica do direito social. Espero que tenha conseguido provocar algumas inquietações na sua prática e aproveite para deixar aqui suas ideias, o que você pensa a respeito! Referências: DONZELOT, Jacques. A polícia das famílias.
Mulheres que chegam ao SUAS: que histórias elas podem contar?
Por Lívia de Paula* Nossa história tem meninas, e meninas também contam nossa história. É impossível compreender o Brasil sem a insistência de compreender suas meninas. Porque entre nós ser menina ainda constitui uma desvantagem social e, sendo pobre, uma exclusão social. -Marlene Vaz- Dia 08 de março: Dia Internacional da Mulher. Em virtude desta data, o mês de março assume em diversos segmentos sociais, inclusive nas políticas públicas, um caráter de celebração e mobilização diante das questões relativas ao feminino. A publicidade comercial foca seus esforços no incentivo ao consumo, a indústria da beleza vende a importância de estar sempre bela e atraente, os serviços de saúde oferecem exames preventivos, orientações e consultas específicas. O SUAS também se mobiliza. Lembro-me que, no ano passado, o Blog Psicologia no SUAS realizou um Hangout com o intuito de discutir quais estavam sendo as práticas propostas na política de assistência social dos municípios para marcar esta data. Muitas foram as críticas feitas por nossa editora Rozana às atividades já banalizadas nos equipamentos, como o famoso “Dia da Beleza”, por exemplo. Seus questionamentos diziam respeito a quais estereótipos estamos reforçando quando reduzimos nossas ações a proporcionar um corte de cabelo, um alisamento dos fios e uma maquiagem.[i] Ao me propor a escrita deste texto, me vi pensando: “Será que conseguimos avançar em alguma coisa no que tange a esta temática?” Meu convite para você, leitor e colega do SUAS, é esse: vamos pensar juntos como temos atuado frente às questões do feminino? Comecemos pensando sobre a pluralidade escondida nessa história de ser mulher. O nosso “Dia da Beleza” contempla essa pluralidade? Usando uma das frases mais conhecidas de Freud: será que sabemos “afinal, o que querem as mulheres?” Será que sabemos de fato quem são essas mulheres que chegam até o SUAS? No nosso cotidiano de trabalho, estamos sempre falando sobre essas mulheres. Discutimos o lugar da mulher na sociedade contemporânea e as questões de poder imbricadas nas violações a que todas nós estamos sujeitas. Falamos de empoderamento e autonomia. Ao mesmo tempo, em nossa rotina prática, preenchemos nossos relatórios quantitativos e categorizamos: meninas vítimas de abuso sexual, adolescentes aliciadas por redes de exploração sexual, mulheres prostitutas, mulheres vítimas de violência doméstica…. Lidamos todos os dias com situações nas quais a vulnerabilidade, a fragilidade e os mais diversos tipos de violência fazem com que mulheres cheguem até nós “gritando por socorro.” No meu texto anterior[ii]: “Feliz Gestão Nova: o SUAS convida a uma Psicologia Neutra?”, defendi a ideia de que o SUAS convida, para o trabalho em seus equipamentos, profissionais que se posicionem em defesa dos direitos das minorias, dentre elas, as mulheres. Só uma defesa intransigente torna possível uma transformação nos ciclos de violação a que estão submetidas nossas usuárias. E é por isso que precisamos ocupar os espaços falando de violência, de identidade de gênero, de relações de poder alicerçadas em nossa cultura machista. Mas é também necessário nos atentarmos para uma possível armadilha que pode nos capturar no percurso desta tarefa. Esta armadilha surge quando, ancorados em nossos posicionamentos ideológicos, deixamos de estar em contato com a pessoa que estamos atendendo. Isso pode fazer com que criemos balizadores do que acreditamos “mais adequado” para a vida das usuárias. Algumas frases, comuns de serem ouvidas nos equipamentos, exemplificam o que exponho: “por que você não se separa deste companheiro?”, “ela precisava largar a prostituição e o uso das drogas”, “para quem não tem nada, aprender artesanato já seria uma fonte de renda”. Agindo assim, corremos o risco de simplesmente trocar uma forma de opressão por outra. Corremos o risco de criar um outro modelo idealizado de mulher. Será que nosso papel não seria trabalhar as situações de vulnerabilidade que envolvem as mulheres a partir das experiências de feminino que nos são apresentadas? Circula sempre pelas redes sociais, em diversas páginas que discutem as questões do feminino, uma frase bastante interessante: “Lugar de mulher é onde ela quiser.” Creio que não podemos nos esquecer disso. Se acreditamos que o patriarcado nos tirou a voz por tanto tempo e ainda hoje continua nos oprimindo, não é hora de escutarmos a voz das mulheres? Precisamos escutar principalmente aquilo que é difícil de ouvir. Aquilo que nos faz nos sentir impotentes. Aquilo que, por vezes, toma o sentido oposto do que acreditamos liberdade feminina. Segundo Torres, Nas situações, mais complexas, é preciso não apenas nos colocar no lugar do outro e entender o lado do outro, tentar sentir o que o outro sente – o que tange o conceito de empatia –, mas também conseguir se aproximar do fenômeno em questão. (TORRES, 2015)[iii] É necessário nos atentarmos para a experiência de cada mulher que acolhemos. Existe ali uma manifestação do feminino, que se revela singular e intransferível, que nos aproxima do fenômeno, que amplia nossa compreensão e que pode inclusive enriquecer nossas estratégias de enfrentamento no nível macro. O documento “Referências técnicas para atuação de psicólogas (os) em Programas de Atenção à Mulher em situação de Violência”, produzido pelo Conselho Federal de Psicologia, no ano de 2013, traz uma contribuição importante para esta questão, quando aborda o referencial da clínica ampliada. Segundo o documento: Um diferencial dessa clínica denominada ampliada é que a escuta realizada pelo profissional não se interessa apenas pela situação de violência, mas pela pessoa na sua integralidade, considerando todas as suas necessidades. (p.50) Apesar do documento não tratar do trabalho no SUAS, penso ser uma boa sugestão de leitura exatamente por possibilitar que ampliemos o nosso olhar sobre esta problemática. Ainda é urgente falar, e falar muito, sobre violência, exclusão e sobre as fragilidades e desvantagens de ser mulher em nossa cultura. Mas que possamos compreender as pessoas que acolhemos em sua integralidade, que possamos parar para escutá-las sobre aquilo que vivem. Por que ao invés de promover Dias da Beleza e do Artesanato, não fazemos de março um mês de Histórias, por exemplo? Por que não convidar essas mulheres para uma “costura” de vivências, na qual cada uma pode
Direção social, elaboração de relatórios e o trabalho na proteção social especial

Por Thaís Gomes* O trabalho na proteção social especial provoca múltiplas reflexões nos mais diversos âmbitos tais como as formas de se trabalhar, posturas a serem adotadas nas variadas situações cotidianas, a correta utilização do instrumental técnico-operativo de cada profissional no equipamento, a adequação do trabalho às regulamentações da política de assistência social, dentre outras. O cotidiano de trabalho traz a tona nossas visões de mundo, a forma que enxergamos cada realidade com que nos deparamos diariamente e que orientam nosso fazer profissional e os documentos emitidos a partir deste, o que exige certos cuidados. A proteção social especial trabalha com indivíduos e famílias em situações de violação de direitos tais como violência física/psicológica/ sexual (abuso e/ou exploração sexual)/, negligência, abandono, trabalho infantil dentre outras demandas. Atuar na PSE requer habilidades no trabalho social com as famílias, com o atendimento pautado no respeito à diversidade de arranjos familiares, à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidade das famílias atendidas. De acordo com a PNAS, a realidade brasileira revela que existem muitas famílias com as mais diversas situações socioeconômicas que induzem à violação de direitos dos seus membros, além dos mais diversos arranjos familiares, considerando, nesse processo, família como conjunto de pessoas que se acham unidas por consanguíneos, afetivos e, ou, de solidariedade, entendendo, nessa perspectiva, que há uma infinidade de arranjos familiares. O trabalho na política de assistência social seja na proteção social básica ou especial, requer o que Cardoso (2008) chama de observação sensível, tendo em vista a aparência muitas vezes não representar a essência da situação apresentada e é através dela que temos a possibilidade de desvelar o real. A autora caracteriza a observação sensível como vivência, busca por percepções, memórias, sensações e sentimentos frente à realidade apresentada. Tem a qualidade de nos alertar para o sensível no relacionamento com os usuários. Essa abordagem nos sensibiliza para a empatia e o cuidado na escuta e registro dos atendimentos, para o acolhimento e o respeito ao usuário e sua história de vida, significa “estar interessado no que o outro tem a dizer”. A autora nos fala que ao observarmos um determinado fenômeno social atribuímos significado ao mesmo, e, através dessa observação, expressaremos em nossos registros os sentidos, as condições de vida, acesso as políticas sociais, a presença real de violação de direito e de que forma as pessoas reagem aquela realidade, e como os indivíduos se organizam para o enfrentamento diário dos desafios colocados pelo contexto social vivenciado. Em concordância com a PNAS, sabemos que o trabalho na proteção social especial se dá realizando uma estreita interface com o sistema de garantia de direitos (1), onde é necessária muitas vezes uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselhos Tutelares, bem como outros órgãos e ações do poder executivo, com envio de relatórios dos mais diversos tipos para colaborar na elucidação dos casos. Essa interface nos remete a seguinte reflexão: quando emitimos um documento a algum dos órgãos do sistema de garantia de direitos relatando situações de violações de direito que são demandas da PSE, estamos a serviço de quem? A quem está direcionado o nosso trabalho? Qual teor dos relatórios emitidos, eles apresentam um profissional comprometido com os direitos dos usuários ou com a instituição a qual representa/responde? Quais os valores que imprimo ao meu trabalho diariamente? Será nosso papel julgar/punir usuários? Nesses termos é necessário refletir sobre a direção social adotada em nosso fazer profissional. Cardoso (2008) sinaliza que o nosso lugar (e aqui trago para o lugar dos profissionais que atuam na PSE) é de humanizar o atendimento ao usuário, é de torná-lo um espaço de direito legítimo, socialmente justo. Isso se dá quando imprimimos em nosso fazer profissional uma identidade institucional de que aquele espaço no qual estamos inseridos, é um espaço de direito social, fruto de conquistas democráticas coletivamente organizadas, e que nossa ação expressa nos serviços assistenciais esta intenção política. E é com esta intenção que devemos pautar todo processo de trabalho, reforçando o nosso compromisso com os direitos do usuário. Cardoso (2008) nos fala que o significado social de nossa intervenção consiste justamente numa estratégia para o resgate dos direitos emancipatórios e inclusivos destes usuários dentro do processo de desenvolvimento social. Devemos, portanto nos ater ao cuidado na escrita dos relatórios enviados aos órgãos, utilizando um referencial técnico pautado nas regulamentações da política de assistência social, no referencial bibliográfico comum à temática e nas orientações ético-políticas profissionais e adequado aos objetivos propostos. O uso de discursos de senso comum, reproduzindo estigmas e preconceitos retratam um profissional despreparado para lidar com a complexidade da realidade social que permeia a vida dos usuários da política de assistência social, o que pode prejudicar potencialmente os usuários e ainda culpabilizar as famílias e/ou indivíduos. Cardoso (2008) enfoca ainda que a “adoção de conceitos marcadamente assistencialistas, pragmáticos e excludentes, [na elaboração dos relatórios] pode induzir a ações semelhantes, nos distanciando de compromissos essenciais que dão sentido à existência profissional”, dentro do equipamento da política de assistência social no qual estamos inseridos como é o nosso caso e isso independe da categoria profissional e se o trabalho é desenvolvido na PSB ou PSE. A autora nos demonstra ainda que devemos nos questionar se é objeto do serviço social ou de outra profissão que atue na política de assistência social, ser investigador da vida alheia, que emite julgamentos sobre comportamentos, modos de vidas das famílias ou se somos investigadores da realidade social em que estes estão inseridos, das afetações político-sociais que podem interferir na qualidade de vida das pessoas, no acesso a seus direitos fundamentais. No trabalho com famílias, por exemplo, quando da elaboração de relatórios, por vezes são utilizados termos como “ambiente nocivo”, “lar instável”, “desestrutura familiar”, “lar desestruturado” e tantos outros termos estigmatizantes , desse modo, devemos refletir sobre qual modelo de referência familiar estamos adotando como correto para considerar que este ou aquele modelo seja inadequado (2). Segundo Cardoso (2008) a linguagem adotada na elaboração dos relatórios revela os estigmas do profissional,
Entre o concerto e o conserto: qual tem sido nosso foco do trabalho com famílias no SUAS?
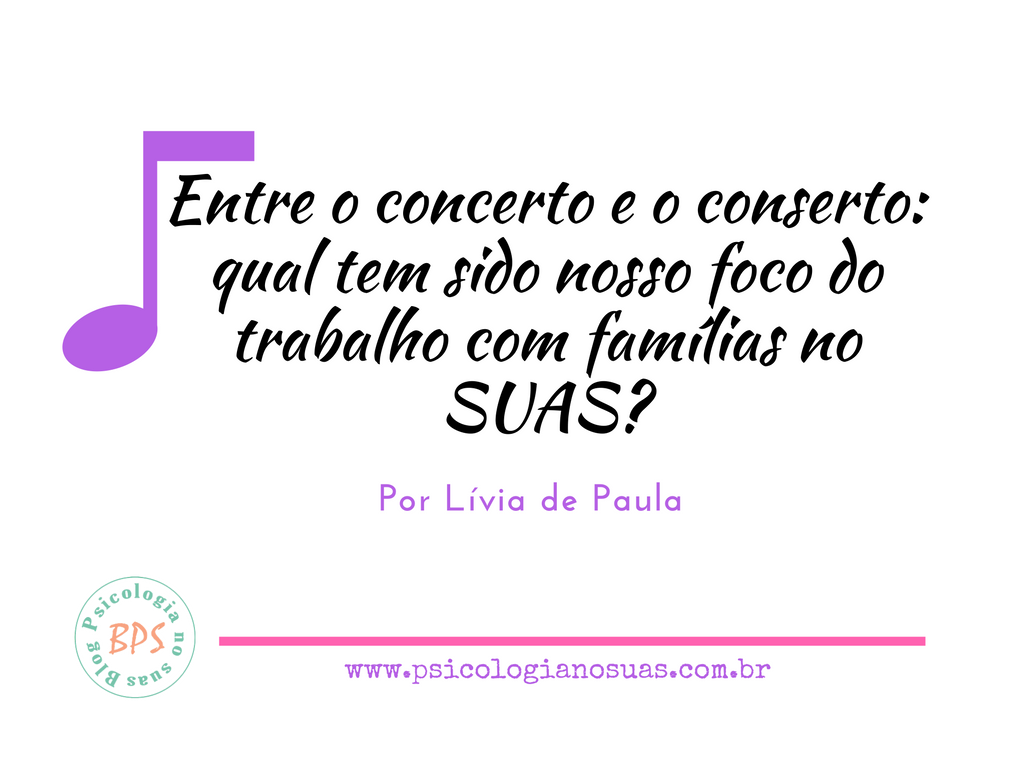
Por Lívia de Paula* “Família, família Papai, mamãe, titia, Família, família Almoça junto todo dia, Nunca perde essa mania” A canção dos Titãs, um clássico do nosso rock nacional, é bastante utilizada por nós, trabalhadores do SUAS, na facilitação de grupos e outras atividades de sensibilização. Sua letra traz como ponto central os dilemas daquela que é nosso foco na atuação dentro do social: a Família. Sabemos que pensar a família é, me arrisco em dizer, a tarefa mais importante da nossa prática. A maioria dos documentos que nos orientam tem um capítulo/parte específica para tratar deste tema. Assim, todos os dias, lemos sobre família, pensamos sobre família e atendemos alguma família. Propositalmente, até aqui, utilizei o termo família no singular. Já é convencional no que diz respeito à assistência social falarmos de FAMÍLIAS, a fim de trazermos à tona as inúmeras configurações familiares por aí existentes. É convencional falarmos, mas será que de fato temos nos atentado e nos permitido trabalhar com Famílias, no sentido aqui apontado? É para esta conversa que eu convido você, meu colega de SUAS, hoje. Quando recebemos uma família para acolhimento em nosso equipamento, nossa primeira ação é ou deveria ser conhecer como ela se configura. Quem são seus membros? Qual é o vínculo entre eles? Como se relacionam? É a partir destes questionamentos que poderemos traçar (junto com eles) as estratégias para o nosso trabalho. Você considera esta uma tarefa fácil? Fazendo uma breve reflexão fenomenológica, percebo que esta é uma das propostas mais difíceis da nossa prática. Difícil porque somos pessoas em contato com pessoas. Como pessoas, não podemos negar que somos constituídas por vivências, afetos e concepções. E é por isso que, antes de acolher uma família, creio ser imprescindível refletir genuinamente sobre minhas concepções, meu lugar de conforto e minhas estranhezas sobre o assunto. Afinal, batem à nossa porta desde famílias tradicionais tal qual a da canção do Titãs (papai, mamãe, titia, cachorro, gato, galinha) quanto famílias cuja configuração nunca foi por nós sequer imaginada. Esta proposta de acolhimento vai requerer então a suspensão de nossos conceitos e valores e uma postura empática[i]. Tal empreitada, por mim considerada tão árdua, é a única que pode garantir que façamos nosso trabalho como preconiza a Política de Assistência Social, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e da autonomia. Sem suspendermos nossos valores e praticarmos a empatia, não creio ser possível caminharmos em direção a estes objetivos. A linha que separa um trabalho de fortalecimento familiar de um trabalho de educação, de “conserto” das famílias é bastante tênue. Se direcionamos nosso trabalho a partir daquilo que entendemos como certo para uma configuração familiar estamos fadados a uma ação policialesca, de reparação, literalmente de arrumar o que está estragado[ii]. Ainda hoje é comum encontrarmos argumentos que defendam as noções alicerçadas na ideia de que famílias convencionalmente estruturadas, as chamadas famílias nucleares, são a garantia de um desenvolvimento saudável de seus membros. Acredito que no âmbito do SUAS já avançamos um pouco. Já sabemos que uma “orquestra” teoricamente estruturada nem sempre faz o melhor concerto. É necessário que os instrumentos, quais forem eles, dialoguem entre si, se encontrem. É necessário treino e muito ruído para se chegar a alguma possibilidade de som. Penso que a metáfora da orquestra nos auxilia na compreensão de que as famílias são constituídas de membros diversos entre si, que coabitam vivenciando tanto conflitos quanto afetos. São as vivências conflituosas e afetivas que tornam possível a música familiar. É fato que já avançamos. Mas ainda há muitas questões que por nós permanecem quase intocadas. O documento “Parâmetros para o Trabalho com Famílias na Proteção Social Especial de Média Complexidade”, um relato de experiência do município de Campinas – SP, traz contribuições valiosas para esta discussão e merece ser lido em sua íntegra.[iii] Na parte que trata dos marcos conceituais, há o seguinte apontamento: O debate sobre a concepção de família revelou o quão problemática é a construção de uma concepção partilhada sobre o tema, particularmente na sua relação com a proteção social. É totalmente consensual a ideia de que a família é uma instituição que se transforma histórica e cotidianamente, que na contemporaneidade assume as mais diferentes configurações e que tem papel fundamental na construção do mundo subjetivo e intersubjetivo dos sujeitos. […] As divergências aparecem quando se coloca em pauta a relação entre família e proteção. Nesse aspecto, por um lado, subjaz a ideia de considerar, em princípio, a família como um espaço de proteção […] bem como o objetivo do trabalho social com famílias contemplados na proposição do SUAS, qual seja, o de fortalecer a capacidade protetiva das famílias. Por outro lado, apresenta-se a ideia de que a família não, necessariamente, constitui-se como um espaço de proteção. Nessa perspectiva, a hipótese de proteção como fundamento da configuração familiar estaria apoiada numa concepção moral. No que ela deveria ser e não no que ela realmente é. Em uma proposta de cunho moralizador, isso poderia induzir a processos de responsabilização da família pela proteção social. (p.33-34) Tal apontamento ilustra bem o que nosso cotidiano na esfera do SUAS nos apresenta: deparamo-nos todos os dias com famílias que “deveriam ser” protetivas, mas não o são. Como somos impactados por esta experiência? Volto a dizer: nesta hora, estamos frente a frente com a armadilha de uma possível atuação policialesca, calcada na melhor das intenções: fortalecer a capacidade protetiva das famílias. Será que temos nos deixado capturar discretamente pela crença de que há um modo certo de ser família? As famílias do SUAS são famílias do jeito errado? Será que um trabalho de fortalecimento no âmbito do social pode ter como norte a formatação das famílias, tendo como meta a família “comercial de margarina”? Estas são apenas algumas das questões essenciais a serem refletidas. Existem outras. Por exemplo, em tempos de polêmicas sobre gênero e sexualidade, não precisamos pensar esse tema dentro das famílias? Como tem sido exercido os papéis de gênero no contexto familiar? Enfim, já percebemos que este é um tema
O primeiro-damismo e a desprofissionalização como barreiras na consolidação do SUAS
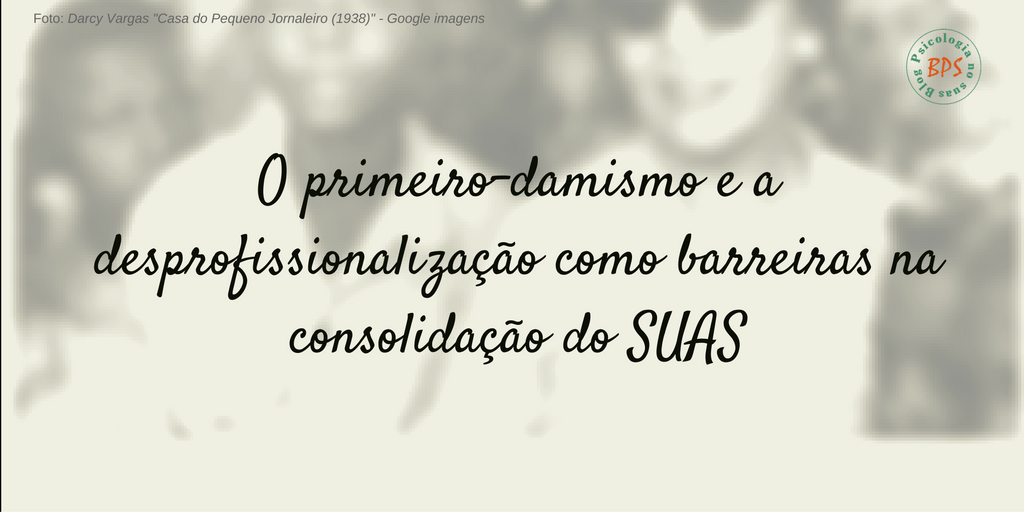
Por Tatiana Borges; Aline Morais; Lívia de Paula; Rozana Fonseca e Thaís Gomes Apesar de estar reconhecida enquanto política pública na Constituição Federal de 1988, a Assistência Social tardiamente passou a se constituir como direito social e dever do Estado, já que o seu histórico é fortemente marcado pela caridade, filantropia e voluntariado, ou melhor, é o histórico do ‘não direito’, do favor. É possível afirmar que foi com a implantação do SUAS, através da PNAS de 2004, que ocorreu um salto na profissionalização da assistência social, ou seja, contrapondo as práticas emergenciais de compaixão, de improviso e personalismos, é o arcabouço normativo dos últimos 10 anos da política de assistência social que reforça ou exige a presença de equipes de referência interdisciplinares constituídas por servidores públicos para a intervenção no conjunto de expressões das desigualdades sociais, através de serviços e benefícios socioassistenciais. Dito de outra forma, o reconhecimento, através de ordenamentos institucionais e direcionamentos políticos, de que o atendimento com dignidade prestado à população exige condições de trabalho e profissionais qualificados nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa é recente. Assim como é novo o tratamento da Assistência Social como responsabilidade estatal, expressada através de seguranças indispensáveis ao desenvolvimento pleno dos cidadãos com a garantia de direitos e com o envolvimento efetivo de todas as esferas de governo. Muito embora este entendimento seja fruto de estudos muito anteriores ao SUAS, de embates e lutas históricas para o reconhecimento da política de Assistência Social como direito e de militância política de diversos segmentos da sociedade, bem como de profissionais, com destaque aos assistentes sociais, o movimento para a implantação deste sistema é ainda incipiente, pois temos mais um modelo do que um sistema propriamente instalado, o que não invalida, de forma alguma, os avanços reais conquistados. Avanços oriundos especialmente dos movimentos organizados de trabalhadoras/es e de usuários, seja na militância diária em seus equipamentos de trabalho ou em fóruns, grupos e conselhos destinados à discussões, deliberações e construções da política. O avanço do SUAS – mesmo que não esteja nivelado, pois a cobertura para os riscos sociais não é universalizada e há um descompasso entre as formas e o tempo histórico de incorporação desta política pela união, estados e municípios – é inegável, principalmente, pelo potencial, já demonstrado pelas pesquisas e pelos indicadores existentes, de impactar a existência de grupos de pessoas, atuando na proteção a vida, na prevenção da incidência de riscos sociais, na identificação e superação de desproteções sociais e na redução de danos. Ainda assim, o desafio cotidiano que nós, das diversas categorias profissionais – que hoje, graças ao conjunto normativo do SUAS, compõem a política de assistência social – enfrentamos é superar a tradição de práticas assistencialistas pautadas sempre pelo controle e adestramento das famílias e pela criminalização da pobreza como forma de manter “a ordem e o progresso” do país, bem como o poder sobre os pobres, tratando os como desvalidos, carentes e não como cidadãos ativos de direitos. Considerando que o primeiro-damismo é uma realidade em muitos municípios, fica mais evidente a necessidade de pautarmos criticamente este cenário, uma vez que agora há uma representação emblemática e carregada de retrocessos. O quanto o primeiro-damismo tem emperrado a consolidação no SUAS? Valeria um estudo, porque sabemos que ainda há uma distância entre a legislação e o modo como a Assistência Social é vista pela população, pelos seus dirigentes e gestores municipais. O que sabemos é que, em muitos municípios a realidade da política de assistência social é permeada por ações de cunho clientelista que se convertem em moeda de troca nos acordos político-partidários entre prefeitos e vereadores para garantir votos da população. A incidência destas práticas na política de assistência social culmina numa desarticulação e fragmentação da mesma, numa sobreposição de propostas, sem considerar o que já existe no SUAS, reduzindo as ações à ajudas e concessões pontuais da primeira-dama. Nós, profissionais que compomos o SUAS e que defendemos este modelo de política pública, trabalhamos em uma direção que tem o Estado como principal responsável pelo bem-estar social e assim tendo como competência a promoção da proteção social que, no âmbito do SUAS, se materializa por meio dos serviços e benefícios socioassistenciais. Nesta direção o Estado atua como agente executivo (PAIF e PAEFI, programas e benefícios), agente regulador (dos serviços socioassistenciais prestados por entidades e organizações sociais) e agente de defesa de direitos e da participação social e esta direção, que preza a assistência como um direito e não como uma benesse, nos faz posicionarmos contrárias/os às propostas que venham reforçar o primeiro-damismo, estatuto que representa tudo aquilo que procuramos romper, ou seja, com o clientelismo, com o cerceamento de famílias e com o uso das pessoas que necessitam da assistência social para a promoção da imagem do político. O primeiro-damismo, a nosso ver, é a caricatura da negação do direito, uma vez que simboliza, de forma bastante clara, o lugar que governos baseados em assistencialismo reservam à população usuária do SUAS: o lugar de quem deve agradecer ao político pela sua bondade, por sua benevolência. Por saber que nós, trabalhadoras/es do SUAS, nos constituímos como a “tecnologia básica” deste sistema, uma vez que “a mediação principal é o próprio profissional” (BRASIL, 2008), não podemos nos calar, pois o trabalho social que realizamos exige conhecimento, formação técnica e perfil e não é possível que para um cargo de condução de uma política pública o critério seja o casamento e não o currículo profissional ou concurso público. A qualificação do trabalho social com famílias é um grande marco na implantação do SUAS e em uma de suas dimensões há um conjunto de atribuições técnicas/os, que compõem as equipes de referência dos serviço socioassistenciais. Entre estas atribuições está o acompanhamento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente, dentre outros fatores, da precariedade de renda. Assim, as famílias beneficiárias de programas de transferência de renda são prioritárias para o acompanhamento social que se configura como a oferta de um serviço e não uma exigência ou