Entre Riscos e Vínculos: A Atuação da Psicologia na Assistência Social – LIVRO
Hoje apresento para vocês mais um livro da parceria BPS com a Editora Appris. O livro da vez é o Entre Riscos e Vínculos: A Atuação da Psicologia na Assistência Social. Apresentação do livro Este livro reúne experiências de trabalho no campo da assistência social vivenciadas ao longo de seis anos por pesquisadores do grupo Raij (Conectus/Ufes). O projeto de pesquisa-intervenção iniciado em 2011 agregou estudantes de graduação em Psicologia e de mestrado em Psicologia Institucional da Ufes, integrando as três dimensões do conhecimento científico: ensino, pesquisa e extensão. O ponto de partida do trabalho foi a alta absorção de profissionais da Psicologia pelas políticas públicas de assistência social e os estranhamentos e angústias em relação às atividades dessa “especialidade” nos serviços socioassistenciais. É preciso saber que o livro traz a marca dos princípios que nortearam o trabalho coletivo: a grupalidade, o questionamento das práticas sociais, a luta por direitos, a afirmação da diferença e o compartilhamento de experiências. Nesse sentido, o livro é uma tentativa de compartilhar experiências de atuação da psicologia no sistema único de assistência social (Suas). É preciso que se saiba que não as compartilhamos para que sejam guias ou modelos. Pois, se as experiências são sempre únicas e provisórias, o que importa no seu compartilhamento é que novas experiências possam encontrar acolhimento em corpos que suportem processos de diferenciação abertos às singularidades. Assim, buscamos narrar a muitas mãos as intensidades vividas com os diversos atores do Suas. As narrativas-experiências do livro dizem de processos que nos deixam pistas comuns: a sensibilidade do olhar, a arte do encontro, a construção da atuação profissional como um ethos de vida compartilhada. Nesse ethos, assumimos o risco de traçar novas linhas de reflexão, questionando o perigo de nos vincularmos, aliançarmo-nos àqueles com os quais trabalhamos. Com isso, buscamos analisar o risco como perigo de “captura” de sujeitos, determinando práticas que, em nome de uma suposta proteção, tutelam e circunscrevem vidas. Da palavra assistência, ficamos com a origem em latim, assistere, que remete a sentar-se perto, presenciar. Trata-se tão somente de um livro-compartilhamento que faz um convite à leitura-experiência-presente. Sejam acolhidos por ela! O livro é muito importante porque eleva nossas referências na área de Assistência Social e permite que profissionais possam refletir sobre a atuação e funcionamento dessa política mesmo que o livro traga um recorte regional (ES). Acredito que o livro agradará muito quem atua na média e alta complexidade, principais níveis de proteção pesquisados. Mas , claro, é uma importante leitura para os trabalhadores do SUAS que desejam aprofundar os estudos quanto aos temas de risco e vínculos. Considero relevante dizer a vocês que o livro é resultado das dissertações de mestrado das/os autores, então se você não pode comprar o livro agora, pesquise pelo nome das/os autoras e já comece a ler sobre os temas abordados no livro. Agora, se você é do meu time, gosta e sabe o valor de um livro, aproveite a versão digital pelo site da Editora: olha a diferença de valores! VERSÃO DIGITAL R$ 27,00 😱 VERSÃO IMPRESSA R$ 62,00 Ps. Livro recebido pela Editora Appris. A autora do blog não recebe comissão pela venda do livro. Boa leitura, ótimos estudos! P.S Está rolando “sorteio” deste livro lá no Instagram @psicologianosuas – para concorrer a este livro você tem até amanhã (19/08/19, às 16h)
Da adesão à participação: repensando nossa relação com as(os) usuárias(os) do SUAS

Por Lívia Soares de Paula* Desde o lançamento da Campanha de Combate ao Preconceito contra a Usuária e o Usuário da Assistência Social, lançada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e pelo Fórum Nacional de Usuárias e Usuários da Assistência Social (FNUSUAS) em dezembro de 2017, venho refletindo continuamente sobre a relação estabelecida entre nós, trabalhadoras (es), e as (os) usuárias (os) da política de Assistência Social. Veja também o texto que já publiquei aqui: Preconceito de quem? Algumas inquietações sobre as relações entre trabalhadores e usuários no SUAS. Nesta relação, um dos desafios diz respeito a participação (ou não) das (os) usuárias (os) nos atendimentos e atividades propostas nos nossos equipamentos. Este assunto é recorrente nos espaços de discussão sobre nossa atuação no SUAS e a escrita deste texto sobre ele foi sugerida por uma colega assistente social que, ocupando um destes espaços, se viu provocada a refletir sobre o mesmo. No nosso cotidiano de trabalho, em geral não utilizamos o termo participação, mas sim adesão das (os) usuárias (os) nas atividades: “essa família não adere”; “já fizemos de tudo, mas não conseguimos a adesão das famílias”. O uso do termo adesão em detrimento do termo participação já aponta, a meu ver, alguns pontos importantes para iniciarmos nossa conversa sobre a temática. O que vêm à sua cabeça quando ouve a palavra aderir? E quando ouve a palavra participar? Quais as diferenças entre estas duas palavras? Fazendo uma pesquisa simples no dicionário, já nos é possível tecer alguns apontamentos sobre as possíveis definições para as duas palavras. Para a palavra adesão, o dicionário traz: 1. ação ou resultado de aderir, de ligar-se ou estar fisicamente ligado a algo, aderência; 2. postura favorável a uma ideia, movimento, ato, etc; 3. filiação a partido, associação, etc. Para participação, encontramos: 1. ação ou resultado de participar, de fazer parte; 2. associar-se pelo pensamento, pelo sentimento, compartilhar. Este simples retorno às definições me provoca a pensar sobre as duas palavras e suas diferenças. O termo aderir me sugere que estamos olhando para a (o) nossa (o) usuária (o) como um sujeito passivo que irá se “ligar” ao que projetamos para ele. Já o termo participar me coloca diante da imagem de uma (o) usuária (o) ativa (o), que faz parte, que associa-se pelo sentido que o projeto tem para ela (e), que “com-partilha”. A partir disso, faço a nós um convite. Precisamos refletir sobre como olhamos para as famílias e indivíduos que acompanhamos: como sujeitos que aderem ou que participam? Silva (2014) realizou uma pesquisa na cidade de Porto Alegre (RS), com o intuito de conhecer os usuários da política de Assistência Social daquela cidade. Os resultados de sua pesquisa mostram-se muito relevantes para contribuir com o nosso diálogo sobre os questionamentos que coloquei anteriormente. A autora faz um apanhado histórico sobre nosso país e sobre o surgimento e transformação da Assistência Social no Brasil. Menciona nossa cultura política que ainda transveste o direito como benesse e concessão. Tal cultura reforça a subalternidade e afasta a sociedade das relações democráticas. (SILVA, 2014, p. 125) Sob meu ponto de vista, este aspecto é um dos pontos nodais no nosso trabalho junto às (aos) nossas (os) usuárias (os). Não raro, olhamos para as famílias e indivíduos que atendemos como sujeitos que devem se submeter ao que planejamos para eles. Reforçamos a velha lógica assistencialista, na qual o sujeito atendido não é escutado, não é convidado a fazer parte como protagonista de sua vida que é, mas sim colocado no lugar de mero receptor de benesses. Esta constatação me acompanha tantas e tantas vezes, quer seja no meu cotidiano de trabalho quer seja nos espaços de discussão que frequento, que me pergunto: será que é só assim que conseguimos trabalhar? Como essa forma de atuação relaciona-se com nossa própria história de vida e com nossos preconceitos? E porque estamos escolhendo atuar como trabalhadoras (es) de uma política que prima por defender intransigentemente a cidadania como um direito? É urgente que respondamos a estas perguntas. Ao refletir sobre isso, salta aos meus olhos o quão contraditórios temos sido se na teoria defendemos a política de Assistência Social como um direito, mas na prática agimos ancorados na lógica da concessão que nos transporta para um lugar de poder sobre vidas que não são as nossas. Em que nos interessa ter poder sobre a vida de outra pessoa? E de que poder estamos falando? Em sua pesquisa, Silva (2014) se deparou com alguns usuários do SUAS que afirmaram não saber nada sobre cidadania ou sobre sujeito de direitos. Isso reforça ainda mais minhas indagações sobre a contradição que expus acima. Defendemos uma política de direito, mas deixamos passivamente que a (o) usuária (o) nem saiba o que isso significa. E assim, as desigualdades vão se solidificando, com o nosso aval. Eu, trabalhadora e detentora da informação, defino e a (o) usuária (o) executa, “adere”. É urgente que pensemos a esse respeito. Precisamos nos incomodar com isso. Sair do lugar cômodo de quem detém o poder sobre o outro, de quem diz tranquilamente que as famílias não “aderem”. Essa é tarefa que nos está posta: É tarefa primordial da Política de Assistência Social a superação dessa dimensão com caráter clientelista para se afirmar como política que possibilite a construção de direitos, contando com o protagonismo dos sujeitos por ela atendidos. Os elementos conservadores e autoritários, constituintes da formação social brasileira, revelam o quanto a hegemonia das classes dominantes exerce a reprodução das formas de dominação das classes subalternas no país. (SILVA, 2014, p. 145) Eis o nosso desafio. Ao invés de dizermos que nossas (os) usuárias (os) não aderem, é fundamental que reflitamos sobre os embasamentos de nossa atuação. Temos observado e avaliado as políticas setoriais do nosso município, analisando o quão alinhadas elas estão entre si e com as necessidades e demandas dos cidadãos? Temos provocado espaços de diálogo com nossas (os) usuárias (os), nos quais elas (es) possam se sentir à vontade para se expressarem, por meio do estabelecimento
Como o Conselho Tutelar age nos casos de violência sexual: o que temos a ver com isso?
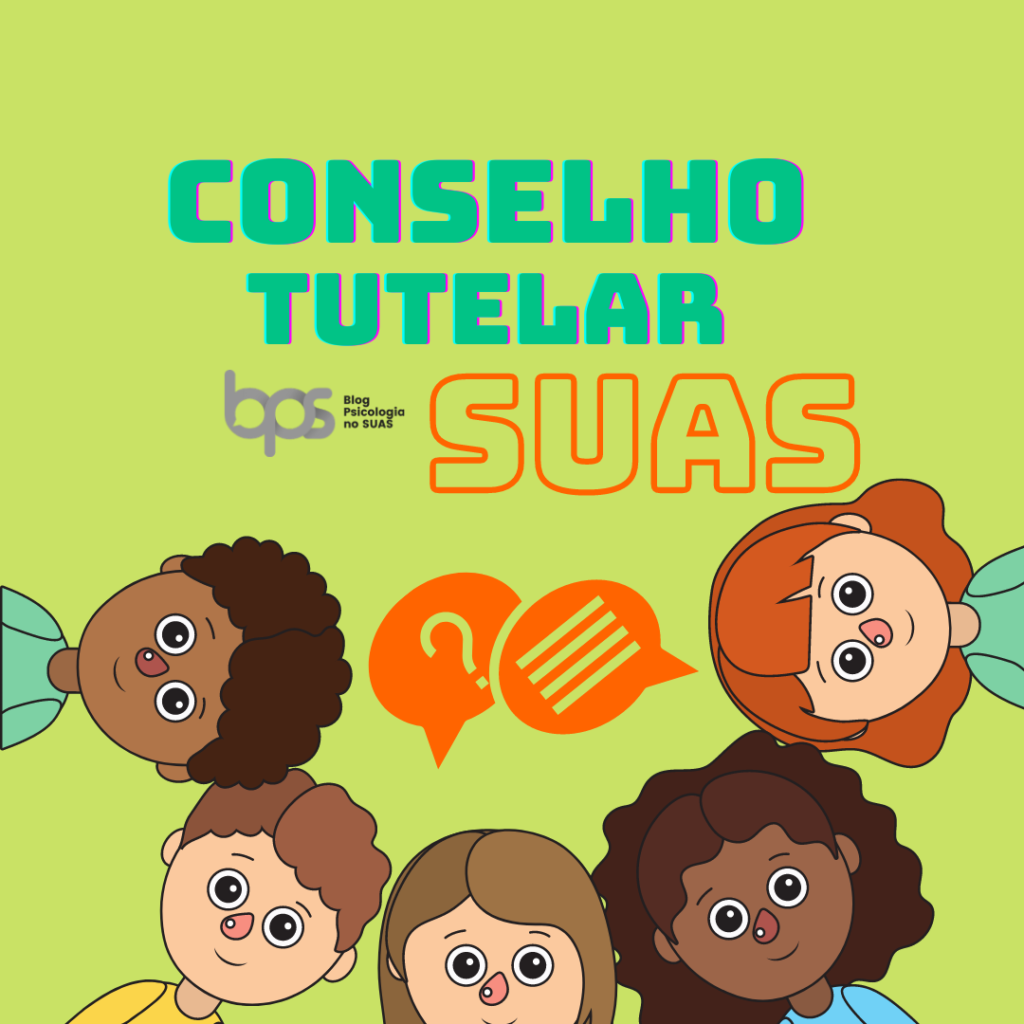
Devido a proximidade do dia 18 de maio resolvi escrever um texto que conversasse com os conselheiros tutelares – CT e com os demais integrantes do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente – SGD, como nós da Assistência Social, trazendo ao debate uma crítica propositiva e ética-política quanto ao atendimento à vítima de violência sexual – estupro de vulnerável conforme Art. 217-A do Código de Processo Penal. 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Escolho uma maneira de escrever trazendo para o debate questões da prática com a intenção de sensibilizar quanto a dura realidade de cada agente que, diretamente ou indiretamente, está entrelaçado nestas tramas. Aqui, problematizar os equívocos nas práticas não é nada mais do que tentar contribuir com o campo da proteção integral, considerando a necessidade de reavaliar as rotas para construir novas pontes para caminhos possíveis, mas que são desconhecidos ou tratados como intransitáveis devido a fragilidades e descasos do poder público. Conselheiro tutelar vai à delegacia? Especialmente, será problematizada a atuação do conselho tutelar em casos de violência sexual, tratando do ato de acompanhar a criança ou adolescente à delegacia para denunciar a situação de violência – acompanham, principalmente, na ausência do responsável legal da criança ou adolescente, sob a alegação que o CT o representa. Vale pontuar que isto não é um equívoco apenas dos conselheiros, mas também de integrantes do Sistema de Garantia de Direitos. Podemos elencar alguns dos problemas provenientes do conselheiro tutelar ir à delegacia: age fora da legalidade; põe sua vida em risco ao agir como autor da ação – problema se agrava nas cidades pequenas onde o agressor pode ser um conhecido ou até mesmo familiar; perpetua na sociedade o imaginário de que o CT é órgão punitivo com características e atitudes policialescas; posicionamento individual e não de colegiado; os demais integrantes da rede não assumem suas responsabilidades, fragilizando a sedimentação de uma rede onde os integrantes se posicionem proativamente. É válido pontuar que NÃO ir a delegacia não significa não atuar no caso – pode haver uma deturpação do que é atuar imediatamente no caso. O imediato é garantir que sejam prestados atendimentos à vítima e não PUNIR O AGRESSOR! Quem faz isso é a justiça. Veja sobre medidas de proteção (arts. 98 à 102 da Lei nº 8.069, de 13 julho de 1990). E nos casos em que o responsável legal não vai à delegacia? Eu não vou discorrer sobre outras variáveis, porque não é o objetivo deste texto e ademais o objetivo aqui é trabalhar a ideia de que quando se dá conta do básico, há maiores chances de conseguir agir crítica e eticamente frente aos imprevisíveis e diversos desdobramentos dos casos. A situação de violência sexual exige ação imediata do conselho tutelar, assim como de todos os serviços da rede. Atuará, portanto, conforme preconizado, de forma a aplicar as medidas protetivas que se fizerem necessárias e enviar notícia de fatos ou infração [i]penal ao Ministério Público, o qual requisitará instauração de inquérito baseado no inciso II do Art. 5º do Código de Processo Penal. [ii] Quando o CT representa a família? Vale ressaltar que há um alastrado equívoco, entre os próprios conselheiros, trabalhadores do SUAS, e porque não de maneira geral na sociedade, quanto à ideia de que o conselho tutelar representa a família da criança ou adolescente nas circunstâncias de denúncia ou nos acessos a serviços. A única obrigação legal para o conselho tutelar representar a família é, sumariamente, se a TV ou rádio violarem direitos da criança ou adolescente (veja Constituição Federal , art.220 [iii]), o que está previsto no inciso X do art.136 – das atribuições do CT[iv]. Conflitos familiares e desobediência na escola não são demandas para CT Demandas equivocadas surgem de todo lado, mas podemos exemplificar com uma remetente muito comum: a escola. Esta aciona o conselho tutelar para atuarem em conflitos familiares ou sociais com pedidos explícitos de reprimendas aos adolescentes/crianças rebeldes ou briguentos. E essas demandas deturpadas vão parar, simultaneamente, nos CRAS e CREAS, ou outros serviços da rede socioassistencial, levando a tarefas sobrepostas, muitas vezes, morosas ou ineficientes. Por que o CT aceita a demanda da escola, com pedido da diretora que quer punição aos adolescentes que se negam a cumprir ordens do professor ou regras institucionais ou aceita um pedido de um pai/mãe que não querem que a filha de 15 anos namore e chegue em casa com hematoma erótico (vulgo chupão no pescoço)? E nos casos onde há a exigência de atuação imediata (casos de violência) e eles tendem a ir por caminhos fora da legalidade? Muitas vezes por pressão da própria rede. Temos respostas plausíveis a esta questão que tencionam a justificar pela falta de capacitação e estabelecimentos de fluxos e protocolos pautados nas atribuições de cada integrante do SGD. Outras nem tão plausíveis assim, como as que alegam que ao deixar de fazer esse “suposto/equivocado” trabalho, a criança/adolescente ficará desprotegido. Mas a realidade tem nos mostrado que tem sido as acrianças e os adolescentes os que sofrem as consequências da falta de estabelecimento de fluxos e de articulação protagonizada por todos do SGD – são revitimizados, sofrem violência institucional em nome de uma proteção. Ação do Conselho Tutelar Conselheiro tutelar, age provocando a ação imediata de cada integrante da rede, caso ela não seja tomada proativamente. Assim, vejam só, quanto maior o acionamento ao conselho tutelar, e quanto maior as notificações e requisições emitidas pelo colegiado, mais evidente a precariedade ou nula oferta de atendimento e serviços pelas instituições que deveriam garantir o amplo acesso a assistência social, saúde educação entre outros. Diretivamente, se a rede cumprisse seu papel não precisaria do conselho tutelar requisitar ou cobrar os atendimentos nos serviços. Ressaltando que o mesmo deve fiscalizar, em caráter permanente, o adequado funcionamento dos programas de atendimento existentes (cf. art. 95, da Lei n° 8.069/90). Superação de preconcepções e aprimoramento É preciso então rever as preconcepções, porque
Série Desafio do diferencial científico-profissional no SUAS
Sobre a Série Desafio do diferencial científico-profissional no SUAS Hoje inicio uma série referente a desafios que serão lançados no Instagram do Blog (@psicologianosuas) O nome da série é “Desafio do diferencial científico-profissional no SUAS”, onde o objetivo é revelar malfeitos em atendimentos no SUAS com provocação de diálogos para problematização e proposição de mudança de perspectiva para a profissionalização e o aprimoramento do Trabalho Social com Famílias – TSF. Tenho usado o Instagram do Blog para atualização mais constantes. A interação está tão potente que tem desencadeado várias ideias para textos. E assim, fica definido o formato dessa série: periodicamente será lançado uma situação exemplo (sempre no Instagram e Facebook), onde será solicitado comentários e análises dos colegas e posteriormente vem a ideia final para o texto-resposta. Por que realizar esta série de Desafios? O exercício é promover a identificação de conceitos teóricos e técnicos a respeito do atendimento que, claramente, foi inadequado. Provocar sobre a necessidade de se sair do automatismo das ações para conseguir ampará-las em abordagens teóricas e nas recomendações técnicas dos serviços. Assim, penso que um bom exercício para se manter propositivo, teórica e tecnicamente, é não banalizar a rotina do trabalho. Rotina pode ter conotação pejorativa, não é o caso aqui. Poderia então falar em processos de trabalho, mas escolho ‘rotina’ porque é onde as armadilhas capturam o profissional. Captura-os nos momentos da pressa, da correria, da iminência ou da necessidade de apagar um incêndio. Estamos sendo o tempo todo acionados, mas e quanto ao circuito da rotina diária ou agenda anual, estamos abastecidos pelas teorias e técnicas que aprendemos e nos conferiram o lugar de profissionais? Quantas vezes já ouvi de um profissional de nível médio (motorista, orientador, facilitador) que queria fazer serviço social ou psicologia (confesso que serviço social ganha disparadamente) porque eles poderiam ganhar mais fazendo o mesmo que já faziam! O motorista é porque acha o trabalho social fácil.😱 Essa fala sempre me deixa reflexiva. O técnico de nível médio -TNM querer estudar é maravilhoso, mas o assustador é saber que ele não consegue diferenciar o fazer dele do fazer do profissional de nível superior. O susto não é porque o TNM equipara os fazeres, mas é porque o fazer do TNS não foi capaz de explicitar as diferenças. Poderia falar mais sobre outros desdobramentos provocados por essa percepção nebulosa no ambiente de trabalho, mas o foco aqui é responder ao desafio problematizando se os profissionais de nível superior estão conseguindo impedir que sejam capturados pelos malfeitos durante a rotina de trabalho. É comum escutar que os profissionais estão cansados de teorias e orientações técnicas, querem mesmo é saber sobre a prática. Mas como haverá de ter prática crítica e propositiva sem teoria? Minha hipótese é que muitos acham que estão cansados porque na rotina só conseguem enxergar a demanda bruta e a imposição para enfrentarem, de imediato, as urgências do dia, da semana. É preciso lembrar que elas não são novas! Olha que interessante: Diante de uma situação urgente (estado de desproteção social persistente), a gestão ou a rede cobra uma intervenção como se a situação fosse uma emergência, ou seja, algo imprevisto e que requer reposta imediata. Portanto, para as demandas urgentes, as mais comuns na rotina, que as repostas sejam pautadas no conhecimento profissional e no planejamento. Acredito que com esses argumentos, fixo-os à práxis e ao posicionamento ético-político em toda intervenção profissional no SUAS. Então, seguindo à minha “resposta” ao desafio proposto, questiono: Na rotina, na objetividade das ações demandadas, como identificar se se está cumprindo o esperado científica e profissionalmente? Uma importante estratégia é realizar estudos e reuniões técnicas para avaliar as ações e ter assessoramento/supervisão. Desafio #01 – Conceitos para qualificar o Trabalho Social com Famílias Vamos então ao desafio discorrendo sobre aos conceitos que considero subjacentes a este atendimento exemplificado, sabidamente, equivocado: Território e Diagnóstico Socioterritorial Para que? Conhecer o recorte geográfico e a cobertura de transporte coletivo na área de abrangência do CRAS. Não pontuarei as demais dimensões de território porque o foco do exemplo é a distância geográfica. Trabalho Social com famílias pautadopeloDiagnóstico Socioterritorial, uma vez que é um instrumento capaz de fornecer esse subsídio para intervenções pautadas na realidade do território. Plano de Acompanhamento Familiar – PAF Por que? Família em estado de vulnerabilidade de renda, com demanda para cesta básica deve estar em acompanhamento familiar (salvo se haver recursa). Lembrando que acompanhamento sem plano, provavelmente, está mais para atendimentos pontuais! Com o PAF em andamento e norteando as ações, a equipe poderia lançar como estratégia os atendimentos domiciliares, considerando a ausência de transporte e precariedade de renda. E provavelmente, com o plano, a situação de insegurança alimentar já teria sido considerada logo nas primeiras intervenções. Acolhida Esta acolhida mencionada no exemplo não é a ação essencial do PAIF. Por quê? Chamei de acolhida para pontuar a confusão que se faz entre a Acolhida, uma ação postulada como uma metodologia de assistência/atendimento e a acolhida que é a maneira como TODOS os membros da equipe recebem os usuários na unidade ou como interagem com os mesmos na comunidade (ter postura atenciosa e empática. É ter genuíno interesse pela pessoa/família que está sendo atendida). No exemplo, ao apontar que a mulher já era usuária da unidade, subentende-se que a acolhida (como ação do PAIF) já ocorrera. Mas é bom se atentar que a acolhida não acontece uma única vez, está posto sumariamente porque o desafio requer um fechamento mais objetivo – Sugiro a leitura dos conceitos abordados nos cadernos de orientações dos serviços e na PNAS P.S. Outras avaliações são possíveis para este exemplo apresentado. Portanto, caso queira acrescentar suas análises, saiba que será de extrema valia conhecê-las. Instagram do Blog: @psicologianosuas Facebook: Blog Psicologia no SUAS _______________________________________________ Atualizado em: 21/07/2019
Sobre modos e meios de resistência ao desmonte da assistência social
Por Rozana Fonseca Levei tempo tentando achar o tom mais adequado para este texto, porque tenho medo de produzir discurso enviesado na responsabilização de quem é vítima. Mas já escrevi dois textos marcando minha indignação quanto ao governo atual e por isso a escolha por este caminho, além do mais, não dá para desfazer o governo (se fosse mulher no posto, até que dariam um jeito…). Diante do retrocesso (ranço dessa palavra, mas não conheço outra melhor e mais capaz de condensar o que estamos vivendo), da retirada à fragilidade dos direitos (todos eles: humanos, sociais, civis, políticos), muitos me perguntam: Como continuar acreditando no SUAS? Como manter a motivação? O que fazer diante do desmonte, falta de profissionais, redução ou fechamento de unidades de proteção social? É difícil propor respostas a essas inquietações sem particularizá-las porque temos uma diversidade de situações e contextos – considerando os aspectos socioeconômicos e políticos de cada região do Brasil, mas eu desconfio que se faz urgente repensar nossa ausência nas instâncias de controle social, bem como questionar a qualidade quando há participação. Os tempos são sempre de resistência e de luta para vários povos, minorias, e movimentos sociais – mas aos tempos atuais, acrescenta-se tensão, terrorismo, autoritarismo, Fake News e amadorismo. Lutas por direitos, por transformações sociais, são campos de forças e na maioria das vezes o governo impera. Vejo como saída mais disponibilidade para participar dos campos de disputas e defesas de interesses coletivos. Porque acredito que o cenário atual escancara a nossa falta de mobilização e de ocupação dos espaços de controle e participação social. Mas também expõe a fragilidade dos resultados dessas instâncias. Fragilidade porque a manutenção e o porquê desses espaços não estão solidificados e não têm o mesmo prestígio nas diferentes regiões. Nas grandes cidades temos organizações de grande atuação e com indiscutível relevância enquanto que nas médias e pequenas cidades há uma lacuna enorme de organizações coletivas. Cada centro urbano com suas dificuldades. Nas metrópoles, mesmo com várias organizações coletivas, é sabido que a participação popular não é muito expressiva ou os espaços mais disputados, são concorridos pelas mesmas pessoas, estas que revezam nos cargos de representatividade diante da falta de pessoas interessadas em disponibilizar tempo de sua jornada para lutar por causas coletivas. Nas médias e pequenas cidades os espaços são dificultados pela personalização das relações, pela rotatividade dos profissionais e pela precarização dos vínculos trabalhistas, o que força o profissional a trabalhar em dois ou mais municípios para receber um vencimento razoável. Vou problematizar as conferências municipais dos conselhos de direitos porque já presenciei muita participação protocolar nesses espaços e porque também defendo que não há meios de aperfeiçoar uma prática senão passarmos pela criticidade e pela análise da efetividade do que está sendo feito. Por isso pontuo algumas situações a serem superadas: Trabalhadores presentes em conferência para cumprir dia de trabalho e para desempenhar atividades operacionais e de logística. Trabalhadores como facilitadores dos grupos de trabalho porque foram designados para tal função, contudo não fazem a menor ideia do que são as temáticas a serem discutidas. Trabalhadores que não sabem se estão como governo ou sociedade civil (o resultado desse equívoco é desastroso e sintomático porque evidencia que os trabalhadores estão alheios ao seu lugar de disputa e defesa). Cabe a pergunta: testemunha-se tal situação por desinteresse dos trabalhadores ou pelas condições de gestão do trabalho no SUAS que não viabilizam estudos, capacitações? Se olharmos mais de perto, vamos encontrar as duas variáveis. E os usuários? salvo um número pouco expressivo, estamos longe de afirmar uma participação efetiva. Já presenciei usuário conselheiro votando em pauta que apenas favorecia interesses do governo, minha atenção ao seu voto foi maior ao vê-lo dias antes em reunião com gestor da assistência social – este que o convocou para um encontro. Conseguinte, o descrédito e a depreciação desses espaços deliberativos são inevitáveis. A desmotivação para se dedicar a esse campo também se torna certa, daí perguntamos, quais motivos temos para acreditar em um processo tão passível de dissimulação? Serão esses os motivos da ausência de tanta gente? Ou serão essas ausências as motivadoras desses resultados protocolares e questionáveis? Então, como resistir usando ferramentas que nós desconhecemos ou que pouco lhes conferimos créditos? É sabido que conferências, conselhos de direito já funcionaram como marcos decisivos no avanço dos direitos sociais e já se mostraram como possibilidade efetiva de participação da sociedade civil nas decisões do governo. E é válido pontuar que a natureza de intensas disputas e tensões de forças não são ruins em si mesmas, pois são inerentes a construções heterogêneas com vários interesses em pauta. O que não dá é só um lado da força se apossar do terreno, munidos pelo privilégio do acesso e conhecimento do sistema, e se fazer presente de maneira tão desonesta. Uso o exemplo do conselho ou conferência, mas é preciso se abrir para os espaços de defesa da classe trabalhadora e dos usuários como Fóruns municipais ou regionais dos trabalhadores, Fóruns municipais dos usuários, pois são imprescindíveis como resistência e construção coletiva para evitar o que falei no início do texto: a perseguição política e personificação das lutas. Discorridas as críticas ao modus operandi dessas instâncias coletivas e à nossa exígua presença nas mesmas, por onde podemos começar? Participar como ouvinte das reuniões ordinárias do CMAS e outros conselhos de direitos, bem como de outras políticas púbicas do município; Ficar atentos no prazo da eleição de composição dos conselhos; Criar fórum dos trabalhadores ou reativá-lo; Mobilizar, incentivar e colaborar com os usuários para que os mesmos possam ser capazes de decidir e organizar seus espaços de lutas e defesas coletivas. Incorporar nas atividades coletivas dos serviços do SUAS, ao longo do ano, as temáticas e práticas de participação e controle social; Participar de sessões ordinárias na Câmera de vereadores; Acionar o Ministério Público diante de assédio moral no trabalho; Acionar o Ministério Público frente a ameaça aos direitos sociais (é nossa função a defesa social e institucional, mas sozinhos
DIÁLOGO SOBRE O BPC
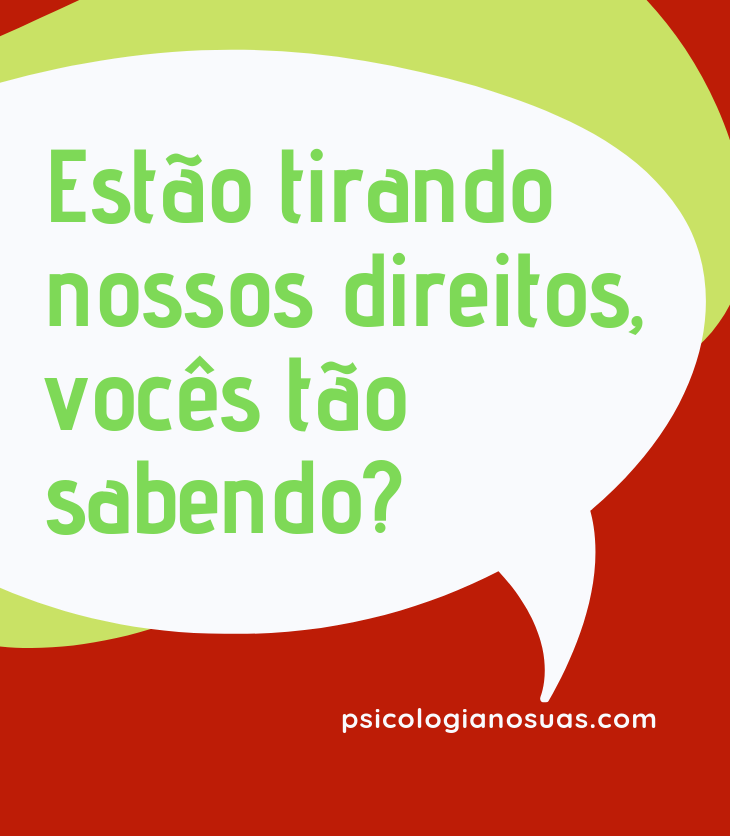
Sra. Maria, sr. José, Estão propondo alterar a LOAS, lei que garantiu um benefício para os idosos acima de 65 anos que não têm meios para prover o próprio sustento e não tem quem possa fazer por eles. Estão tirando seus direitos, vocês tão sabendo? Na redação original, lá em 1993, era só para idosos com mais de 70 anos, depois passou para 67 e após o Estatuto do Idoso (2003), está fixado em 65 anos. Várias propostas de conferências dos direitos da pessoa idosa e da assistência social já apontavam para a importância de garantir o benefício a partir dos 60 anos. Olha a deliberação da última Conferência Nacional de Assistência Social: 2. Alterar os critérios de concessão do Benefício de Prestação Continuada – BPC estabelecendo: a) Aumento de renda per capita para meio salário mínimo; b) Redução da idade do idoso para 60 anos; c) Não computação do valor do benefício na renda per capita para efeitos de concessão do BPC a outra pessoa idosa e/ou com deficiência na mesma família; d) Não computação de benefícios previdenciários de até um salário mínimo no cálculo da renda per capita para concessão do BPC à pessoa idosa e à pessoa com deficiência; e) Não computação da renda do curador no cálculo da renda do curatelado para fins de acesso; f) Ampliação em 25% no valor do BPC para pessoas que necessitam de cuidador; g) Concessão de 13º parcela anual; h) Incluir as pessoas com doenças crônico-degenerativas na concessão do Benefício de Prestação Continuada-BPC; i) Garantir a continuidade da vinculação do benefício ao salário mínimo nacional; j) Garantir a continuidade do modelo de avaliação das pessoas com deficiência baseado na CIF (Classificação Internacional da Funcionalidade) para o acesso ao BPC; k) Incluir novamente as pessoas com transtornos mentais graves e doenças raras; l) revogar imediatamente o Decreto Federal nº 8.805/2016 e todas as normativas que ferem os direitos constitucionais sobre as pessoas com deficiência e idosas. (Resolução nº 21/12/2017) Estava até indo bem, apesar dos passos lentos, né? Conferência, Sr. José? A cada dois anos o governo e sociedade conferem como estão as políticas para os idosos na sua cidade, propõem sobre o que precisa melhorar e deliberam ações em prol das pessoas idosas. O sr. nunca participou de uma? Já. Tem até foto do Sr. no site da prefeitura – na primeira fila. Sabia que estão querendo realizar as conferências só a cada quatros anos, e talvez nem realizar mais? O caráter deliberativo desse espaço de controle social também corre risco. Direitos sociais, num mundo cujos donos do capital ditam as regras, exigem defesa constante. Maria, a proposta é muito apartada da realidade do país. Quero dizer que quem propôs ou deixou como texto final não está preocupado em diminuir ou evitar o aumento da desigualdade social, porque idoso em situação de miséria, na maioria dos casos, tiveram um passado sem ou com precário acesso aos direitos sociais e civis. Muitos não sabem escrever o próprio nome; Muitos são vítimas do trabalho infantil e precoce; Muitos não têm um único registro na carteira de trabalho; Muitos nunca tiveram esse documento; Muitos nunca receberam salário mínimo – só experenciaram bicos; Muitos e muitos mesmo, não tem bens nenhum; casa própria? Patrimônio de R$ 98.000?; Muitos têm algum tipo de problema de saúde, físico e/ou mental, decorrente do esforço físico precoce e intenso, além de exposição a ambientes insalubres. Muitos tiveram/têm doenças não tratadas corretamente ou em tempo hábil – o que os deixaram sequelas, não estou falando de pessoa com deficiência. Se encaixou em várias dessas situações, dona Maria? Agora reflita comigo: faz o que com R$400,00? Não, Maria. Ampliar a faixa de idade, mas diminuir de forma tão abrupta o valor (de R$998,00 para R$400,00) não é vantagem, é moeda de troca, é cilada. Ninguém deveria receber menos que o mínimo. Uma vida inteira de misérias, da financeira a de potência, para viver os últimos dias de vida nem com o mínimo? Últimos dias. Não sei. Mas muito não costuma ser. A elevação da expectativa de vida não se aplica, significativamente, aos milhares de idosos que vivenciaram as situações que descrevi acima porque o resultado dos estudos reflete a desigualdade social, então o pobre vive menos e vive pior. Portanto, a instituição dos direitos sociais é para reverter e minimizar as mazelas advindas desse quadro. E é para frente que se anda! Não dá para aceitar menos do que foi, duramente, conquistado nas últimas décadas. E agora, Maria, José, o que fazer? Espalha essa notícia, rebelem-se todos. Com indignação, com luta, Rozana Fonseca
Autonomia profissional e o trabalho no CREAS

Por Thaís Gomes * A motivação para escrever este texto surgiu a partir de diversas inquietações sobre o trabalho no SUAS, sobre intersetorialidade, sobre os avanços e recuos na política de assistência social e sobre o desgaste a que estamos submetidos quase que diariamente, especialmente no que se refere a autonomia profissional neste âmbito – um incômodo daqueles que ativam a gastrite – brincadeiras a parte, o sentimento é de que precisamos matar um leão por dia. Sabemos que em nossos locais de trabalho estamos lidando com diversas realidades e especificidades, seja no perfil do município e do público-alvo da política, da gestão, na quantidade e qualidade da oferta dos serviços, na relação com as demais políticas setoriais e órgãos de garantia/defesa de direitos e tudo isso vai impactar de alguma forma a nossa prática profissional. Com este texto convido-os a refletir sobre como tem se dado a relação entre a autonomia profissional, os princípios éticos das profissões que compõe o SUAS, o escopo da política de assistência social e as solicitações de relatórios que são feitas aos equipamentos especialmente pelos órgãos do sistema de justiça. No que diz respeito a autonomia profissional, trabalharei na perspectiva de que esta se manifesta no arcabouço legal normativo da profissão, no caso do Serviço Social como um direito do Assistente Social, expresso no Código de Ética da profissão em seu artigo 2º, alínea h) ampla autonomia no exercício da profissão, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos ou funções; e que tem suas atribuições e competências claramente definidas na Lei 8662/93 – Lei de Regulamentação da Profissão. Cabe destacar que extrapola os objetivos desta reflexão um aprofundamento teórico da discussão de autonomia profissional dentro do Serviço Social, para quem se interessar em aprofundar um pouco mais sobre o tema deixo como sugestão o artigo “A relativa autonomia do assistente social na implementação das políticas sociais: elementos explicativos” de Vera Maria Ribeiro Nogueira e Silvana Marta Tumelero. (1) Dito isto, vamos ao que se propõe esta breve reflexão. A NOB-RH/SUAS refere, no que diz respeito aos princípios éticos para os trabalhadores da assistência social, que “a Assistência Social deve ofertar seus serviços com o conhecimento e compromisso ético e político de profissionais que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das potencialidades e da emancipação de seus usuários”, além de esclarecer também que “os princípios éticos das respectivas profissões deverão ser considerados ao se elaborar, implantar e implementar padrões, rotinas e protocolos específicos, para normatizar e regulamentar a atuação profissional por tipo de serviço socioassistencial.” Trazendo essa reflexão sobre autonomia profissional e os princípios éticos do trabalho na política de assistência social para o âmbito da proteção social especial de média complexidade, especificamente para o CREAS, apresento algumas pontuações relativas a seu papel no SUAS e na rede de atendimento para posteriormente apresentar as reflexões relativas a autonomia profissional neste contexto. Sabe-se que o CREAS é o equipamento de referência na oferta de trabalho social especializado de caráter continuado a família e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, pela ocorrência de violação de direitos. O papel do CREAS e suas competências enquanto órgão da política de assistência social fazem parte de um arcabouço de leis e normativas que fundamentam e definem esta política social e regulam o SUAS, desse modo, devem ser compreendidos a partir da definição da finalidade/objetivos da política do SUAS, ou seja, afiançar seguranças socioassistenciais, na perspectiva de proteção social, conforme descrito nas orientações técnicas do CREAS. O caderno de orientações destaca ainda a importância de se compreender e delimitar quais as competências do CREAS para o desempenho efetivo de seu papel enquanto equipamento do SUAS, para que seja possível elucidar qual seu papel e buscar fortalecer a sua identidade na rede intersetorial e também evitar a incorporação de demandas que competem a outros serviços ou equipamentos da rede socioassistencial, de outras políticas setoriais ou mesmo de órgãos de defesa de direitos. Desse modo, expressa ainda que ao CREAS não cabe “I) ocupar lacunas provenientes da ausência de atendimentos que devem ser ofertados na rede pelas outras políticas públicas e/ou órgãos de defesa de direitos; II) ter seu papel institucional confundido com o de outras políticas ou órgãos, e por conseguinte, as funções de sua equipe com a de equipes interprofissionais de outros atores da rede, como, por exemplo, da segurança pública (delegacias especializadas, unidades do sistema prisional, etc), órgãos de defesa e responsabilização (poder judiciário, ministério público, defensoria pública e conselho tutelar) ou de outras políticas (saúde mental, etc) e por fim III) assumir a atribuição de investigação para a responsabilização dos autores de violência, tendo em vista que seu papel institucional é definido pelo papel e escopo de competências do SUAS” (p.26,27). Porém, como vemos, ainda que esteja claramente delimitado qual é o papel institucional do CREAS e qual é o tipo de trabalho a ser desenvolvido neste equipamento, em nosso cotidiano profissional é muito comum nos depararmos com situações nas quais somos chamados a elaborar relatórios com objetivos que não coincidem com os objetivos do trabalho social na proteção social especial. Vale ressaltar que isto vem sendo recorrente também no âmbito da proteção social básica, conforme tenho visto nos relatos dos profissionais. De acordo com o caderno de orientações técnicas a elaboração de relatórios sobre os atendimentos e acompanhamento das famílias e indivíduos constitui uma importante competência do CREAS, ressaltando que estes não devem se confundir com a elaboração de laudos periciais, relatórios ou outros documentos que possuam finalidade investigativa que constituem atribuição das equipes interprofissionais dos órgãos do sistema de defesa e responsabilização. Quando ocorrer a solicitação é necessário que seja resguardado o disposto nos códigos
Caderno de Orientações Técnicas do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para PCD e Idosas
Download ⇒ Caderno de Orientações Técnicas do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas Sobre o Serviço (Tipificação – 2009) O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. O serviço deve contribuir com a promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoas idosas aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede socioassistencial, aos serviços de outras políticas públicas, entre elas educação, trabalho, saúde, transporte especial e programas de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de defesa de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação. Desenvolve ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo do serviço Para BAIXAR a Tipificação, clique Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais – Reimpressão 2013
SUAS e Conselho Tutelar: para que serve a crítica?
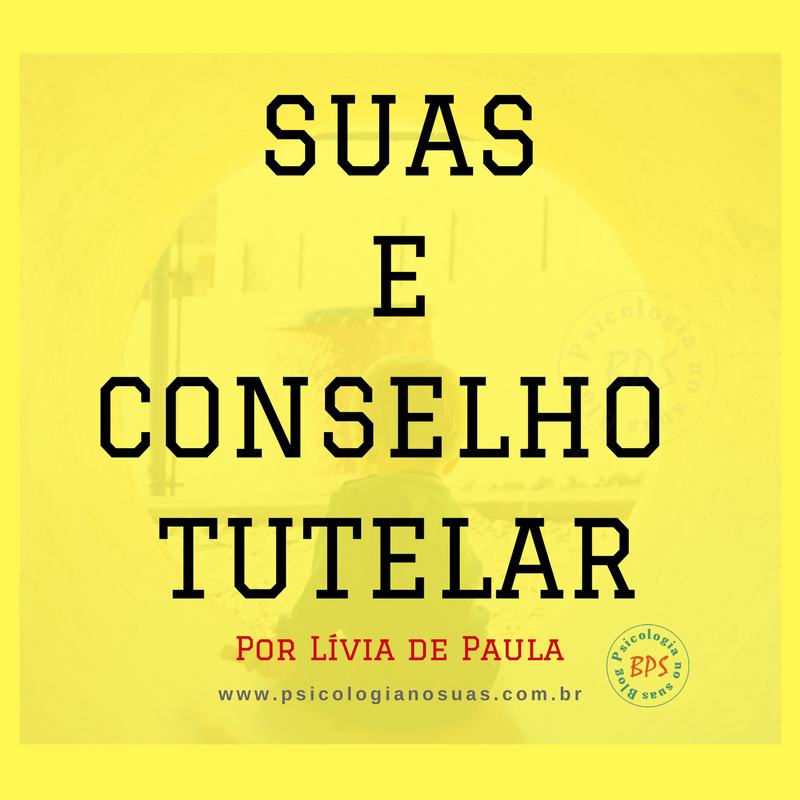
Por Lívia de Paula* No contexto de trabalho da Proteção Social Especial, especificamente nos acompanhamentos que envolvem violação de direitos contra crianças e adolescentes, um dos nossos parceiros mais importantes é o Conselho Tutelar. É bastante comum em capacitações, encontros e rodas de conversa dos profissionais do SUAS ouvirmos falas, as mais variadas, sobre a relação que é estabelecida com este órgão e sobre como esta relação tem impacto sobre as ações que desenvolvemos. Tais falas vão desde críticas ferrenhas à forma de funcionamento e posicionamento dos conselheiros até inquietações e reflexões sobre quais as possibilidades de se estabelecer um trabalho de efetiva parceria. É sobre isto que vamos dialogar neste texto. Pensem aí: como vocês têm olhado para o(s) Conselho(s) Tutelar(es) do seu município? Qual é a sua visão sobre os profissionais que ali trabalham? Vamos começar a conversa tentando compreender um pouco quais são as atribuições do Conselho Tutelar, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8069, de 13 de julho de 1990). De acordo com o ECA, em seu artigo 131: “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei”. Como órgão permanente e autônomo, não pode ter seu trabalho descontinuado em nenhuma hipótese. É importante ressaltar que, apesar de ser um órgão público municipal, o Conselho Tutelar não é subordinado a nenhuma secretaria ou outra instância, sendo independente para aplicar as medidas de proteção que lhe competem e que estão elencadas no art. 136 do ECA[i]. Suas deliberações só podem ser revistas pela autoridade judiciária, conforme redação do artigo 137 do mesmo estatuto.[ii] Através desta pequena amostra de alguns aspectos que definem o trabalho dos Conselhos Tutelares, vemos o quanto a tarefa destes profissionais é de grande responsabilidade e impacto na vida das crianças, adolescentes e de suas famílias. Por isso, boa parte das críticas que ouvimos têm sua justificativa pautada na falta de qualificação daqueles que assumem esta função e do quanto este trabalho exercido de forma pouco preparada pode, ao invés de proteger, acabar contribuindo para a perpetuação das situações de violação contra crianças e adolescentes. Poderíamos falar aqui também de vários outros pontos, que nos preocupam no que tange ao trabalho destes órgãos: falta de planejamento das ações, sobrecarga de tarefas, ausência de condições mínimas de trabalho (local adequado para atendimento, veículo e outros equipamentos necessários para garantir uma atuação eficaz, respeitosa e ética), entre outros. Porém, não vamos nos ater a isso, pois a proposta da nossa conversa aqui é outra: agora que já consultamos o Estatuto da Criança e Adolescente e já nos informamos um pouco a respeito do trabalho do nosso parceiro, vamos pensar qual pode ser a nossa contribuição nesta história? Estamos falando de parceria. Parceria é trabalhar com. E aí, eu me pergunto: quando procuramos o Conselho Tutelar, qual é o nosso objetivo? Creio ser esta uma indagação imprescindível para refletirmos sobre como podemos estabelecer um trabalho intersetorial. Será que, quando pensamos em acionar este órgão, estamos dispostos a conhecer e a compreender o trabalho e os desafios que o(s) Conselho(s) Tutelar(es) enfrentam em sua rotina? Infelizmente, o que vejo na prática é algo muito distante disto: serviços que não se comunicam, profissionais que não se entendem e que não se mostram abertos a ouvir quaisquer pontuações que pareçam divergentes das suas. Como resposta a estes ruídos comunicacionais, sobram críticas aos serviços e aos profissionais que deveríamos ter como nossos principais parceiros. Sabemos que o Conselho Tutelar figura entre os primeiros da lista dos equipamentos mais criticados e mais apontados como incompetentes por nós, técnicos da Política de Assistência Social. Você, caro leitor, pode estar aí pensando: mas tem muita coisa errada mesmo, como não criticar? Porém, a questão que me interessa aqui é como temos nos utilizado dessas críticas em nossa atuação. Até então, tenho visto que elas acabam servindo apenas como grandes entraves para a efetivação de um verdadeiro trabalho em rede. Não só no que diz respeito às relações com os Conselhos Tutelares, mas com os mais diversos atores que podem compor a nossa rede intersetorial. Partindo desta constatação, faço a todos nós um convite a reflexão: as nossas críticas têm servido para transformar a nossa realidade? Ou, no momento em que critico, esqueço que sou corresponsável pela realidade na qual estou inserida? E sem mergulhar nessa realidade, sem conhecer de perto os desafios que o meu parceiro – no caso do nosso texto, o Conselho Tutelar – enfrenta, será que é possível a construção de algum trabalho conjunto? Sobre esta questão, Njaine et al (2007) trazem valiosas contribuições: […] para a eficácia da ação em rede são necessários alguns requisitos que se constroem no processo: horizontalidade dos setores; representação de diversas instituições por intermédio de seus líderes; corresponsabilidade de trabalho; divisão de recursos e informações; autonomia das instituições parceiras para decidir, planejar, executar ações que visem à coletividade; capacidade de incorporar novas parcerias e permitir a saída de instituições ou pessoas; e sustentabilidade. Estes aspectos por si sós não garantem um movimento exitoso, mas são ao mesmo tempo pré-requisitos e parâmetros de ação. Os problemas que mais prejudicam o trabalho em rede são: disparidade de compreensão; divergências políticas; vaidades pessoais; conflitos de papéis entre as entidades participantes; rotatividade dos profissionais que atuam nas instituições parceiras; diferentes ritmos de trabalho; e incompatibilidade de quadros referenciais de vida.[iii] Se queremos e precisamos trabalhar com, é necessário inaugurar um novo olhar. É necessário baixar as armas e colocar nossas necessidades individuais em suspenso. Não é só o Conselho Tutelar que tem problemas. O SUAS também os tem. Aos montes. Principalmente neste momento que estamos vivendo, de direitos e políticas ameaçadas. Diante dos problemas, temos dois caminhos: a lamúria e a crítica vazia ou a crítica propositiva que nos auxilia na construção de caminhos e estratégias. Antes de atirar a primeira pedra, visite o Conselho Tutelar do seu município. Mas proponha a si mesmo uma visita diferente. Vá
“Cadê o pessoal dos direitos humanos? ” Está no SUAS!

Por Tatiana Borges* Nestes tempos em que o óbvio precisa ser dito, tenho sentido a necessidade de provocar uma reflexão sobre os direitos humanos e a política de assistência social, sem, é claro, qualquer pretensão de esgotar um tema de tamanha complexidade e que na realidade nem me parece tão óbvio assim. O fato é que muito se tem dito de direitos humanos, no senso comum, na parcela retrógada da sociedade e nas redes sociais o termo aparece de forma pejorativa, carregado de distorções, mas e em nosso meio, entre nós profissionais das áreas humanas, técnicas/os do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, como estas questões têm sido difundidas? Trabalhamos com uma política que visa garantir direitos e como falamos de direitos para os nossos usuários e usuárias? Direitos sociais e civis estão descolados dos direitos humanos? Vislumbramos a assistência social como direito? Estamos mesmo falando em direitos? Este texto é um convite para pensarmos nestas indagações e começo deixando claro que, a meu ver, o nosso lugar de fala não nos permite a acomodação do senso comum, tampouco a repetição das falácias que têm sido ressaltadas por aí como, por exemplo: “direitos humanos para humanos direitos”, “direitos humanos só serve para bandidos”…, mas, por que não podemos reproduzir o que todos falam? Primeiro por que falar em direitos humanos na contemporaneidade significa falar em direito de ser pessoa, de se constituir como gente, sem desassociar uma classe de pessoas de outra classe, como se uma classe de pessoas fosse ‘do bem’ e considerada portadora de direitos e a outra classe, ‘a do mal’, não tivesse dignidade. Desta forma, toda pessoa, por ser humana, deve contar com os direitos humanos, que na verdade são um conjunto de direitos. Nas palavras de Hanna Arendt “temos direito a ter direitos” e isso nos remete aos princípios da igualdade e equidade e ao pressuposto constitucional de que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (art. 5º). Segundo por que não existe divergência entre a defesa dos direitos humanos e o combate à criminalidade, muito pelo contrário, é justamente por se incomodar com a criminalidade que se defendem direitos, dentre eles o da segurança pública. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 3º) diz que: “Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, veja só os direitos humanos se associa à segurança, portanto não são coisas destoantes. A despeito da imensa literatura sobre direitos, o texto de Ramon Kayo “Ninguém é a favor de bandidos, é você que não entendeu nada” aborda esta questão da infeliz associação de direitos humanos com ‘defesa de bandido’ de uma forma bem didática, recomendo a leitura e destaco o trecho que evidencia que não é infringindo os direitos humanos que se diminui o número de marginais: “É confuso que o cidadão que clama tanto por justiça, que a lei seja cumprida, fique ávido para descumpri-la: tortura, homicídio e ameaça são crimes, mesmo que sejam contra um condenado. Então, não, bandido não tem que morrer, porque isso te tornaria tão marginal quanto (…) ninguém quer que os bandidos sejam especiais: o que o ‘povinho dos Direitos Humano’ quer é que a sociedade não crie mais marginais e que a quantidade dos existentes diminua” Assim, é por acreditar que a negação de direitos básicos traz consequências que afetam a vida de todas as pessoas e por saber que o modo como nos relacionamos em sociedade possui raízes na estrutura social, econômica, política e cultural do país e do mundo que se defendem direitos, individuais e coletivos, a todos e a quem deles necessitar. Efetivamente, não pretendo aprofundar neste espaço o debate sobre criminalidade, mas considero imprescindível conectar as demandas de nosso trabalho no SUAS, sobretudo as demandas dos usuários que atendemos, à realidade social mais ampla e esta realidade inclui o debate sobre os direitos humanos, direitos estes construídos historicamente com a influência internacional e que são entendidos como uma unidade indivisível, interdependente, inter-relacionada e de alcance universal. Os direitos humanos no SUAS Além do fato da assistência social ter como uma de suas funções a defesa e garantia dos direitos, a afirmação que nós, trabalhadoras/es do SUAS, somos ou deveríamos ser defensoras/es de direitos humanos faz sentido se atentarmos para a própria Política Nacional de Assistência Social – PNAS 2004 que coloca o SUAS como um dos sistemas que defende e promove direitos humanos: “São princípios organizativos do SUAS: articulação interinstitucional entre competências e ações com os demais sistemas de defesa de direitos humanos, em específico com aqueles de defesa de direitos de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, negros e outras minorias; de proteção às vítimas de exploração e violência; e a adolescentes ameaçados de morte; de promoção do direito de convivência familiar; ” (p 88). “A atenção às famílias tem por perspectiva fazer avançar o caráter preventivo de proteção social, de modo a fortalecer laços e vínculos sociais de pertencimento entre seus membros e indivíduos, para que suas capacidades e qualidade de vida levem à concretização de direitos humanos e sociais” (p 90). Na NOB SUAS 2012 também aparece a defesa da dignidade da pessoa humana, como princípio ético para a oferta da proteção socioassistencial no SUAS. Defender a dignidade da pessoa humana é defender direitos humanos, o que inclui a defesa incondicional da liberdade, da privacidade, da cidadania, da integridade física, moral e psicológica. (Art. 6º). Ao analisar as categorias profissionais que compõem o SUAS a ligação com os direitos humanos é revelada em praticamente todos os códigos de ética que disciplinam as áreas de saber integrantes deste sistema: Assistente Social: “Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo”. (Princípios Fundamentais). Psicóloga/o: “O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. ” (Princípios Fundamentais). Advogada/o: “O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos