Implicações do descrédito de familiares à fala de crianças e adolescentes que sofreram violência sexual
A campanha referente ao 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes tem uma capilaridade significativa e pelo que é possível acompanhar pelas páginas nas redes sociais as atividades de serviços de proteção contemplam, sobretudo, escolas, passeatas e blitz educativa nas ruas que atinge transeuntes. Nas escolas e demais espaços, o foco em geral é educar as crianças e adolescentes a dizerem NÃO a pedidos e comportamentos violadores de suas partes íntimas e aos adultos, posso resumir, que se ensina habilidades para identificação de sinais de violência. Em que pese alguns formatos, nada de errado nestas estratégias, mas quero trazer um questionamento que tem base em duas publicações realizadas aqui no BPS e no Canal Youtube. Minha pergunta é se as discussões das campanhas têm chegado nas mães, nos pais, nas avós e avôs e em quem cuida de crianças e adolescentes no geral. Basta focar em instituições e em profissionais e, sobretudo, nas potenciais “vítimas”? Como fazer o debate chegar às mães, aos pais, avós e avôs e outres responsáveis? Estas pessoas estão em suas casas, nas tarefas de reprodução social, nas faculdades, nas fábricas, nas indústrias, no comércio e em outros postos de trabalho. Eu acredito que é preciso criar estratégias de comunicação – em seus diversos tipos e veículos. Por que não criar campanhas com objetivos mais ampliados e com menos peso nas crianças e nos adolescentes? As campanhas atuais salientam que crianças e adolescentes saibam reconhecer a hora de dizer NÃO e direcionam ao adulto o roteiro de não fique calado, DENUNCIE. A questão é que muitas crianças e adolescentes saberão que dizer NÃO não será suficiente para parar ou evitar um abuso/violência. Vejam, eis que apresento agora a justificativa à minha proposição. Antes da pessoa adulta denunciar ela precisa acreditar no relato da criança ou adolescente. E sabe quem diz que não é tão fácil assim de serem acreditados? As pessoas, hoje adultas, relatam[i] suas experiências dolorosas por terem suas falas e experiências banalizadas ou silenciadas por quem, mais uma vez, deveria proteger e cuidar. Não só as pessoas adultas apontam isso, em um vídeo do Canal do BPS no Youtube[ii] onde compartilhei o curta “O Segredo”[iii] (está com um milhão e meio de visualizações) milhares de comentários que aparentemente são a maioria de adolescentes expõem que se sentem desamparados por não terem uma pessoa que acredite em seus relatos, deslegitimando seus sofrimentos – no presente ou no passado. A partir dessas interações no vídeo, eu resolvi escrever uma Carta aberta[iv] a essas pessoas com a intenção de conscientizar sobre a importância de falar com algum adulto quantas vezes fossem necessárias sobre o ocorrido, enfatizei que é preciso quebrar o silêncio. Contudo, passados cinco anos da publicação da carta eu continuo recebendo comentários públicos e privados sobre um aspecto da minha carta que me chama muito a atenção. O fato de ter sofrido várias tentativas de violência, não é o destaque dos comentários e consequentemente não é a origem do maior sofrimento de quem me escreveu, o destaque é o quanto eu tive “sorte” de ter uma mãe que acreditou em mim tão logo eu falei sobre as minhas vivências. São por essas pessoas e por acreditar que as campanhas do faça bonito precisam reconhecer que há uma dimensão ainda pouco explorada sobre prevenção e proteção à crianças e adolescentes que sofreram ou sofrem violência sexual que escrevo este texto. É urgente trabalhar com a dimensão da conscientização da pessoa adulta sobre as implicações do NÃO e do SIM que são dados quando lhes são reveladas situações de violência. Os manuais[v] referentes a escuta de crianças e adolescentes reforçam aos profissionais do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente a importância de se acreditar na criança, mas penso que devemos criar peças de comunicação e outros formatos de atividades que falem diretamente com as mães, pais, avós e responsáveis sobre as implicações do crédito ou descrédito ao que é verbalizado – ou comunicado de outras maneiras, sobre a vivência. Reforço com o relato de que na minha prática como psicóloga no SUAS e no SUS, neste último atendendo pessoas adultas em intenso sofrimento psíquico, as situações mais severas tem a ver com o fato de que essas mulheres se sentem ainda desamparadas pela pessoa adulta com a qual compartilhou na infância a violência sofrida. O sofrimento persistente revela uma prisão ao fato de terem sido desacreditadas, de experenciarem o constrangimento por terem contado algo que ficará pairando no ar sobre a égide do fingimento e do silenciamento imposto por essa/esse outro adulto que deveria cuidar. Também não é raro relatos de que foram impedidas de buscarem “justiça” – por isso, vale inferir que as estatísticas sobre casos de violência sexual não revelam substancialmente a realidade. O segredo é muito comum quando a violência é intrafamiliar, mas é também significativo em outros contextos. Portanto, não me parece suficiente dizer à pessoa adulta que ela precisa denunciar – isso ela já sabe! Precisa mudar a narrativa e conscientizar que uma pessoa tem mais chances de sofrer e até adoecer severamente por não ter tido o apoio de um adulto cuidador do que pela violência sexual sofrida. A clínica é soberana em demonstrar que é possível ressignificar as agressões e a figura do agressor, ou no jargão psicológico, elaborar as marcas de uma violência sexual, mas é muito, muito difícil de lidar ao longo da vida com o desamparo frente ao menosprezo de uma dor ou de uma vivência tão angustiante e ambígua que registra na pessoa uma fenda profunda e indecifrável que a atormentará por anos sem data para cicatrizar. [i] Referência à minha prática clínica no SUS [ii] https://www.youtube.com/watch?v=CvQ8QU9MSPU [iii] Fonte e Disponibilidade no site SaberTV Gênero: Animação, Infantil Ano: 2005 – País: Coréia do Sul [iv] https://psicologianosuas.com/2019/05/19/carta-de-uma-psicologa-a-vitima-de-violencia-sexual/ [v] https://www.childhood.org.br/publicacao/guia-de-referencia-em-escuta-especial-de-criancas-e-adolescentes-em-situacao-de-violencia-sexual-aspectos-teoricos-e-metodologicos.pdf
Carta de uma psicóloga à vítima de violência sexual

Eunápolis, 18 de Maio de 2019 Às queridas crianças, adolescentes e adultos (especialmente meninas e mulheres) Resolvi escrever esta carta motivada pela data de hoje a qual marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e principalmente pelas dezenas de comentários que foram deixados em um vídeo (com mais de um milhão de visualização) sobre violência sexual no Canal do Blog Psicologia no SUAS no Youtube. Fiquei pensando em como poderia ajudar vocês, ou melhor, como conversar com vocês. Optei pela carta através do blog porque posso alcançar mais pessoas. Eu escrevo como mulher e como psicóloga. Como mulher quero dividir com vocês meus episódios de violência sexual porque vi que muitas meninas (meninos também) sofrem caladas e espero que meu depoimento encoraja vocês a falarem, a buscarem ajuda. Como psicóloga vou falar tentando alcançar, além de vocês, um responsável familiar ou alguém a quem vocês mostrarão esta carta porque confia muito nessa pessoa. Como psicóloga já escutei experiências absurdamente graves, dolorosas e traumáticas. Meninas ou mulheres com intenso sofrimento psíquico diante de uma violência sexual por atos libidinosos e meninas/mulheres que lidaram sem desenvolver transtornos mesmo diante de passar anos sendo vítima de estupro. Mas há vários pontos em comum entre todas: sofrimento; culpa; dificuldade de relacionamento; insegurança e sobretudo, o silêncio. Eu fui “salva” ao quebrar o silêncio – é por isso que estou escrevendo, para dizer que é preciso falar, contar para alguém. Eu sei, vocês têm medo, têm medo de alguém não acreditar ou de alguém que vocês gostam muito se machucar, mas é preciso falar – alguém vai acreditar em vocês: tente uma, duas vezes ou mais se precisar, mas FALE, ESCREVA, GRITE! Eu também sei que tem grandes chances de que quem está te violentando é conhecido da sua família, um tio/a, primo/a, padrasto/madrasta, ou o próprio pai, mas sei também que ao guardar todo o sofrimento você vai ficar tão abafado, tão triste que você pode não conseguir viver alegre nos momentos de alegria e nem conseguir entrar, lidar e sair de tantos outros momentos tristes da vida. Às vezes se acumulam tanto que você sofre sem saber porque está sofrendo. O tempo vai passando e você pode até esquecer que foi vítima de violência, mas para muitas pessoas isso significa um mal tão grande que fará você lidar de maneira estranha e problemática com a sua vida e com as pessoas em sua volta. Se vocês estão lendo com atenção, já devem estar interessado em saber porque eu disse acima que FALAR sobre a situação me salvou. Vamos lá, estou pronta para te contar como passei pelas situações de violência sexual. O que já aconteceu comigo As primeiras situações de abuso sexual ocorreram quando eu era muito pequena, minha irmã tem as memórias sobre os fatos mais preservadas, mas sei que ao ir para escola éramos surpreendidas por um rapaz que se masturbava enquanto passávamos e segundo ela isso acontecia com frequência com outras garotas e ninguém do distrito fazia ou fez nada. Outra situação ocorreu quando íamos levar almoço para meu pai (zona rural) e um rapaz (colega de trabalho do meu pai) surpreendeu a mim e minha irmã nos expondo os genitais. Corremos de volta para casa e contamos para nossa mãe. Minha mãe acreditou imediatamente na gente, pegou o almoço e obrigou meu pai a se a ver com o rapaz. Enquanto escrevo sobre isso vou me recordando de detalhes e agora sei que ao ver como minha mãe lidou com essa situação, me fez ter coragem de contar a ela sobre a mais grave e marcante violência sexual que sofri e que vou contar depois dessa seguinte que foi por volta de 10 anos, onde eu estava dormindo na casa de um tio e mesmo dormindo na mesma cama com minha prima adulta, eu acordei a noite com alguém me passando a mão (era muito escuro e eu não consegui gritar, mas me mexia e aquilo ia embora, mas retornou e quando me movimentei mais bruscamente fiquei livre o restante da noite) sempre achei que fosse um dos primos meninos, mas relembrando agora, parece que foi minha prima, não parece? Olha como é incrível a nossa capacidade de rememoração! Passados 2 ou 3 anos eu fui vítima novamente. Dessa vez a família toda ficou sabendo. Um primo, adulto, trabalhava com meu pai, foi em minha casa em horário que eu estava sozinha e pediu algo como desculpa para estar comigo, ao entregar o objeto ele agarrou os meus seios e ficou tecendo palavras eróticas e fazendo planos para ficar comigo. Eu xinguei e corri. A única coisa que eu queria fazer era contar para minha mãe. Ele não podia continuar como o cara bacana e assim eu correr riscos na próxima vez que estivesse com ele. Minha mãe chegou em casa e logo contei a ela. E foi incrível que ela me respondeu agradecendo por eu ter contado a ela e que daria um jeito de conversar com ele, mesmo meu pai não querendo. Quando o primo chegou para jantar, minha mãe logo abordou o assunto. Eu ouvi tudo do quarto. Eu estava estarrecida ainda e com muita vergonha. A reação dos meus irmãos já não lembro mais, mas lembro da incredulidade da minha irmã e por incrível que pareça ela foi me perguntar se aquilo realmente aconteceu quanto já éramos adultas – e hoje sei que poderíamos ser muito mais próximas na adolescência se ela tivesse acreditado em mim naquela época. Hoje conversamos sobre isso e estamos muito bem! Minha mãe esculachou meu primo, sei que pediu desculpas e se retirou. Vejam só: a maneira que minha mãe lidou com o abuso que sofri fez toda a diferença – por isso tem que FALAR! (sei que você pode não ter uma mãe como a minha, mas alguém vai acreditar em você e fazer a diferença na maneira como você vai lidar com o problema). Até hoje sinto a
Reflexões sobre negligência familiar no contexto da política de assistência social

Por Thaís Gomes* A proposta do texto que ora se apresenta é refletir sobre o uso do termo negligência familiar no contexto da política de assistência social e no dia-a-dia dos profissionais inseridos tanto na proteção social básica como na especial de média e alta complexidade. O dicionário Aurélio define negligência como desleixo; incúria; indolência. É um termo utilizado para descrever situações onde grosso modo alguém deixa de prestar a assistência ou os cuidados necessários a algo ou alguém. No âmbito jurídico negligenciar alguém significa o “ato de omitir ou de esquecer algo que deveria ter sido dito ou feito de modo a evitar que produza lesão ou dano a terceiros” e este uso é o que mais se aproxima da linguagem utilizada pelos profissionais do SUAS na elaboração de seus relatórios, pareceres ou ainda nos estudos de caso em equipe, principalmente no que se refere a situações que envolvam crianças, adolescentes e idosos. No âmbito da proteção social básica por exemplo, casos avaliados como sendo situação de negligência (principalmente familiar) são geralmente encaminhados aos CREAS para que sejam acompanhados pela PSE, cuja oferta dos serviços, programas e projetos de caráter especializado é destinada a famílias e indivíduos que se encontrem em situação de risco pessoal e social por violação de direitos, abrangendo situações como violência física, psicológica e negligência, abandono, violência sexual, situação de rua, trabalho infantil, dentre outras. Essas situações vão requerer um acompanhamento especializado, individualizado, continuado e articulado com a rede. Esses encaminhamentos também podem vir de hospitais, atenção primária na saúde, conselho tutelar, dentre outros equipamentos que compõe a rede intersetorial. Porém, o uso deste termo exige um certo cuidado em sua aplicação, embora seja naturalizado e muito utilizado pelos profissionais da área social, especialmente a negligência familiar. Cuidado, pois, se faz necessário refletir sobre a origem desta negligência, para que não caiamos no erro de culpabilizar famílias sem considerar o contexto maior que as vulnerabiliza e torna a vida mais suscetível a situações de violação de direitos. Freitas et al. (2010) nos chama atenção para a necessidade de reflexão sobre a negligência a que as famílias, geralmente pobres e excluídas de um padrão mínimo de proteção social que lhes garanta qualidade de vida, são expostas em seu dia-a-dia. A negligência por parte do Estado, de acordo com as autoras, se configura na forma de um “silêncio” que prejudica o conhecimento de suas causas e dificulta a realização de ações preventivas que se façam necessárias. As autoras destacam ainda que classificar a categoria negligência demanda todo um esforço e sensibilidade para identificá-la nos contextos em que se apresentam. Apontam para a necessidade de se retirar os fatos e os sujeitos da imediaticidade da situação em que se encontram, visto que em muitos casos a presença da negligência demonstra a situação de vulnerabilidade social da população daquele território. Concordando com o que pontuam Freitas et al (2010), geralmente o encaminhamento das situações de negligência familiar se configura por meio de denúncia de situações como faltas constantes as aulas, roupas rasgadas, falta de asseio pessoal, ausência de cuidados com saúde e alimentação, dentre outros casos. A caracterização destes casos tende a ser carregada de concepções discriminatórias, que recaem especial e principalmente sobre as camadas mais pobres, associando negligência e pobreza, o que favorece de certo modo a criminalização da pobreza e das famílias pobres pela dimensão do social que lhes é atribuída, sendo vistas como “problema social”. Seguindo esta lógica, destacam as autoras “a negligência é imputada a famílias que vivem em situação de miséria, de pobreza e de vulnerabilidade, sendo duplamente perversa, pois a negligência social, por si só, constitui uma grave questão social.” Considerar que a negligência familiar é um fenômeno e que exige dos profissionais inseridos na política de assistência social, pelo escopo da própria política, um olhar atento, sensível e qualificado para que seja elaborada uma avaliação precisa do caso, com destaque para a importância de uma análise interdisciplinar da equipe de referência, é um caminho para romper com o ciclo de culpabilização das famílias, que desconsidera os problemas macroestruturais que as afetam como o contexto político-econômico, o acesso aos direitos sociais básicos, o acesso à informação, dentre outros. Se faz necessário e importante também, desse modo, e de acordo com Mioto (2013), reconhecer a “família com um espaço altamente complexo, que se constrói e se reconstrói histórica e cotidianamente por meio das relações e negociações que se estabelecem entre seus membros, entre seus membros e outras esferas da sociedade e entre ela e outras esferas da sociedade, tais como Estado, trabalho e mercado”. E nesse contexto, entendendo a família como “um processo de articulação de diferentes trajetórias de vida, que possuem um caminhar conjunto e a vivência de relações íntimas, um processo que se constrói a partir de várias relações, como classe, gênero, etnia e idade (FREITAS, 2000, p.8 apud FREITAS et al., 2010) Freitas et al. (2010) pontua ainda que falar sobre famílias significa pensá-las em suas relações tanto com a sociedade mais ampla onde se insere como também nas formas como elas se atualizam na vida diária das pessoas que lhe dão concretude e, nesse sentido, citam e concordam com Pereira (2007) no entendimento de que as políticas voltadas para as famílias devem ser “ um conjunto de ações deliberadas, coerentes e confiáveis, assumidas pelos poderes públicos como dever de cidadania para produzirem impactos positivos sobre os recursos e a estrutura da família.” Destacando ainda que o objetivo da política social em relação à família deve ser o de oferecer-lhes alternativas realistas de participação cidadã, entendendo que é dessa forma que as ações existentes na política nacional de assistência social e no sistema único de assistência social devem se relacionar com as famílias, levando em conta a matricialidade sociofamiliar como um dos eixos estruturantes do SUAS. As reflexões sobre a utilização do conceito de negligência familiar no âmbito do SUAS não se esgotam neste texto sucinto mas nos convidam a refletir sobre nosso fazer profissional e sobre a nossa
Erradicação do Trabalho Infantil: aspectos socioculturais como barreiras

Considerando que 12 de Junho é o Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil, eu criei uma LISTA com sugestões de materiais sobre Trabalho Infantil e para apresentá-la, elaborei um texto com algumas ideias e provocações sobre o Trabalho Infantil, porque entre tantos problemas sociais e desafios que enfrentamos no dia a dia do trabalho no SUAS, este é um deles. O trabalho infantil é um problema de muitas e complexas dimensões, como: econômica, social, política, histórica e cultural. Compreendo que para se avançar com a erradicação do trabalho infantil, precisamos romper com uma das piores dimensões: a sociocultural. Esta se torna a mais difícil de romper porque envolve educação, formação cidadã e subjetiva dos indivíduos e consequente mente da coletividade. A desigualdade social, como sabemos, não é objetiva e não pode ser considerada só pelas questões econômicas, porque perpassa pela discrepância no acesso e usufruto de TODOS os Direitos Humanos. A questão sociocultural, torna-se uma barreira na implantação e implementação de ações de erradicação do trabalho infantil, quando os operadores/agentes públicos, privados e sociedade civil naturalizam a pobreza e os fenômenos da desigualdade social. Vou exemplificar com dois agentes: Muitos professores, desde o Ensino Fundamental e trabalhadores sociais (com formação de nível médio e superior), reproduzem o discurso que “é melhor trabalhar do que ser arruaceiros ou roubar”, “o trabalho educa e disciplina”, “eu trabalhei e não morri por isso”. Discursos que revelam a reprodução do aspecto cultural e social da naturalização e perpetuação da pobreza, além da incompreensão sobre os riscos mais imediatos aos quais as crianças e os adolescentes ficam expostos, como desproteção, evasão escolar ou baixo “rendimento”, violência sexual, aliciamento para o tráfico, atropelamento, mutilamentos, e de forma ampla, se mostram alheios aos impactos e consequências do trabalho precoce no desenvolvimento físico e psíquico. O Brasil ainda tem 3,2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando (FNPETI) – Dados da PNAD de 2013. No mundo cerca de 168 milhões de crianças estão presas ao trabalho infantil – Dados do relatório World Report on Child Labour 2015 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Divulgado no O GLOBO (10/06/15). Como implantar ou implementar uma política na qual não se acredita? Se o trabalho infantil não fosse considerado crime, continuaríamos passivos diante deste cenário? Antes de condenar a família que leva os filhos para feira ou para a plantação de tomate, ou aplaudir um garoto (a) que estuda de manhã e vende picolé a tarde na praça da cidade, deve-se repensar as próprias convicções e lacunas no conhecimento, para ter condições de desfazer esse rastro de violência nossa de cada dia. Sobre este ponto da violência nossa de cada dia – longe de ser fatalista, mas sobretudo considerando os casos de violência que a proteção social de média e alta complexidade atendem, o ser humano é capaz de cometer atrocidades. Desde os primórdios e formação do que entendemos como sociedade hoje, existe violência entre os seres humanos. Os atos atrozes são imprevisíveis, por isso ficamos tão perplexos diante de crimes cometidos por pessoas consideradas “incapazes” de cometer tal ato. Esta reflexão é que me faz afirmar que o trabalho infantil é a pior forma de violência gerada pela sociedade. O ponto de ligação que tento tecer é que esta violência não é imprevisível, pelo contrário, é justamente o resultado da “canalhice” e incompetência do poder público, privado e desresponsabilização da sociedade civil. O cenário com tudo isso acima, reforçado com os aspectos socioculturais e históricos sobre o que é ser criança e adolescente, com o que cabe a e na pobreza e acrescentando a inabilidade com o trabalho intersetorial, continuará servindo de palco para a exposição e evidência das piores manifestações da desigualdade social. Acesse a Lista com indicação de produções para o combate ao Trabalho Infantil – <a rel=”noreferrer noopener” href=”http://<!– wp:html –> https://psicologianosuas.com/2015/06/14/sugestoes-de-filmes-documentarios-videos-educativos-legislacao-e-sites-sobre-trabalho-infantil/ Clique aqui Atualizado em junho de 2020
Núcleo de Estudos da Violência – USP
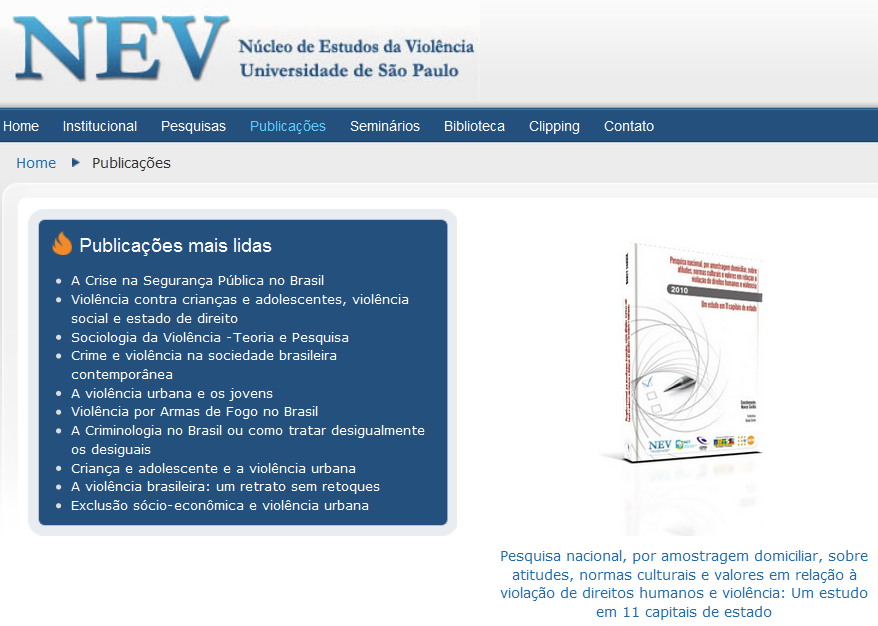
Oi Pessoal! Compartilho com vocês um site muito útil ( Núcleo de Estudos da Violência da USP – NEV) para os profissionais que atuam na Proteção Social Especial e claro, a todos nós do SUAS e outras políticas públicas como educação, saúde, Segurança Pública entre outras. Destaco a categoria “Publicações” pela expressiva quantitativa e variedade de textos, livros, material didático, pesquisas, artigos… enfim, tem muito material excelente! e para quem já estuda e trabalha com essa temática é quase que obrigatório visitar para saber o que pensa e vem produzindo esse grupo de uma das maiores Universidades da América Latina! A seguir, um trecho da apresentação do site “O Núcleo de Estudos da Violência da USP (NEV/USP) é um dos Núcleos de Apoio a Pesquisa da Universidade de São Paulo. Dede de 1987, o NEV/USP vem desenvolvendo pesquisas e formando pesquisadores tendo como uma de suas principais características a abordagem interdisciplinar na discussão as relações entre violência, democracia e diretos humanos. (…) Atualmente o NEV/USP tem investigado que tipo de democracia e governança tem se desenvolvido no Brasil, principalmente considerado o contexto atual onde: persistem graves violações de direitos; territórios são dominados pelo crime organizado; a presença da corrupção é sistêmica; as taxas de homicídio ainda são elevadas; a impunidade é alta; o acesso a alguns direitos civis é limitado; a cultura de direitos humanos, como suporte ao Estado de Direito, é, muitas vezes, ausente (…)” Núcleo de Estudos da Violência da USP – NEV Clique neste link para acessar as Publicações por Tema Publicações mais lidas A Crise na Segurança Pública no Brasil Violência contra crianças e adolescentes, violência social e estado de direito Sociologia da Violência -Teoria e Pesquisa Crime e violência na sociedade brasileira contemporânea A violência urbana e os jovens Violência por Armas de Fogo no Brasil A Criminologia no Brasil ou como tratar desigualmente os desiguais Criança e adolescente e a violência urbana A violência brasileira: um retrato sem retoques Exclusão sócio-econômica e violência urbana E você? conhece algum site que vale a pena nossa visita? compartilhe conosco!!
Dogmas e preconceitos podem aumentar mortalidade materna
(…)”A existência de morte materna em um país que conta com medicina avançada é uma violência contra as mulheres”, disse Leila Linhares. Segundo ela, essas mortes significam que as mulheres não tiveram bom atendimento na hora do parto, não fizeram pré-natal adequado e outras questões referentes à oportunidade e acesso. “Esses óbitos acontecem em maior número entre mulheres mais pobres, com menor nível de escolaridade e com menos acesso a serviços de saúde”, acredita Leila. (…) Trabalho aborda silêncio e a naturalização da violência contra mulheres e crianças Já Marisa Chaves relatou casos cotidianos com os quais lida em seu trabalho sobre o silêncio e a naturalização da violência contra mulheres e crianças. “No Movimento de Mulheres de São Gonçalo (MMSG), que hoje desenvolve ações para evitar a violência contra mulheres, crianças e adolescentes, estamos fazendo um levantamento quantitativo de crianças que foram violentadas por pais biológicos ou padrastos, e que sua genitora também tenha passado por isso. Temos dados concretos e reais dessa questão casada. O silêncio daquela mãe para não revelar que sua filha está exposta a uma violência sexual está muito voltado para o fato de ela ter de naturalizar a violência sofrida por ela mesma no passado, e, na ocasião, não ter tido apoio nem rede de proteção social para desvelar esse fenômeno para a sociedade”, contou Marisa(…) Informe na íntegra, clique abaixo: Informe ENSP – !1Dogmas e preconceitos podem aumentar mortalidade materna.
O Retrato da Violência Eunapolitana e Cidades vizinhas
Faço uso desse espaço para reproduzir um texto – Publicado no jornal impresso da região Eunápolis/Porto Seguro, Folha Popular maio de 2010 – que elaborei acerca da banalização da violência pelos sites de notícias em Eunápolis e cidades vizinhas. Discuto sobre a relação que a mídia local e os cidadãos eunapolitanos estabelecem com as diferentes formas de violência. Sugiro ainda, que os sites que publicam os corpos desfacelados sem qualquer polimento estão em desacordo com os Direitos Humanos e contrariam os direitos das famílias expostas. Assim, estão reproduzindo a violência e produzindo uma outra, não menos grave: a violência simbólica. O texto está na íntegra. Leia e deixe sua opinião! O Retrato da Violência Eunapolitana e Cidades vizinhas A violência urbana que acomete Eunápolis está tomando uma proporção desenfreada, a qual pode ter várias leituras. Sugiro que a mesma é proveniente de diversos fatores, como falta de segurança pública, fragilidade econômica, proliferação das drogas, vulnerabilidade social, e às características socio-históricas e culturais advindas da formação desta cidade que já foi o maior povoado do mundo. Este povoado foi administrado por dois municípios até sua emancipação, e sua formação se deu através da vinda de cidadãos originários de diferentes regiões da Bahia e de outros Estados, os quais chegavam para trabalhar sonhando com a expectativa instaurada em torno da fama do maior povoado do mundo. A junção destes fatores culminou com a fragmentação da identidade social do cidadão eunapolitano. Após esse breve apontamento histórico, devo retomar à principal questão que venho discutir: a banalização da violência urbana, especificamente em Eunápolis/BA Há meses assisto atônita às manifestações da população eunapolitana frente à violência urbana que acomete Eunápolis e cidades circunvizinhas e que é estampada nas páginas de notícias via internet. Enquanto cidadã e psicóloga me sinto no mínimo intrigada diante de tamanha popularização da divulgação das imagens pelos sites de notícias, dos indivíduos mortos através de diferentes formas, como acidentes, assassinatos, latrocínios, entre outras. Assim, meu objetivo é provocar uma reflexão acerca da veiculação dessas imagens pelos sites de notícias online. A que e a quem servem essas publicações é o que devemos questionar. As fotografias, bem como suas publicações não poupam ninguém e não pedem passagem. Registram e mostram tudo, como se isso fosse extirpar a violência. Mas há um paradoxo, pois não se elimina uma violência com outra, pelo contrário, propaga-a nas mais diversas e tênues facetas. As referidas publicações têm audiência garantida, e muitas vezes é a própria comunidade atormentada pela dor da perda e pelos rumos que a violência dita na vida das pessoas – crianças, adolescentes, adultos ou idosos – que clicam em busca da imagem dos corpos mortificados. Ver a foto 3×4 de um indivíduo que perdeu a vida, não satisfaz a curiosidade mórbida e sádica, ou melhor, não condiz com a realidade monstruosa e desumana vivenciada pelos cidadãos, que é nesse caso representada pelo desfacelamento do corpo alheio. Este que passa a ser objeto de espetacularizaração da violência. A sociedade que é acometida pela violência, se torna espectadora assídua da representação da violência disponibilizada pelos sites de notícias. Assim a reprodução desenfreada, sem o mínimo de polimento por parte de quem produz as imagens e por quem as publica e mais o consumo das mesmas pela sociedade em geral culminam com a banalização da violência e de sua conseqüência mais grave, a morte. A estranha e questionável relação da sociedade com as diversas formas de violência são conhecidas desde a antiguidade, obviamente com as características histórias e culturais de cada época, porém, mesmo diante do avanço dos direitos humanos que buscam garantir os mínimos da dignidade humana a sociedade ainda perpetua uma relação antagônica com a violência e com um agravante: a sua banalização. Se por um lado a sociedade clama por paz e justiça – mesmo que com seus rubores discursos, por outro, ela perdura a violência, neste caso através da publicação contestável e desrespeitosa das imagens dos corpos mortos – o que contribui ainda com a “coisificação” do indivíduo, e não isenta dessa perduração, está a sociedade que consome as tais imagens sem tomar consciência de sua atitude violenta e mórbida. A violência está atrelada à convivência social – é impossível pensar uma sociedade sem violência, o que mudou são as aparições das mais diversas e cruéis manifestações da mesma. Manifestação esta que é influenciada pelos diversos fatores, como socioeconômicos, históricos, ambientais e culturais de cada época. É inadmissível que junto com a perda violenta de um membro familiar, se vá o mínimo de direito dessa família, pois ela se quer é consultada sobre a autorização ou não sobre as publicações das imagens. Como conseqüência dessa exposição, a família passa a ser estigmatizada e identificada pela atrocidade de uma violência que se alastra entre as facetas enganadoras do capitalismo. Os canais de notícias sejam eles, impressos ou via internet, são um exemplo destas facetas, pois estão muito mais ligados ao produto do que a função de democratizar e garantir o direito à informação de qualidade á todos os cidadãos. Constata-se uma reprodução da violência para vender mais violência, nesse caso, a violência simbólica, que reproduzida através das publicações das imagens mortificadas é tão grave quanto, pois destrói o resto da dignidade da família e de seus direitos, o que contribui com intoleráveis e danosas exclusões sociais, intensificando assim, o sofrimento ético-político das famílias expostas. Assim, cabe aos cidadãos em geral, repensar a sua relação com a violência: até quando farão do desfacelamento das famílias vítimas de violências, um espetáculo. Aos meios de comunicação, além de reverem seus princípios e valores éticos devem refletir que a publicação dessas imagens que denunciam as marcas da violência, ao invés de informar está formando cidadãos alienados pela sua própria história. Rozana Maria da Fonseca Psicóloga rozanafonsecapsi@hotmail.com @rozanafonseca