Precisamos falar sobre a cesta básica

Por Tatiana Roberta Borges Martins[1] A cesta básica de alimentos é uma velha conhecida da política de assistência social, ela existe desde as primeiras formas de prestação de auxílio à população e observo que, pelo menos entre as/os assistentes sociais, existe uma relação espinhosa com esta provisão, talvez pelo reducionismo do senso comum, que classifica a avaliação socioeconômica para concessão de benefícios como a única atribuição desta profissão, mas, sobretudo, pelo viés de caridade e moeda de troca que a cesta básica carrega ao longo da história e que a política de assistência social procura romper ao pautar benefícios socioassistenciais como direito de quem necessita. Não pretendo problematizar neste espaço sobre qual trabalhador/a do Sistema Único de Assistência Social/SUAS deve conceder a cesta básica para o cidadão, deixo esta tarefa para a Rozana Fonseca (risos), a intenção é realizar uma reflexão de como todos nós, que atuamos nesta política pública, nos relacionamos com esta forma de oferta que, segundo os dados oficiais[i], é a maior concessão referenciada como benefício eventual na assistência social. Além disso, sabendo que, em nossa sociedade, a doação de alimentos ainda se configura como uma prática ligada à religiosidade dos “cidadãos de bem” que tem o dever de praticar esmolas para ficarem em paz com suas consciências, proponho uma breve, mas indispensável análise, de como o poder público trata a questão da oferta de alimentação: também como um favor ou como um direito humano fundamental e universal?[ii] Recentemente, no espaço de educação permanente da região[iii] em que atuo, tivemos a presença da brilhante pesquisadora da temática “benefícios eventuais”, Drª. Gisele Bovolenta, que trouxe a tona antigas inquietações acerca do tema e as provocações que efetuo aqui são baseadas em seus textos, os quais recomendo a todas/os trabalhadoras/es da área conhecê-los. Os benefícios eventuais na assistência social A Política Nacional de Assistência Social/PNAS quando define que sua principal função é a proteção social está incluindo a integração de serviços e benefícios socioassistencias, o que engloba o benefício eventual como parte das seguranças sociais, mais especificamente a segurança de sobrevivência/renda. No entanto, é evidente que os avanços obtidos no SUAS não abrangeram, de forma significativa, os benefícios eventuais. Gisele Bovolenta (2017) afirma que os benefícios eventuais estão nominados na Lei Orgânica de Assistência Social/LOAS, mas ainda não foram conceituados, ou seja, não existem muitos estudos e nem muitos indicativos de quais os tipos e espécies de benefícios de vulnerabilidade temporária devem ser ofertados pela assistência social, se estes benefícios devem ou não ser pagos em pecúnia, ou qual o local apropriado para a entrega, tampouco há precisão sobre as formas de gestão, regulamentação e financiamento destas provisões. A pouca atenção dos municípios com esta parte da proteção social e principalmente a negligência da maioria dos estados contribuem para a manutenção da visão das pessoas que solicitam estes benefícios como carentes, desvalidas, coitadas, folgadas, acomodadas, entre outros termos pejorativos que se distanciam da noção de cidadãos de direitos. A ausência de regulamentação posterior a LOAS e demais normativas nacionais levou a uma operacionalização desorganizada dos benefícios eventuais, mais identificada com ações sociais isoladas de caráter assistencialista e clientelista do que com uma política pública cuja centralidade é o Estado (união, estado e município). Dito em outras palavras, a falta de interesse em regulamentar os benefícios eventuais e aproximá-los do campo de direitos juridicamente reclamáveis (como o BPC) tem a ver com as vantagens obtidas nas ações paternalistas e eleitoreiras. “A cesta básica é a água com açúcar na assistência social” Ouvi esta frase da Profª. Aldaísa Sposati em um espaço de formação que participei e imediatamente concordei e até me lembrei de momentos que, inconscientemente, também utilizei este “chazinho” nos atendimentos do famigerado “plantão social”. Ou seja, a afirmação é que a cesta básica é usada como um “calmante” quando não sabemos como lidar com as situações que emergem no cotidiano da prática profissional no SUAS, mas queremos amenizar de alguma forma o sofrimento do cidadão. Assim, a resposta do poder público para diferentes demandas é sempre a mesma: provisão de alimentos, isso quando há resposta, o que acaba por maquiar as reais desproteções sociais e violações de direitos existentes. Como a demanda se apresenta, por vezes, complexa, a concessão de cesta básica parece aliviar e confortar as adversidades vividas. Como o Estado se propõe a ser mínimo para a área social, prover alimentação, enquanto indispensável para a sobrevivência humana, parece ser o lenitivo necessário para que o indivíduo supere por si só a situação vivenciada. Por vezes, o que se observa é uma provisão pontual, isto é, o cidadão não é acompanhado ou mesmo encaminhado em suas necessidades aos serviços socioassistenciais complementares e necessários. (BOVOLENTA, 2017, p.509) Diante desta reflexão, é incoerente a reclamação de que os usuários só aparecem na assistência social atrás de cestas básicas, mesmo isso sendo um fato, porque se analisarmos bem, a mínima presença do Estado na vida de grande parte dos pobres historicamente foi esta: provisão de alimentos, sem demais serviços integrados. Já ouvi histórias de sorteios de cestas básicas para que os usuários participem de reuniões e depois querem reclamar quando eles aparecem no CRAS pedindo alimentos? Penso que temos que adotar um olhar crítico sobre as ofertas de serviços e benefícios públicos, antes de afirmarmos que os usuários não aderem às ações. E o poder público aderiu aos serviços, programas e benefícios de assistência social? E nós profissionais, de fato aderimos ao modelo do sistema proposto? Cesta Básica é mesmo um benefício eventual? Outro ponto importante e que nos faz pensar é se uma necessidade contínua de uma família à alimentação pode ser considerada eventual, baseada no conceito de vulnerabilidade temporária ou pontual. Acredito que não. Pois, se afirmamos, com tanta convicção, que são as mesmas famílias que sempre solicitam a cesta básica na prefeitura, não se trata de uma vulnerabilidade passageira, mas sim de vulnerabilidade social ou de situação de pobreza que é reflexo do contexto social, econômico, político e cultural do país e que não se resolve rapidamente,
A Polícia das Famílias (Livro em pdf)
Disponibilizando para vocês, especialmente para quem leu o texto que publiquei recentemente aqui: Visita Domiciliar no SUAS, o livro A Polícia das Famílias em PDF. A intenção é que vocês leiam este livro antes do nosso próximo texto sobre Visita Domiciliar – parte II. E como o acesso a ele é por PDF (ele é de 1980), eu achei por bem disponibilizá-lo aqui. BAIXAR LIVRO ⇒ A-Policia-das-Famílias DONZELOT, Jacques. A polícia das famílias. Rio de Janeiro, editora Graal, 1980. Até breve e boa leitura!
Direção social, elaboração de relatórios e o trabalho na proteção social especial

Por Thaís Gomes* O trabalho na proteção social especial provoca múltiplas reflexões nos mais diversos âmbitos tais como as formas de se trabalhar, posturas a serem adotadas nas variadas situações cotidianas, a correta utilização do instrumental técnico-operativo de cada profissional no equipamento, a adequação do trabalho às regulamentações da política de assistência social, dentre outras. O cotidiano de trabalho traz a tona nossas visões de mundo, a forma que enxergamos cada realidade com que nos deparamos diariamente e que orientam nosso fazer profissional e os documentos emitidos a partir deste, o que exige certos cuidados. A proteção social especial trabalha com indivíduos e famílias em situações de violação de direitos tais como violência física/psicológica/ sexual (abuso e/ou exploração sexual)/, negligência, abandono, trabalho infantil dentre outras demandas. Atuar na PSE requer habilidades no trabalho social com as famílias, com o atendimento pautado no respeito à diversidade de arranjos familiares, à heterogeneidade, potencialidades, valores, crenças e identidade das famílias atendidas. De acordo com a PNAS, a realidade brasileira revela que existem muitas famílias com as mais diversas situações socioeconômicas que induzem à violação de direitos dos seus membros, além dos mais diversos arranjos familiares, considerando, nesse processo, família como conjunto de pessoas que se acham unidas por consanguíneos, afetivos e, ou, de solidariedade, entendendo, nessa perspectiva, que há uma infinidade de arranjos familiares. O trabalho na política de assistência social seja na proteção social básica ou especial, requer o que Cardoso (2008) chama de observação sensível, tendo em vista a aparência muitas vezes não representar a essência da situação apresentada e é através dela que temos a possibilidade de desvelar o real. A autora caracteriza a observação sensível como vivência, busca por percepções, memórias, sensações e sentimentos frente à realidade apresentada. Tem a qualidade de nos alertar para o sensível no relacionamento com os usuários. Essa abordagem nos sensibiliza para a empatia e o cuidado na escuta e registro dos atendimentos, para o acolhimento e o respeito ao usuário e sua história de vida, significa “estar interessado no que o outro tem a dizer”. A autora nos fala que ao observarmos um determinado fenômeno social atribuímos significado ao mesmo, e, através dessa observação, expressaremos em nossos registros os sentidos, as condições de vida, acesso as políticas sociais, a presença real de violação de direito e de que forma as pessoas reagem aquela realidade, e como os indivíduos se organizam para o enfrentamento diário dos desafios colocados pelo contexto social vivenciado. Em concordância com a PNAS, sabemos que o trabalho na proteção social especial se dá realizando uma estreita interface com o sistema de garantia de direitos (1), onde é necessária muitas vezes uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselhos Tutelares, bem como outros órgãos e ações do poder executivo, com envio de relatórios dos mais diversos tipos para colaborar na elucidação dos casos. Essa interface nos remete a seguinte reflexão: quando emitimos um documento a algum dos órgãos do sistema de garantia de direitos relatando situações de violações de direito que são demandas da PSE, estamos a serviço de quem? A quem está direcionado o nosso trabalho? Qual teor dos relatórios emitidos, eles apresentam um profissional comprometido com os direitos dos usuários ou com a instituição a qual representa/responde? Quais os valores que imprimo ao meu trabalho diariamente? Será nosso papel julgar/punir usuários? Nesses termos é necessário refletir sobre a direção social adotada em nosso fazer profissional. Cardoso (2008) sinaliza que o nosso lugar (e aqui trago para o lugar dos profissionais que atuam na PSE) é de humanizar o atendimento ao usuário, é de torná-lo um espaço de direito legítimo, socialmente justo. Isso se dá quando imprimimos em nosso fazer profissional uma identidade institucional de que aquele espaço no qual estamos inseridos, é um espaço de direito social, fruto de conquistas democráticas coletivamente organizadas, e que nossa ação expressa nos serviços assistenciais esta intenção política. E é com esta intenção que devemos pautar todo processo de trabalho, reforçando o nosso compromisso com os direitos do usuário. Cardoso (2008) nos fala que o significado social de nossa intervenção consiste justamente numa estratégia para o resgate dos direitos emancipatórios e inclusivos destes usuários dentro do processo de desenvolvimento social. Devemos, portanto nos ater ao cuidado na escrita dos relatórios enviados aos órgãos, utilizando um referencial técnico pautado nas regulamentações da política de assistência social, no referencial bibliográfico comum à temática e nas orientações ético-políticas profissionais e adequado aos objetivos propostos. O uso de discursos de senso comum, reproduzindo estigmas e preconceitos retratam um profissional despreparado para lidar com a complexidade da realidade social que permeia a vida dos usuários da política de assistência social, o que pode prejudicar potencialmente os usuários e ainda culpabilizar as famílias e/ou indivíduos. Cardoso (2008) enfoca ainda que a “adoção de conceitos marcadamente assistencialistas, pragmáticos e excludentes, [na elaboração dos relatórios] pode induzir a ações semelhantes, nos distanciando de compromissos essenciais que dão sentido à existência profissional”, dentro do equipamento da política de assistência social no qual estamos inseridos como é o nosso caso e isso independe da categoria profissional e se o trabalho é desenvolvido na PSB ou PSE. A autora nos demonstra ainda que devemos nos questionar se é objeto do serviço social ou de outra profissão que atue na política de assistência social, ser investigador da vida alheia, que emite julgamentos sobre comportamentos, modos de vidas das famílias ou se somos investigadores da realidade social em que estes estão inseridos, das afetações político-sociais que podem interferir na qualidade de vida das pessoas, no acesso a seus direitos fundamentais. No trabalho com famílias, por exemplo, quando da elaboração de relatórios, por vezes são utilizados termos como “ambiente nocivo”, “lar instável”, “desestrutura familiar”, “lar desestruturado” e tantos outros termos estigmatizantes , desse modo, devemos refletir sobre qual modelo de referência familiar estamos adotando como correto para considerar que este ou aquele modelo seja inadequado (2). Segundo Cardoso (2008) a linguagem adotada na elaboração dos relatórios revela os estigmas do profissional,
Entre o concerto e o conserto: qual tem sido nosso foco do trabalho com famílias no SUAS?
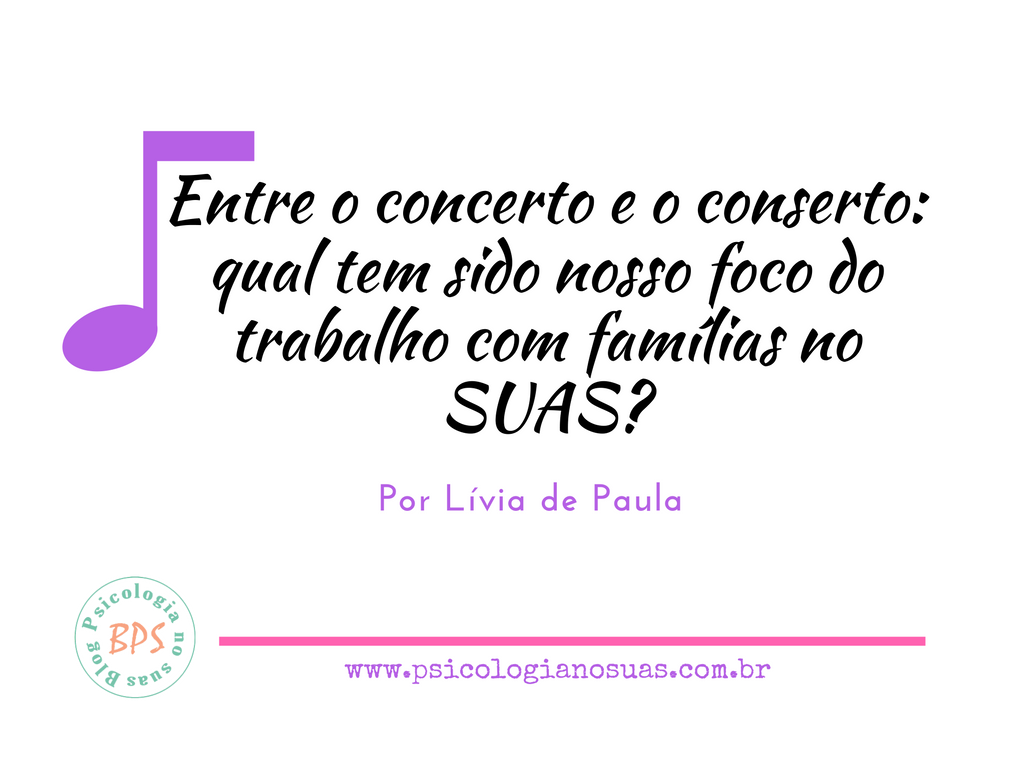
Por Lívia de Paula* “Família, família Papai, mamãe, titia, Família, família Almoça junto todo dia, Nunca perde essa mania” A canção dos Titãs, um clássico do nosso rock nacional, é bastante utilizada por nós, trabalhadores do SUAS, na facilitação de grupos e outras atividades de sensibilização. Sua letra traz como ponto central os dilemas daquela que é nosso foco na atuação dentro do social: a Família. Sabemos que pensar a família é, me arrisco em dizer, a tarefa mais importante da nossa prática. A maioria dos documentos que nos orientam tem um capítulo/parte específica para tratar deste tema. Assim, todos os dias, lemos sobre família, pensamos sobre família e atendemos alguma família. Propositalmente, até aqui, utilizei o termo família no singular. Já é convencional no que diz respeito à assistência social falarmos de FAMÍLIAS, a fim de trazermos à tona as inúmeras configurações familiares por aí existentes. É convencional falarmos, mas será que de fato temos nos atentado e nos permitido trabalhar com Famílias, no sentido aqui apontado? É para esta conversa que eu convido você, meu colega de SUAS, hoje. Quando recebemos uma família para acolhimento em nosso equipamento, nossa primeira ação é ou deveria ser conhecer como ela se configura. Quem são seus membros? Qual é o vínculo entre eles? Como se relacionam? É a partir destes questionamentos que poderemos traçar (junto com eles) as estratégias para o nosso trabalho. Você considera esta uma tarefa fácil? Fazendo uma breve reflexão fenomenológica, percebo que esta é uma das propostas mais difíceis da nossa prática. Difícil porque somos pessoas em contato com pessoas. Como pessoas, não podemos negar que somos constituídas por vivências, afetos e concepções. E é por isso que, antes de acolher uma família, creio ser imprescindível refletir genuinamente sobre minhas concepções, meu lugar de conforto e minhas estranhezas sobre o assunto. Afinal, batem à nossa porta desde famílias tradicionais tal qual a da canção do Titãs (papai, mamãe, titia, cachorro, gato, galinha) quanto famílias cuja configuração nunca foi por nós sequer imaginada. Esta proposta de acolhimento vai requerer então a suspensão de nossos conceitos e valores e uma postura empática[i]. Tal empreitada, por mim considerada tão árdua, é a única que pode garantir que façamos nosso trabalho como preconiza a Política de Assistência Social, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e da autonomia. Sem suspendermos nossos valores e praticarmos a empatia, não creio ser possível caminharmos em direção a estes objetivos. A linha que separa um trabalho de fortalecimento familiar de um trabalho de educação, de “conserto” das famílias é bastante tênue. Se direcionamos nosso trabalho a partir daquilo que entendemos como certo para uma configuração familiar estamos fadados a uma ação policialesca, de reparação, literalmente de arrumar o que está estragado[ii]. Ainda hoje é comum encontrarmos argumentos que defendam as noções alicerçadas na ideia de que famílias convencionalmente estruturadas, as chamadas famílias nucleares, são a garantia de um desenvolvimento saudável de seus membros. Acredito que no âmbito do SUAS já avançamos um pouco. Já sabemos que uma “orquestra” teoricamente estruturada nem sempre faz o melhor concerto. É necessário que os instrumentos, quais forem eles, dialoguem entre si, se encontrem. É necessário treino e muito ruído para se chegar a alguma possibilidade de som. Penso que a metáfora da orquestra nos auxilia na compreensão de que as famílias são constituídas de membros diversos entre si, que coabitam vivenciando tanto conflitos quanto afetos. São as vivências conflituosas e afetivas que tornam possível a música familiar. É fato que já avançamos. Mas ainda há muitas questões que por nós permanecem quase intocadas. O documento “Parâmetros para o Trabalho com Famílias na Proteção Social Especial de Média Complexidade”, um relato de experiência do município de Campinas – SP, traz contribuições valiosas para esta discussão e merece ser lido em sua íntegra.[iii] Na parte que trata dos marcos conceituais, há o seguinte apontamento: O debate sobre a concepção de família revelou o quão problemática é a construção de uma concepção partilhada sobre o tema, particularmente na sua relação com a proteção social. É totalmente consensual a ideia de que a família é uma instituição que se transforma histórica e cotidianamente, que na contemporaneidade assume as mais diferentes configurações e que tem papel fundamental na construção do mundo subjetivo e intersubjetivo dos sujeitos. […] As divergências aparecem quando se coloca em pauta a relação entre família e proteção. Nesse aspecto, por um lado, subjaz a ideia de considerar, em princípio, a família como um espaço de proteção […] bem como o objetivo do trabalho social com famílias contemplados na proposição do SUAS, qual seja, o de fortalecer a capacidade protetiva das famílias. Por outro lado, apresenta-se a ideia de que a família não, necessariamente, constitui-se como um espaço de proteção. Nessa perspectiva, a hipótese de proteção como fundamento da configuração familiar estaria apoiada numa concepção moral. No que ela deveria ser e não no que ela realmente é. Em uma proposta de cunho moralizador, isso poderia induzir a processos de responsabilização da família pela proteção social. (p.33-34) Tal apontamento ilustra bem o que nosso cotidiano na esfera do SUAS nos apresenta: deparamo-nos todos os dias com famílias que “deveriam ser” protetivas, mas não o são. Como somos impactados por esta experiência? Volto a dizer: nesta hora, estamos frente a frente com a armadilha de uma possível atuação policialesca, calcada na melhor das intenções: fortalecer a capacidade protetiva das famílias. Será que temos nos deixado capturar discretamente pela crença de que há um modo certo de ser família? As famílias do SUAS são famílias do jeito errado? Será que um trabalho de fortalecimento no âmbito do social pode ter como norte a formatação das famílias, tendo como meta a família “comercial de margarina”? Estas são apenas algumas das questões essenciais a serem refletidas. Existem outras. Por exemplo, em tempos de polêmicas sobre gênero e sexualidade, não precisamos pensar esse tema dentro das famílias? Como tem sido exercido os papéis de gênero no contexto familiar? Enfim, já percebemos que este é um tema
34 Livros para a atuação no SUAS – Sugestões de Livros Parte III
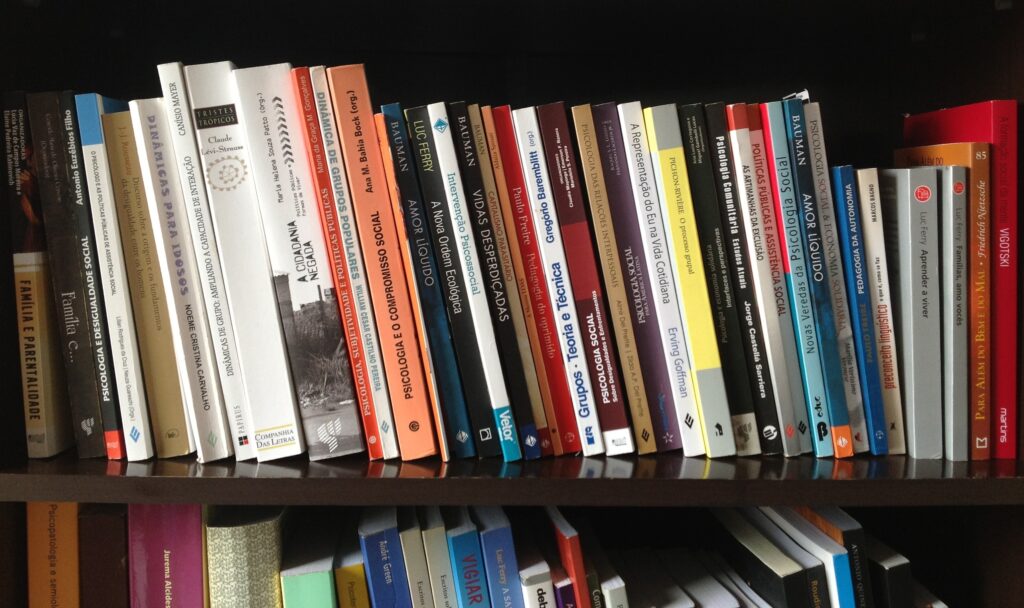
Você já conferiu as outras listas? Sugestão I – 13 Livros Sugestões II – 09 Livros Sugestão especial – 4 indicações Biblioteca Virtual de Ciências Humanas e Centro Edelstein de Pesquisas Sociais
Um trabalho possível com as famílias do PAIF
Por que meu projeto virou tema de minha Monografia no curso de Especialização em Gestão Social? Aquisições Sociais dos Usuários do Suas através de um Projeto de Reciclagem no CRAS de Eunápolis/Ba – Quem acompanha o blog , provavelmente já passou por algum link, comentário ou post sobre o Projeto Ret: Recolher e Transformar que desenvolvi com os usuários do PAIF no Cras onde atuo. Muitos leitores me pedem o envio do Projeto, eu sempre encaminho ou deixo o link para acesso, mas confesso que era sempre preocupante, porque o projeto enviado era uma versão de 2010 e sem nenhuma informação do andamento e desenvolvimento de fato do projeto. Só não ficava mais preocupada porque junto encaminhava uma apresentação ppt com etapas e dados atualizados do Projeto e resumo do trabalho que apresentei no VII Congresso Norte e Nordeste de Psicologia em Salvador, 2011 na modalidade Experiência em Debate. Pois bem, o projeto virou tema de minha monografia do curso de Especialização em Gestão Social e quero deixá-la aqui porque sei que está bem mais completa e atualizada e ajudará vocês a entenderem os objetivos e porque o considero uma ferramenta de trabalho com grupo socioeducativo pelo PAIF. Mas antes, quero proferir algumas palavras e fazer uma nota sobre a implantação do Projeto. Tenho amor, dedicação por este projeto e quero dizer porque. Tudo começou por um questionamento e necessidade individual. Que destino dar para os resíduos sólidos que minha família produz? a cidade tem apenas uns 15% de saneamento básico, quem dirá coleta seletiva! o que fazer? passei a separar o resíduo sólido reciclável do orgânico, já é um passo, mas não estava bom. Diante de tantas besteiras ditas a respeito de preservação ambiental – é ideia de top model sobre xixi no banho, polêmicas e inverdades quanto a disponibilização de sacolas plásticas pelos supermercados, sensacionalismo e mídia responsabilizando indevidamente a população por desastres naturais, entre outras falácias – resolvi tomar um atitude. Ao invés de tentar fazer as “boas maneiras” divulgadas pelos ambientalistas extremistas e jornalistas, a julgar por sua maioria, desinformados, os quais divulgam mentiras e atitudes utópicas quanto a preservação do Meio Ambiente, decidi agir com o algo concreto e comum a todos, inclusive aos ambientalistas. A destinação adequada do lixo que eu e meu marido produziámos passou a ser o problema. Qual solução? o que fazer? meu marido que é Biólogo, no início, antes do projeto ir para o papel, alertou que o mesmo seria de difícil execução, e se tornou o grande colaborar técnico do Projeto e responsável pela parceria para o transporte do material. SOLUÇÃO Se meu trabalho consiste em potencialização da comunidade, favorecer e promover aquisições sociais da famílias, trabalhar com conceito de cidadania, direitos civis e sociais, porque não desdobrá-los e inserir Meio Ambiente nessa prática? inciei com uma reunião com todos os participantes do PAIF, os quais já estavam inseridos em grupos de convivência, oficinas de artesanato e grupos socioeducativos, onde divulguei a ideia e os objetivos dos projeto. Pronto, ali nascia o Projeto RET: Recolher e Transformar ( o nome do Projeto foi escolhido pelo estagiário de Seviço Social Edriano). Iniciamos com 22 participantes. Muitos foram os desafios, desde a logística de armazenamento e transporte dos materiais quanto a dificuldade de aceitação do projeto por parte de colegas de trabalho – hoje já conto com o apoio sistemático da equipe onde atuo. Armazenamento: o Cras tem um salão muito amplo, e como foi previsto que o projeto receberia em média 40kg/mês entendemos, eu e a coordenadora do Cras na época, Zilda Seixas, a qual apoiou e acreditou muito no projeto, que o Cras poderia receber os materiais. Não deu certo, já no primeiro mês recebemos mais de 100kg. Onde armazenar isso tudo se o transporte seria realizado mensalmente? a ideia foi cobrir uma lateral da unidade para deixar o material, mas ao solicitar o material, fui questionada quanto: Que projeto é esse? o que tem esse tema haver com Cras? e com a psicologia? Fui orientada a suspender o projeto até que fosse revisto e/ou providenciado um outro local. Assim prossegui, convoquei os participantes para uma reunião e expus o problema. Eis que uma participante disponibilizou uma área coberta em sua casa para continuarmos como o Projeto. Fiquei encantada e surpresa! como assim? em tão pouco tempo os integrantes já compreenderam a importância do que estávamos fazendo? foi muito positivo observar isso, realmente algo poderia ser mudado com a ajuda daquele grupo. Problemas como o de transporte foi resolvido com a parceria da Empresa Engecram, a qual fazia a transporte voluntariamente. Mas outras questões como falta de envolvimento da equipe, o que já era esperado, porque sabemos que a formação acadêmica não contempla e não problematiza a relação do homem com o Meio Ambiente – é tema dos cursos específicos, ainda não foram superados. Como um profissional vai desenvolver cidadania e ter condições de promover autonomia e autogestão se ele mesmo é alheio a isso? Assim, nossa cidadania se dá pelas metades, quem ousou dizer que meio ambiente é flora, fauna e água? Meio ambiente é onde estamos, é nossa casa, nossa rua, nossa cidade, então meio ambiente tem tudo haver como os problemas sociais (fome, pobreza, habitação…) para os quais somos convocados, enquanto executores de uma política pública, a estudá-los e minimizá-los. Acrescento ainda que a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos interfere diretamente nas famílias público alvo da proteção social. Então, precisamos todos saber sobre esta política, como cidadãos e como técncos da PNAS. Fiquei bem contente quando assisti a uma entrevista da Tereza Campello na Globo News durante a RIO+20, onde ela falou da união das agendas social e ambiental, e da proposta do Piso de Proteção Socioambiental. Olha que interessante: “Desafio atual é não separar mais o debate ambiental do debate social, é atrasado agente pensar só meio ambiente, ou só pobreza, só tem um jeito de construir um mundo melhor que é pensando – como salvar o planeta, como construir formas sustentáveis
Diretrizes para o Acompanhamento Familiar do PAIF
A execução do PAIF, serviço obrigatório no CRAS, ainda é pautado por dúvidas e atravessados por equívocos desde a gestão a técnicos. Assim, socializo um documento elaborado pelo MDS/Priscilla Maia – s/data, bastante prático e didático quanto as orientações para acompanhamento familiar, além de um breve, mas relevante comentário, acerca de família e qual o conceito de família tratado na Política Nacional de Assistência Social – PNAS.
Sugestão de Filmes
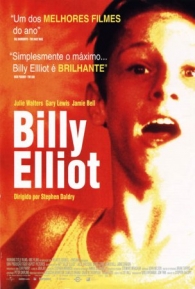
Abaixo, uma lista com sugestões de filmes que podem ser trabalhados /usados para reflexão acerca das principais temáticas: Família, sociedade, trabalho, identidade, sentimento de pertença, vínculos familiares e sociais, conceito de família, novas estruturas familiares, gênero, potencialidades/resiliência…) Enfim, filmes que podem ilustrar e serem trabalhados ( até mesmo trechos) com grupos de família, grupos de convivência e socioeducativos, o objetivo deve ser sempre o de facilitar a expressão, comunicação e exemplificar um discurso, para a apreensão dos assuntos trabalhados ultrapassem a linha do cognitivo e promova mudanças. Trata-se de uma lista inicial, pois a mesma estará sempre aberta. Postarei os filmes à medida que lembrar daqueles com temas pertinentes! O esperado é que vocês deixem sugestões para compor a lista. Assim , o espaço ficará mais rico e proveitoso! Ah, vale curtas e documnetários! ( DEIXE O NOME DO FILME E ALGUMAS PALAVRAS CHAVES QUANTO AO TEMA) Temáticas dos filmes ((Família, sociedade, trabalho, identidade, sentimento de pertença, vínculos familiares e sociais, conceito de família, novas estruturas familiares, gênero, potencialidades/resiliência…) Conto com vocês! SUGESTÃO DE FILMES 1 – QUERÔ – ( criança, adolescente, pobreza, vínculos familiares e comunitários, identidade, violência, drogas) 2 – ENSINA-ME A VIVER ( relações familiares, identidade, pertença) – Recomendadíssimo!!!! 3 – A CORRENTE DO BEM (solidariedade, vínculos sociais) 4 – A EDUCAÇÃO DA PEQUENA ÁRVORE (pertença, família tradicional, vínculos sociais e familiares) 5 – O HOMEM QUE COPIAVA (relações com trabalho, percepção do contexto social) 6 – Billy Elliot ( Vínculos familiares) – Recomendadíssimo!!!! 7 – A Menina de Ouro ( conceito de família) 8 – UM SONHO POSSÍVEL (família, potencialidades) 9 – BELLA ( valores familiares, gravidez, aborto) 10 – À PROCURA DA FELICIDADE (família, guarda filhos, fragilidade financeira, resiliência) 11 – UMA LIÇÃO DE AMOR (família, guarda filhos, saúde mental, potenciliadade) – Recomendadíssimo!!!! 12 – Path Adams O AMOR É CONTAGIOSO (relação com o usuário, comprometimento profissional, preconceitos, autonomia)Recomendadíssimo!!!! 13 – MILK: A VOZ DA IGUALDADE (luta pelos direitos das pessoas homossexuais, igualdade ) Recomendadíssimo!!!! 14 – FILADÉLFIA -( direitos socias, civis, preconceito, AIDS, homossexualidade) – Recomendadíssimo!!!! 15 –ONDE VIVEM OS MONSTROS ( Conceitos de famílias, identidade)
Constrindo um Sujeito de Ação
Artigo: CONSTRUINDO UM SUJEITO DE AÇÃO – uma nova concepção do contexto social através das vivências – acesse aqui Autora: Sarah Cirilo Andujar HernandesOrientadora: Marcela Monteiro de Oliveira LasmarSupervisora de Campo: Fernanda Carla Marcolino Campos Marques RESUMOCom o intuito de fortalecer a família e as comunidades, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – através de um acompanhamento realizado porprofissionais voltados ao atendimento socioassistencial familiar, promove serviços de proteção básica, através de programas assistenciais, grupos socioeducativos e de geração de renda. O Estágio de Núcleo Básico III realizado por meio de atividades socioeducativas objetivou, através de reflexões com grupos de geração de renda, possibilitar a emancipação e autonomia das integrantes; facilitar a construção de uma concepção crítica do sujeito e do contexto social em que estão inseridos (sujeito de ação). Foi realizado também um levantamento bibliográfico acerca da temática e área de atuação, como também discussões sobre a Psicologia Comunitária e seu processo de desenvolvimento e expansão, novas estratégia para atuação e inserção do Psicólogo na comunidade e a instituição CRAS como um novo campo de atuação e seus desafios. Palavras chave: Autonomia. Emancipação. Sujeito de ação. CRAS. Psicologia Comunitária.