Busca ativa: estratégia para o Trabalho Social com Famílias
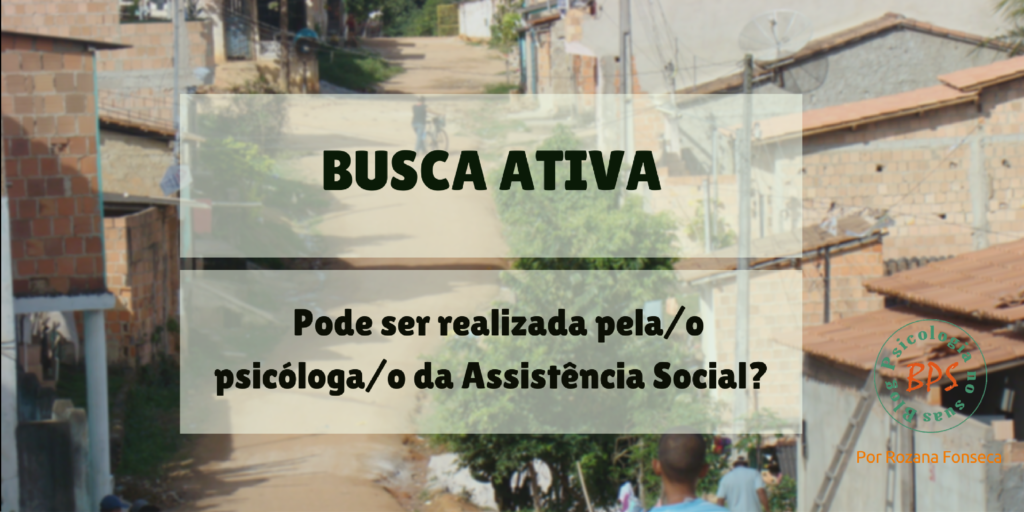
Por Rozana Fonseca A busca ativa pode ser realizada pelo psicólogo nos CRAS ou CREAS? Com essa pergunta eu começo a transformar alguns comentários e e-mails recebidos em conteúdo mais abrangente através de textos publicados aqui no Blog. Quem é leitor aqui sabe que considero a parte de comentários uma das mais importantes do Blog. Pode levar um tempinho (ou um tempão, como é o caso de hoje 😉 ), mas sempre respondo! Como as respostas são mais diretas e com pouca carga reflexiva e alguns temas me provocam ideias e construções, achei que poderia ser interessante compartilhar isso, e caso vocês também achem proveitoso, eu continuo com este tipo de texto. Gostaria de pontuar que não citarei os autores das perguntas enviadas por e-mail e se não for necessário, não as citarei na íntegra – entendo que se a pergunta foi feita por essa via, a/o profissional optou pela discrição. Bom, hoje o assunto é sobre busca ativa. (…) a “Busca Ativa” … pode ou não ser realizada pelo psicólogo? (Trecho de um e-mail recebido em 20/07/2016 – ainda não havia sido respondido). Busca ativa: estratégia do Trabalho Social com Famílias A Busca ativa é uma estratégia para fazer com que os serviços, benefícios, programas e projetos cheguem até as famílias e ao território. É uma maneira de levar informação, orientação e identificar necessidades e demandas das famílias e do território em situação de desproteção social. Os dados levantados servirão para diagnósticos sociofamiliares e socioterritoriais, assim como para o planejamento das ações da rede socioassistencial. Um dos pontos fundamentais dessa estratégia é chegar até aquelas famílias e indivíduos que não acessam os seus direitos porque os desconhecem e na maioria das vezes estão em situação de precário ou nulo acesso as políticas públicas. Assim, busca-se a ampliação da proteção social com a mudança de paradigma na identificação das vulnerabilidades sociais, dos riscos pessoais e sociais. Tendo em vista que os serviços e programas socioassistenciais têm sido avaliados por metas estabelecidas e acordadas pelos três entes federados é importante pontuar que a busca ativa não tem um caráter somente técnico, mas sobretudo político. Sobre isso sugiro a leitura do artigo A busca ativa como princípio político das práticas de cuidado no território dos autores, Ruben Lemke e Rosane Silva. Trata-se de uma produção acerca dessa prática no âmbito da saúde, mas vale muito a pena a leitura porque possibilita conexões com a busca ativa na proteção social da Assistência Social. Diante do exposto, faz todo sentido afirmarmos que a busca ativa, principalmente na proteção social básica, é uma estratégia para as ações preventivas e proativas. Sendo que a gestão do território – ação de responsabilidade da/o coordenadora/o da unidade e do gestor da proteção social básica – e a vigilância socioassistencial são pilares importantíssimos na operacionalização dessas ações. Através da gestão do território, cuja dimensão faz parte do trabalho social com famílias – o coordenador da unidade, organizará os aspectos administrativos, técnicos e logísticos, enquanto que a vigilância socioassistencial subsidiará a equipe técnica com dados previamente estudados e territorializados. A vigilância socioassistencial comunica com a busca ativa por uma via de mão dupla, uma vez que elas se retroalimentam. Sendo importante pontuar que: “A busca ativa é uma atividade estratégica do SUAS. Deve, portanto, ser coordenada pela Secretaria Municipal (ou do DF) e ser tratada em reuniões regulares com participação dos coordenadores de CRAS”. O CRAS que temos e o CRAS que queremos: metas de desenvolvimento dos CRAS, 2010/2011. pág.57. Recorrendo às propostas de trabalho do MDS/SNAS, a busca ativa ocorre por meio do “deslocamento da equipe de referência para conhecimento do território; contatos com atores sociais locais (líderes comunitários, associações de bairro etc.); obtenção de informações e dados provenientes de outros serviços socioassistenciais e setoriais; campanhas de divulgação, distribuição de panfletos, colagem de cartazes e utilização de carros de som”. Orientações Técnicas Centro de Referência de Assistência Social – CRAS (2009, p.30) A busca ativa compõe o rol das ações do trabalho essencial do PAIF, sendo uma das vias de acesso aos serviços tipificados e a rede socioassistencial (programas, projetos, benefícios e os serviços). Esta também é uma estratégia adotada nos demais serviços da proteção social especial, cabendo aqui destacar que no Serviço Especializado em Abordagem Social a busca ativa vai além de uma ação estratégica, pois é ela que materializa o serviço. Na perspectiva do acompanhamento familiar, a busca ativa “possibilita a mobilização para comparecimento das famílias ao CRAS ou a visita domiciliar por um profissional, para a realização da acolhida – particularizada e/ou em grupo, de modo a identificar, a partir do estudo social, quais famílias necessitam e desejam participar do processo de acompanhamento familiar”. Caderno de Orientações Técnicas do PAIF Vol. II – 2012 – Pág. 60 Esta perspectiva também pode ser atribuída ao CREAS, um exemplo é quando há um encaminhamento da rede setorial ou socioassistencial (não estou me referindo a verificação de denúncia, porque sabemos que esta ação não compete aos CREAS) e a equipe desloca da unidade para atender a família ou indivíduo. Aqui a busca ativa pode ser confundida com a visita domiciliar*, mas não se trata da mesma coisa. Quem realiza a busca ativa? Se você compreendeu que através da busca ativa realiza-se ações do trabalho social com famílias, então ela é de atribuição da equipe técnica dos serviços. Ou seja, para ser direta e responder a pergunta mote deste texto, o profissional com formação em psicologia tem, no âmbito do SUAS, a busca ativa como estratégia para realizar o seu trabalho – o que fica bem melhor se falarmos em trabalho interdisciplinar. Ela pode ser feita por profissionais de nível médio (os orientadores/agentes/educadores sociais); profissionais de nível superior (Assistente social, psicólogo, advogado, terapeuta ocupacional, pedagogo, sociólogo e todos os demais que compõem as equipes) e o coordenador. O planejamento das ações do trabalho social com famílias é que indicará quais os objetivos, quais os profissionais, quando (construção de uma agenda) e como será realizada a busca ativa. A busca ativa permite aos psicólogos/as, assim como aos profissionais dos serviços, uma maior
Autonomia e suas contradições: inquietações da prática profissional
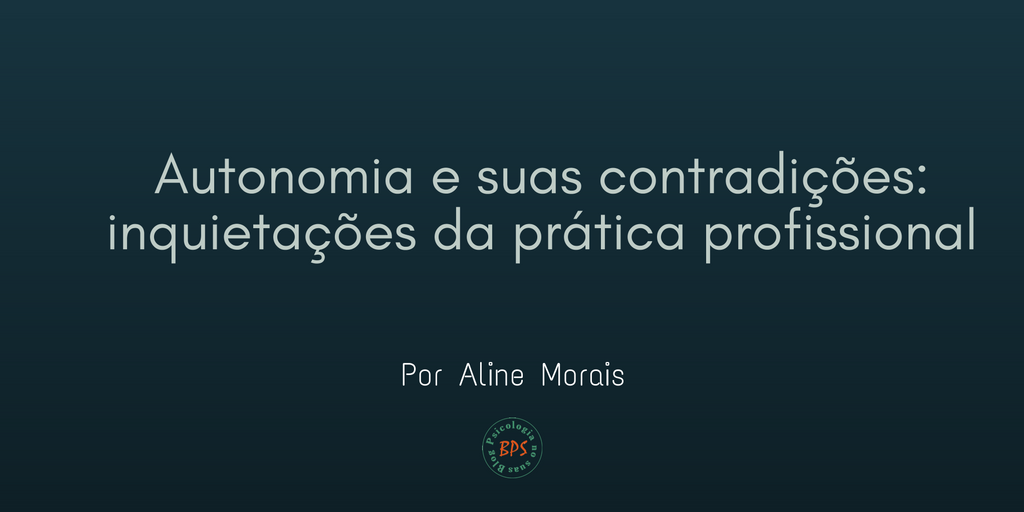
Por Aline Morais Ao pensar no trabalho social com famílias, nos objetivos de nossas ações, em um deles temos sempre acordo: promover autonomia. O que é mesmo isso? Por que os usuários da assistência precisam disso, o que lhes falta? Uma demanda (não sei bem se dos usuários, ou dos técnicos) que tem me inquietado, advém de algumas situações comuns entre algumas famílias que chegam ao CRAS, as quais imagino que com os colegas também: “problemas” com higiene (da casa, pessoal, dos filhos, etc). Chegam demandas das escolas, do Conselho Tutelar, da Saúde. Casa extremamente suja e desorganizada, crianças sujas ao chegar à escola, famílias que acumulam materiais recicláveis para venda, entre outros tantos. Assim, até que ponto tais questões configurariam negligência? Ou problema de saúde pública? Ou ainda, até onde podemos interferir no ‘funcionamento’ familiar? Quem somos nós para dizermos: “arrume sua casa”, limpe melhor o seu filho ou a si mesmo? São questões com as quais tenho me deparado, tendo a certeza de que essa questão é extremamente delicada e requer muita reflexão antes da ação. Requer cuidado, na medida em que temos lutado para nos desfazer do ranço higienista e do controle das famílias pobres que a assistência carrega em sua história. Além disso, o que deve ser levado em consideração não é o desejo do profissional, mas as necessidades das famílias, certo? Muitas perguntas e poucas respostas. Procurei materiais acadêmicos que pudessem ofertar algum suporte sobre tais questões, mas não encontrei nenhum material relacionado diretamente a discussão da higiene na assistência social (se alguém tiver, por favor, compartilhe!). Uma frase que me marcou naquele documentário “O ciclo da vida” (super indico!) foi de uma entrevistada que disse não acreditar em negligência, pois cada um dá aquilo que tem. Diante disso, entramos no campo das escolhas e nã0-escolhas (sobre a qual Lívia falou lindamente neste post ⇒“Você vai trabalhar no SUAS”: considerações sobre uma não-escolha) e, consequentemente, sobre autonomia. Sempre que penso em autonomia, me vem uma compreensão de que se trata da possibilidade de escolher, mediante as oportunidades e as não-oportunidades. Nesse caso, acho que um bom exemplo é um garoto que cometeu ato infracional. Vejo que no imaginário social tal atitude transgressora é vista como uma escolha. Contudo, antes disso, é necessário pensar que para escolher, é preciso ter alternativas. Quais as alternativas que se apresentaram de chances de vida para este jovem? Veja bem, vai além do debate de que ele é vítima (das mazelas sociais) ou autor. Estamos aqui falando de autonomia. Ou seja, antes de se promover autonomia, devem-se ter chances de escolhas, opções. E, há que se considerarem os aspectos micro e macrossociais envolvidos. Assim, percebo que falamos em autonomia de uma forma banalizada, como se fosse um conceito dado e autodefinido, ou ainda, um objetivo facilmente alcançável. Para ele, existem diversas definições. Segundo documento recente que aborda sobre o Trabalho Social com Famílias, autonomia é a “capacidade do indivíduo de eleger objetivos e crenças, de valorá-los com discernimento e de pô-los em prática sem opressões” (BRASIL, 2016, p.20 apud PEREIRA, 2000). Sposati (2013) traz algumas reflexões críticas a respeito do modo de proteção social brasileiro, o qual acaba por expressar uma dependência dos sujeitos, em contraponto a uma autonomia a ser exercida pelo indivíduo, estimulando seu espírito ‘empreendedor’. Para autora, a autonomia tornou-se um argumento neoliberal, o qual pretende desfazer da condição de sujeitos dependentes da assistência, para que exerçam autonomia, sendo, na realidade, a “ocupação remunerada de mão de obra, para que o beneficiário se transforme em provedor de sua própria proteção” (p.657). A crítica dela vem do tratamento diferenciado entre proteção social contributiva e não contributiva, sendo esta última tratada ainda como um ‘favor’ e não um direito. Nesse cenário, é necessário olhar para as entrelinhas e pano de fundo da Política de Assistência Social, notando que a autonomia encontrará espaço na contra-hegemonia, na luta pelos direitos. Ela se manifestará quando o usuário disser para o técnico que cuidará de sua casa e de seus filhos como quiser, com aquilo que tem (de repertórios e vivências). Nem sempre a conquista da autonomia irá nos agradar como técnicos, ela poderá vir a partir do embate, do questionamento, do posicionamento, das escolhas possíveis. Com isso, é preciso deslocar o olhar da norma e da disciplina, para estar em uma ação técnica relacional. Assim, talvez poderemos identificar quais os limites de nossas ações. Promover autonomia também pode significar recusar algumas atitudes, enquanto técnico. Quando eu estava executando uma oficina junto a idosos do SCFV, percebi que eles solicitavam que eu pegasse as tintas, os pinceis, e todos os outros materiais para conseguirem fazer a atividade proposta. Até a cor que iriam utilizar, pediam que eu escolhesse, e quando eu dizia “escolhe você”, alguns respondiam “tanto faz”. Neste momento, percebi que o que eu estava promovendo ali era quase o contrário da autonomia. E demorou para isso vir à consciência, não foi óbvio. Na tentativa de agradá-los, eu fazia o que me pediam. Portanto, é preciso estar atento e não cair na rotina de trabalho, para abrir espaço para essas percepções. A autonomia é aceitar no outro o que não entendemos, permitir sua participação nas suas próprias condições. Implica na capacidade dos sujeitos em criar e ampliar as suas vinculações, ter respeito mútuo, implicando em uma prática especial de troca. Governar a si próprios, sem imposições, decidir que atitudes tomar (LOPES, 2008), mesmo que seja uma “não-escolha”. Portanto, temos aqui algumas pistas de que não podemos cobrar respeito de pessoas que não foram respeitadas, ou cobrar escolhas ‘certas’ de quem não teve opções. Diante disso, ganha centralidade a necessidade de uma escuta qualificada, a respeito dos modos de vida, e, sobretudo, da alteridade. A alteridade implica reconhecer que o indivíduo existe em interação com o outro, valorizando as diferenças existentes e exercitando a empatia. Segundo Barros (2004), é preciso que o técnico saiba redimensionar o próprio saber, saiba transitar em relações de alteridades sociais e culturais em suas ações. Para concluir, percebo
Caderno de Orientações: A prevenção e o trabalho social com famílias na Proteção Social Básica -Sedese e AMM

Oi pessoal, compartilhando com vocês um caderno mineiro de orientações acerca da Proteção Social Básica lançado pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – Sedese, em parceria com a Associação Mineira de Municípios – AMM. Trata-se do Caderno de Orientações: A Prevenção e o Trabalho Social com Famílias na Proteção Social Básica. De acordo com a apresentação do Caderno (pág.05), este material faz parte do material do Capacita SUAS e dialoga com as expectativas dos profissionais, dando subsídios e referências técnico-operativos para que possam desenvolver processos de trabalho voltados para a dimensão preventiva do trabalho social com as famílias. Sendo que o objetivo é retomar o debate sobre as funções de prevenção e vigilância socioassistencial exercida pela PSB e abordar: a gestão territorial e a utilização dos instrumentos informacionais do SUAS. Quando li a notícia de lançamento (Agosto de 2016 – sim, só agora estou conseguindo fazer este Post 😉 ) procurei muito para encontrar o caderno em PDF, contudo não salvei o endereço. Como já faz um tempo, não consegui localizá-lo novamente – se você souber e quiser informar o link de origem, ficarei grata e poderei disponibilizá-lo aqui como fonte. Mas como este Blog gosta mesmo é de propor leituras e estudos para nortear a prática, segue aqui o Caderno para download ⇒ caderno-de-orientacoes-a-prevencao-e-o-trabalho-social-com-familias-na-protecao-social-basica Bons estudos e um ótimo trabalho! 🙂
Parâmetros para o Trabalho Social com famílias no CREAS: uma proposta de Campinas/SP
Eu acompanhei a notícia do lançamento do documento “Parâmetros para o Trabalho Social com famílias na Proteção Social Especial de Média Complexidade“ pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social (SMCAIS) de Campinas/SP que ocorreu no final de 2015 e estava na expectativa da disponibilização do mesmo em meio digital para compartilhar com vocês, considerando que o trabalho com famílias no PAEFI não conta ainda com um caderno de Orientações Técnicas mais específico pelo MDS (questão que está entre os assuntos mais buscados e comentados aqui no Blog). E como ele está disponibilizado, comporá nosso rol de sugestões de leitura aqui! 🙂 Ressalta-se que o documento diz especificamente de um Município que busca organizar a oferta do serviço bem como compartilhar essas experiências, assim, a leitura do material precisa estar contextualizada. Veja um trecho do documento: “Este documento apresenta uma proposta de metodologia de Trabalho Social com Famílias no CREAS, especialmente no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) da cidade de Campinas. Tal metodologia foi formulada a partir de um processo de estudos e reflexões, conduzido pela Profa. Dra. Regina Célia Tamaso Mioto junto aos trabalhadores que executavam o PAEFI, no período de agosto de 2012 a dezembro de 2013. (…) Por fim, a proposta metodológica é apresentada em tópicos que enfocam os caminhos percorridos no processo de construção da proposta, na definição de marcos teórico-metodológicos e no trabalho das equipes de atendimento, apoio técnico e de coordenação do CREAS”. Pág 13. Clique para BAIXAR: Parâmetros para o Trabalho Social com famílias na Proteção Social Especial de Médica Complexidade Fonte e para saber mais visite: Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social – SMCAIS Parabéns aos responsáveis pela elaboração e publicação do documento. Experiências compartilhadas se tornam luz para muitas realidades sombreadas e consequentemente em perspectivas mais reais de trabalho! Boa leitura!