#02 Referência e contrarreferência na Assistência Social
Seguindo com a série Desafio do diferencial científico-profissional no SUAS onde o objetivo é revelar malfeitos em atendimentos no SUAS com provocação de diálogos para problematização e proposição de mudança de perspectiva para a profissionalização e o aprimoramento do Trabaalho Social com Famílias – TSF, trato hoje sobre referência e contrarreferência no desafio #2 Este texto é uma resposta ao desafio #2 lançado no Instagram do blog @psicologianosuas. Se você se interessar por esse modo de interação que culmina com texto-resposta, te convido a seguir o blog por lá, assim você poderá participar, respondendo e acompanhando as respostas dos colegas, quando eu disponibilizar os próximos desafios. Veja sobre o Desafio #01 – Conceitos para qualificar o Trabalho Social com Famílias No desafio proposto, a ideia foi desencadear uma discussão quanto ao processo de referência e contrarreferência e brevemente sobre acompanhamento familiar. Devo alertar quem está chegando agora neste espaço: meus textos contêm forte teor do real do cotidiano da execução dos serviços e assim busco uma linguagem que transmita o que de fato tenciona as relações e práticas dos profissionais na Assistência Social. É um privilégio ter um canal de diálogo aberto há 09 anos, e oferecer serviços de supervisão e capacitação porque chegam até mim confissões daquilo que mascaram a realidade e as problemáticas, as quais eu nunca conheceria em outro contexto profissional ou acadêmico. Portanto, meus objetivos aqui são discorrer sobre o caso problematizando o processo de referência e contrarreferência, sobre o acompanhamento familiar e principalmente, suscitar os imbróglios que permeiam as práticas mais pautada em protocolos do que em articulação e processos. Desafio #2 – acompanhamento pelo PAEFI (leia aqui) No exemplo desafio, pode-se identificar que o PAEFI, ao permanecer com uma família em acompanhamento por um período de 1 ano e meio, e considerando a demanda atual da família, não conseguiu desempenhar com eficácia o processo de acompanhamento familiar dessa família, não elaborou o Plano de Acompanhamento Familiar – PAF e prestou atendimentos pontuais e fragmentados à família. O direcionamento dado no atendimento é reflexo do processo pontual do acompanhamento dessa família no CREAS, nota-se um desconhecimento quanto aos fluxos e situação atual da família. Quando se trata de situação de violência deve-se considerar o princípio de celeridade, portanto, tendo sanado a situação de violência e trabalhado os principais objetivos do serviço especializado em questão, deve-se proceder com a contrarreferência da família à proteção social básica para a continuidade da proteção social e para ações de prevenção. A contrarreferência, ainda, não é um processo sedimentado em muitas realidades. Os CREAS, com equipe mínima ou incompleta, falta de ação efetiva de gestão do trabalho, não tem conseguido realizar o trabalho social com famílias a contento, gerando assim acúmulo de famílias em atendimento, mas que não foram acompanhadas. Assim, as equipes não sabem quais famílias superaram, de fato, as situações de violência e não conseguem, assim, realizar a contrarreferência. Quando o acompanhamento familiar é insatisfatório, a referência e contrarreferência tendem a não ocorrer ou ocorrem em momentos que não geram sentidos para a família; Ações protocolares ou diálogo entre as equipes : provocações As equipes de CREAS e CRAS (como entre outras unidades) tem encontrado inúmeras dificuldades de diálogos, impossibilitando um trabalho articulado. Na real (lembrem-se do meu alerta), há uma rivalidade entre as unidades (ouço gritos: é assim mesmo!!). Se comunicam, numa lógica da linearidade, do protocolar. Isso impede que as equipes se situem como parte de um mesmo sistema e que compreendam que a separação por níveis de proteção não pode ser considerada uma hierarquização do saber ou da relevância. Sugiro a leitura do texto da Lívia de Paula, colaboradora do BPS que discorreu de forma leve e precisa a respeito da interação entre CRAS e CREAS: CRAS versus CREAS: que trabalho conjunto é esse? notem que o título contem a palavra versus! 😉 A qualidade do desenvolvimento do trabalho social com famílias – TSF depende também da efetividade da Gestão do Trabalho e da capacidade de articulação e integração da coordenação de unidade/serviços. Devo pontuar que já presenciei e ouvi de diferentes colegas, em regiões distintas, que a gestão privilegia ao CREAS quanto a composição das equipes. Os “menos capacitados” iriam para o CRAS! Lamento por quem já vivenciou isso, lamento mesmo, inclusive por mim! Como assim o trabalho da proteção básica pode ser feito por profissionais menos preparados? O desafio do TSF no âmbito da proteção social básica – PSB é enorme porque trabalhar com prevenção, proação e proteção, tudo ao mesmo tempo e pelos mesmos profissionais, exige maestria e formação, bem como capacitação, como a todo trabalhador da rede socioassistencial. Não raras vezes, vejo que quando há apontamento de falhas ou segregação ao invés de somar responsabilidades, há uma deficiência no trabalho da coordenação e/ou da gestão. Então, à Gestão do Trabalho cabe fomentar a implantação ou implementação da Educação Permanente para dirimir processos equivocados que se instituem nas organizações como imbróglios à articulação entre os operadores e gestores da rede socioassistencial. Referência e contrarreferência Defendo que o processo de referência e contrarreferência não deve ser entendido e nem praticado como encaminhamento, este faz parte do processo, mas não o esgota. A conceituação destes dois termos traz à cena uma linearidade, considerando que referência é sempre uma solicitação de proteção remetida da proteção básica aos níveis de maior complexidade e contrarreferência é o caminho inverso. Em 2009, no caderno de “Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS: ” encontramos a seguinte conceituação: A função de referência se materializa quando a equipe processa, no âmbito do SUAS, as demandas oriundas das situações de vulnerabilidade e risco social detectadas no território, de forma a garantir ao usuário o acesso à renda, serviços, programas e projetos, conforme a complexidade da demanda. O acesso pode se dar pela inserção do usuário em serviço ofertado no CRAS ou na rede socioassistencial a ele referenciada, ou por meio do encaminhamento do usuário ao CREAS. A contrarreferência é sempre que a equipe do CRAS recebe encaminhamento
O desafio do trabalho coletivo no SUAS

Por Lívia Soares de Paula e Tatiana Borges[1] Psicóloga do CREAS de Itaúna/MG e Assistente social na regional Franca do estado de SP No último texto de 2017, publicado em novembro aqui no Blog, propusemos uma discussão acerca dos desafios que se apresentam nas relações entre CRAS e CREAS. Muitas foram as manifestações dos colegas do SUAS a respeito da importância de discutirmos este assunto e das dificuldades para que esta discussão aconteça de forma efetiva e produtiva. Sendo assim, optamos por tentar avançar um pouco nas reflexões sobre esta temática. Considerando que a colega colaboradora Tatiana Borges também abordou este assunto em um de seus textos[2], surgiu o desejo de estabelecermos uma parceria na escrita desta colaboração. Esperamos que, em meio a tantas ameaças que as políticas públicas têm sofrido, nossas pontuações possam contribuir para renovar as energias daqueles que, assim como nós, continuam acreditando na potência da atuação no Sistema Único de Assistência Social. Dentre muitas das manifestações a respeito do texto anterior, alguns profissionais expuseram sua insatisfação diante do acúmulo de trabalho em seu cotidiano. Vemos que este é um tema recorrente no âmbito dos técnicos do SUAS. E é exatamente por isso que nos interessa lançar a nós mesmos algumas perguntas: o que tem nos acumulado? Como temos olhado para este excesso de tarefas? O que nos é possível fazer diante do cenário que está desenhado em nosso equipamento neste momento? Pode ser que nas respostas a tais perguntas, apareçam os inúmeros problemas que temos: desvalorização da política; a velha lógica assistencialista; falta de interesse e conhecimento de quem gere nossos serviços; demandas que não são nossas; demandas que são nossas, mas que escancaram nossa impotência, entre outras coisas. Diante destes problemas, a angústia é tão grande que às vezes nos cega e produz desesperança. Nos sentimos sozinhas/os e desamparadas/os. Essa sensação não é injustificada. Ainda esperamos por soluções individuais, tanto para nós, profissionais, quanto para as/os as/nossos usuárias/os. Ainda trabalhamos no caso a caso, no um a um. Falamos sobre coletividade, mas parece que ainda não sabemos o que isso significa. E quando nos aproximamos de qualquer iniciativa que remeta a ela, nos assustamos. A ideia de coletividade nos convoca a aprender a estar com. Existirá exercício mais desafiador que este? Se começar a refletir sobre a coletividade já nos causa inquietação, imagina só a proposta de realização de um trabalho coletivo com famílias e indivíduos no território em uma ótica emancipatória? Pois bem, esta é a intencionalidade presente na política de assistência social e se isto causa medo, podemos dizer que estamos juntas/os. Mas não juntas/os apenas no reconhecimento de que nosso excesso de serviço nos impede até de dialogar com nossos pares, queremos estar juntas/os para refletir sobre isso e, ao mesmo tempo, atuar numa perspectiva modificadora da sociedade. Afirmamos que se trata de uma perspectiva modificadora porque temos clara a realidade individualista em que vivemos, na qual bens universais e coletivos não são valorizados e a indiferença com o que se imagina não dizer respeito a “si próprio” impera. Sabemos que trabalhar na linha de frente de uma política pública e desenvolver um trabalho social exige conhecimento teórico-metodológico, competência técnica-operativa e, principalmente, coragem para mudar, encarar o medo e enfrentar o grande desafio que é nadar contra correnteza. Em uma sociedade individualista, onde cada cidadão é visto como “culpado” pela sua condição social, independente de sua classe, gênero ou etnia, onde cada pessoa, individualmente, é responsável por cuidar da própria vida, estando ou não desprotegida, estando ou não vulnerável, estando ou não exposta às mais variadas formas de risco social, observamos que as políticas públicas não são fortalecidas. O não fortalecimento das políticas públicas, em nosso entendimento, aponta para o desafio que estão sujeitos todos aqueles envolvidos no planejamento, gestão e execução dos serviços advindos de tais políticas. Toda pessoa que trabalha em determinada política assume um compromisso social de extrema relevância. É este compromisso ético-político que, muitas vezes, nos convoca a refletir sobre nossa atuação e a repensar o modo como trabalhamos. Compreendemos que não é fácil mudar hábitos e pensamentos, não é fácil mudar a rotina de trabalho e nos organizarmos em equipes com objetivos comuns, dialogando e compartilhando saberes, mas as experiências de pessoas que ousaram nadar contra a maré podem nos ser fonte de inspiração e admiração, por nos apresentarem o novo e serem bastante produtivas. Sabemos que não é nada simples primar pela construção de um trabalho coletivo, mas cremos que é consenso de boa parte de nossos colegas do SUAS que o trabalho isolado e personalizado que, infelizmente, ainda executamos em nossos serviços, revela-se fonte de grande angústia e até de adoecimento, além de não apresentar, na maioria das vezes, os resultados que esperamos. Esta constatação não despreza a importância das nossas ações em cada situação que acompanhamos, mas será que não podemos avançar? Cremos que, em algum momento, é preciso haver a transição do individual para o coletivo, pois, nem mesmo uma equipe de referência completa e multidisciplinar dará conta do atendimento de todas as solicitações no trato “um a um”. As premissas do SUAS exigem de nós, profissionais e gestores/as, um esforço a mais e isto não quer dizer que estamos fechando os olhos para as inúmeras dificuldades que enfrentamos, nem para as situações restritivas e negativas do trabalho em equipe, interdisciplinar e coletivo. Mas o fato é que só se garante ou conquista direitos sociais na coletividade e a História confirma esta assertiva. Assim, atuar como profissionais de referência em uma política pública já nos coloca contra a maré e assumir a incumbência de realizar um trabalho coletivo é, de fato, nadar contra a correnteza, o que não se configura como algo simples. No entanto, sabemos que o lugar que as águas nos levam é o que mantém as coisas como estão, podendo retroceder cada vez mais. O inconformismo com a realidade à nossa volta nos impulsiona a assumir o desafio de tentar chegar à fonte. A maré é o acúmulo de trabalho
CRAS versus CREAS: que trabalho conjunto é esse?

Por Lívia de Paula Já havia anunciado em texto anterior “Profissionais do SUAS: Qual a bandeira que nos une?“, que, atendendo à sugestão de uma leitora do Blog, trataria aqui das relações entre os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). Esta é a proposta do texto deste mês: iniciar algumas reflexões sobre nosso trabalho nestes equipamentos e sobre como temos feito as interlocuções entre os equipamentos em nossos municípios. Comecemos pelo básico. O que dizem as normativas do SUAS sobre o que compete ao CRAS e ao CREAS? Vejamos alguns pontos. Segundo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2005), a Proteção Social Básica (PSB), a qual é referenciada pelos CRAS, visa a prevenção de situações de risco e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Já a Proteção Social Especial (PSE), referenciada pelos CREAS, demanda procedimentos que visem o apoio a indivíduos e famílias que se encontrem fragilizadas e/ou em risco diante de situações nas quais seus direitos foram violados. (PNAS, 2005) De forma bastante sintética, desenhamos então a linha tênue que nos separa e que nos faz repetir inúmeras vezes as perguntas: houve violação de direitos? É do CREAS ou do CRAS? Como se o nosso trabalho fosse uma equação matemática, dedicamo-nos a estas perguntas com tanto afinco, esquecendo, por vezes, o nome dos usuários, as peregrinações que eles fazem pelos inúmeros serviços da rede pública (não apenas pelos serviços da Assistência Social) e o desgaste e a revitimização a qual ficam expostos cada vez que contam a sua história para um profissional diferente. A busca por uma resposta objetiva que defina qual equipe tem a obrigatoriedade de acompanhar cada família faz com que nos distanciemos cada vez mais dos objetivos do nosso trabalho. Não estou aqui negando a necessidade de que cada equipamento saiba o seu papel, suas competências e limites dentro do que é recomendado para a execução do trabalho pertinente ao SUAS. É primordial que as equipes saibam o que lhes compete, fortifiquem-se e trabalhem alinhadas com as orientações da Política de Assistência Social. O que me preocupa é a forma como temos utilizado esta definição de competências. Em minha percepção, temos dificultado o diálogo e as discussões que poderiam nos levar a um consenso e a efetivação de um trabalho de parceria entre os dois equipamentos. Distanciados dos objetivos do SUAS, corremos sério risco de empobrecer nossa prática, fazendo com que ela se torne mera identificação ou não de violação de direitos, aproximando-nos mais uma vez da lógica policialesca de averiguação, baseada na lógica binária que objetiva as relações entre os indivíduos. Não é raro ouvir de colegas trabalhadores a seguinte afirmativa: se tiver violência comprovada, é CREAS. Do contrário é CRAS. Ao que me ocorre sempre as questões: o que estamos chamando de comprovação de violência? Violência comprovada por quem? E para quê? Quanto tempo a família terá que esperar para ser acompanhada até que seja entendido se houve ou não violência? Por tudo isso, creio ser urgente que repensemos nossa forma de interpretar a organização que delineia nossa atuação enquanto profissionais da Política de Assistência Social. Não há linha tão rígida que separe prevenção de proteção. Se acaso ela existisse, já a teríamos identificado, tantos são nossos esforços dispensados nisso. O diálogo horizontal entre CRAS e CREAS é o único recurso que pode possibilitar um trabalho efetivo no âmbito do SUAS. O usuário não pode ser de um ou do outro. O usuário é do município. E de todas as políticas públicas do município. Isso implica na construção de fluxos de referência e contrarreferência entre os diversos equipamentos do município, mas especialmente na construção deste fluxo entre os CRAS e os CREAS. De acordo com BATISTA E COUTO, A referência e a contrarreferência é um sistema onde um serviço articula com o outro levantando importantes informações sobre o indivíduo e trabalhando de acordo com as peculiaridades de cada caso […] Os serviços e atendimentos são complementares, é um processo dialético em constante formação, ou seja, através do diálogo e em contato com a rede, numa troca de informações construindo novos pensamentos, conceitos, saberes e se adequando as [sic] demandas. (p.18) A complementariedade das ações é algo imprescindível no que diz respeito à nossa atuação frente a demandas tão complexas quanto as que chegam aos nossos equipamentos. Situações de vulnerabilidade, risco iminente, suspeitas de violência são demandas que nos exigem o planejamento e a execução de ações que garantam às famílias a possibilidade de fortalecimento de seus laços e a reorganização das relações entre seus membros. Estando o CRAS no território e conhecendo a realidade daquela população, configura-se como aliado essencial para o trabalho a ser desenvolvido pelo CREAS. Assim como o CREAS pode ser parceiro importante para o CRAS, por conhecer de forma mais aprofundada as violações de direitos vivenciadas pelos indivíduos e famílias que acompanha, auxiliando o CRAS a traçar e efetivar suas estratégias de prevenção destas violações em seu território de referência. É nesta relação dialógica que teremos estabelecido o real trabalho do SUAS. Cabe lembrar o que fica também esquecido diante do dilema CRAS versus CREAS: somos parte de uma só equipe, a equipe de Trabalhadores da Política de Assistência Social, e responsáveis, antes de tudo, pela operacionalização dos preceitos que regem a Política. Como equipe do SUAS, precisamos ter um propósito comum, mesmo que os focos dos nossos trabalhos sejam diferentes, no que tange à organização dos serviços. CRAS e CREAS precisam compartilhar seus objetivos e responsabilidades, fazendo com que, de fato, nossa bandeira seja a mesma. Tomando emprestado o lema da 12ª Conferência Estadual de Assistência Social de Minas Gerais, enfatizo que o momento político do nosso país exige que não nos apartemos, que estejamos juntos na defesa do SUAS, pois, mais do que nunca, precisamos “ORGANIZAR, LUTAR e RESISTIR”. Que estejamos unidos em nome daquilo que acreditamos, em nome do protagonismo dos nossos usuários. Que sejamos todos, profissionais de CRAS, CREAS e dos demais equipamentos,
Estamos nos organizando em caixinhas e desorganizando as proteções ou nos organizando em proteções e desorganizando as caixinhas?
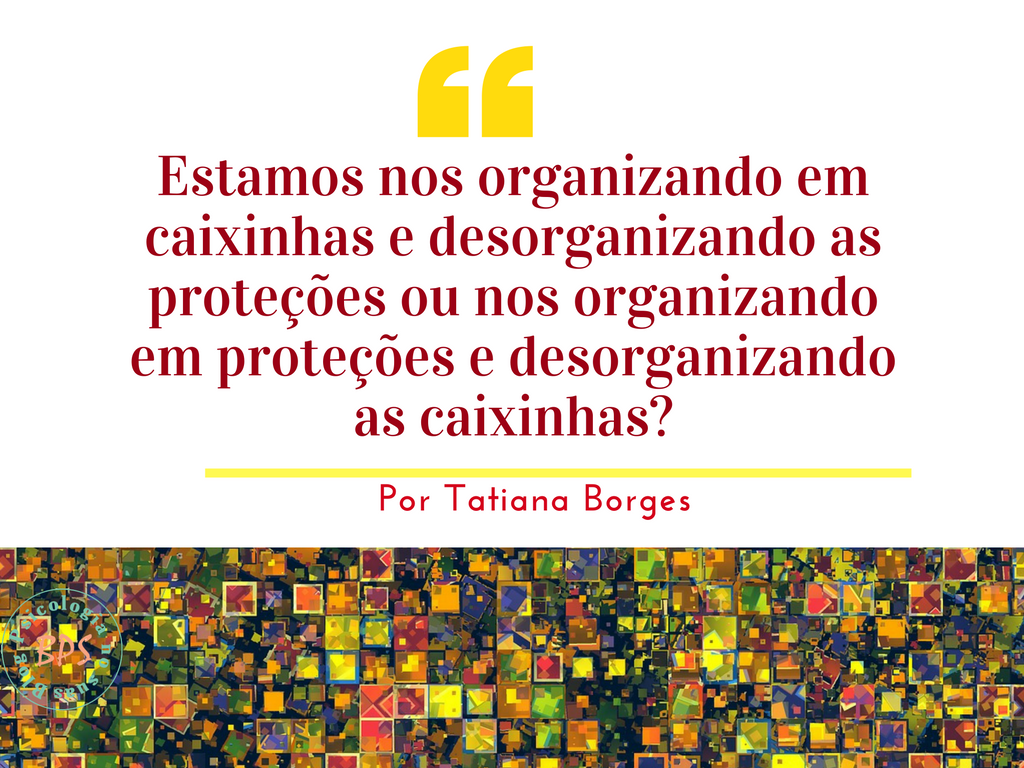
Por Tatiana Borges* “Comecei a pensar, que eu me organizando, posso desorganizar, que eu desorganizando, posso me organizar” Foi com esta frase de Chico Science e Nação Zumbi que terminei o texto de minha primeira participação aqui no Blog (Encontros e trocas profissionais: relato de uma experiência exitosa) e volto neste mesmo espaço com a inquietante reflexão do quanto que nós, profissionais do SUAS, temos que trabalhar na construção e desconstrução de práticas e posturas no dia a dia desta política, pois os nossos processos de trabalho se dão nos encontros, nas trocas e alianças que estabelecemos, seja com usuárias/os, com nossas/os colegas da mesma ou de outras categorias ou com nossas/os superiores nas estruturas institucionais. Justamente na reprodução das relações sociais é que vamos nos desorganizando e nos organizando enquanto atoras/es importantes de uma política pública, assim como o próprio SUAS que, para se organizar como sistema teve e tem que desorganizar e romper a cada dia com as formas tradicionais de se fazer a assistência social, formas estas incompatíveis com o processo democrático, com a igualdade e com a dignidade humana. Alguns anos de experiência na assistência social me evidenciaram a tendência natural que temos de nos organizarmos em caixinhas, ou seria desorganizarmos? Não sei. O que é possível observar é que esta característica para além de dar uma sensação de uma habitual zona de conforto, limita a prática profissional, a interdisciplinaridade, o trabalho coletivo e prejudica o conteúdo e o alcance dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito do SUAS. (Assunto muito bem tratado no último texto da Aline Moraes) As armadilhas das caixinhas possuem variadas formas e a maioria delas são bem conhecidas pelas/os trabalhadoras/es do SUAS, um exemplo é o aprisionamento por categorias de nível superior, onde é defendido atribuições exclusivas como: “visita domiciliar deve ser feita por assistente social” “é o psicólogo que tem habilidades para grupos” estas são algumas frases que costumamos a ouvir. Este tema já vem sendo tratado neste blog e, diga-se de passagem, com muita didática pela Rosana Fonseca, mas reforço que este pensamento em caixinha não prima pela partilha e nem pela produção de novos conhecimentos, tampouco prioriza as seguranças que a política deve garantir, mas sim a segurança de espaços profissionais e de vaga de trabalho que somados ao processo de alienação da divisão entre os que pensam e os que executam as ações, configuram-se em um dos inúmeros efeitos das contradições das relações de trabalho, que não pretendemos aprofundar aqui. (TORRES, 2014; RIZZOTTI, 2014) A compartimentalização a qual me refiro é ainda mais automática quando falamos em setores, áreas, unidades, núcleos, divisões administrativas, entre outros. No entanto, a provocação que trago é que o balizamento que estamos criando entre as proteções hierarquicamente definidas como básica e especial de média e alta complexidade pode também estar limitando a função central da política de assistência social que é a própria proteção social dos indivíduos e famílias e que para nós gestoras/es e trabalhadoras/es é, ou deveria ser, o objetivo em comum, pressupondo horizontalização e democratização de poderes e saberes. Ora, é sabido que as demandas e violações apresentadas pela população usuária dos serviços públicos de uma forma geral não serão respondidas unicamente por uma política pública, ou por um tipo de proteção, tampouco por um tipo exclusivo de trabalho técnico, ademais, “a proteção integral requer complementariedades na intervenção dos profissionais de diferentes serviços”, na assistência social, esta complementariedade se dá entre os serviços abrangidos pelas proteções sociais, a básica e a especial. (TORRES, 2014) Com certo tempo realizando o acompanhamento da política de assistência social nos municípios foi possível observar a grande necessidade que temos de identificar o que diferencia as proteções, muitas vezes na ânsia maior por demarcar espaços de atuação, uma frase comum que destaca bem esta afirmação é “se tem violação de direitos a proteção social especial de média complexidade que deve atender”, no entanto quando temos que ajuntar ações surge enormes dificuldades, como por exemplo, no reordenamento dos serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos, na ocasião que foram criadas metas de atendimentos para as situações prioritárias que se configuram como proteção social especial, mas que devem ser atendidas no serviço da básica e que até hoje geram inúmeras dúvidas entre técnicas/os e gestoras/es, este processo daria assunto para vários outros posts. O que pretendo ressaltar aqui é que temos propensão em usar o que diferencia para limitar ou encaixotar e não para alargar, ou no caso, ampliar a proteção social. (TORRES e FERREIRA, 2016) Esta problematização tem sido realizada nos encontros ampliados do GECCATS (Grupo de Estudo e Capacitação Continuada das/os Trabalhadoras/es do SUAS) que mantemos na região de Franca/SP. Ao longo de 2016 debatemos os anseios relativos ao referenciamento e contrarreferenciamento entre CRAS e CREAS na perspectiva de superar a fragmentação e construir caminhos por intervenções conjuntas e partilhadas, sem desrespeitar as autonomias intelectuais. Abro aqui um parêntese para explicar que o GECCATS surgiu como uma iniciativa de um grupo de profissionais do estado, dos CRAS e órgãos gestores e se constituiu em um espaço de estudo e trocas de experiências para trabalhadoras/es de nível superior da proteção social básica, pois naquele momento (2009) o entendimento do papel do CRAS como porta de entrada do SUAS era premente. A complexidade das temáticas associadas à proteção social especial sempre foram tratadas em espaços separados deste grupo. Há algum tempo tem surgido fortemente a necessidade em transformar o GECCATS em um grupo de interproteções, com a expansão da participação para trabalhadoras/es da PSE de CREAS e órgãos gestores. A presença das queridas professoras Abigail Silvestre Torres e Stela da Silva Ferreira em um dos encontros reforçaram este caminho inadiável de aprimoramento e amadurecimento do grupo ao debater com as/os participantes as questões que suscito neste post e que nos inquietam e em certo ponto até nos assustam por nos tirar da caixinha. Assim todo o conteúdo deste texto tem como pano de fundo os meus registros e interpretações das colocações