Oficinas, grupos e atividades no âmbito do SUAS
Por Aline Morais* Inicio aproveitando uma observação que expus em outro texto: Diálogos e perspectivas possíveis da Assistência Social com/e da Terapia Ocupacional quando citei sobre as discussões feitas por colegas acerca do uso de atividades e necessidade de que essas tenham objetivos, por exemplo, de que a oficina de artesanato “nunca pode ser feita sem uma parte socioeducativa” associada. Tal discussão, para os terapeutas ocupacionais está bastante contemplada, já que o ensino de atividades na formação do Terapeuta Ocupacional é central nos diferentes campos da profissão, e sempre permeada por um intuito. Como também já sinalizamos, é um mito pensar na atividade ou na aplicação de uma técnica que produz efeitos por si só, sem o recurso e direcionamento profissional competente. Partimos da visão de que a atividade humana é relacional, instaurando aprendizagens de si, do outro, de técnicas, instrumentos e territórios, facilitando novas experiências que aumentem a potência de ação e criação da existência (SILVA, POELLNITZ, 2015). O uso de atividades nos serviços de assistência social é um importante recurso (ou metodologia) de trabalho junto ao seu público. Ainda há um histórico de oferta de cursos profissionalizantes (tendo em vista estimular o empreendedorismo e saída da condição de dependente do poder público) e artesanato (para dar uma “ocupação”) aos sujeitos da assistência. Parece-me que a visão de que “é necessário se ter um objetivo” é recente em alguns núcleos do campo social. Esse raciocínio invertido confere um grande risco: o de que se construam objetivos e demandas para justificar a oferta de atividades que se têm disponíveis, sendo que o caminho deveria ser contrário: construir atividades a partir das demandas dos usuários (sempre!). A partir disso, vamos focar na discussão acerca das atividades, oficinas e grupos. Qual a diferença entre grupo e oficina? Segundo o dicionário online Michaelis, oficina é um lugar onde se exerce um ofício, um curso de curta duração que envolve um trabalho prático e partilha de experiências. Por grupo, define-se um conjunto de pessoas que forma um todo, conjunto de seres ou coisas previamente estabelecidos para fins específicos (MICHAELIS, 2017). Mediante este aporte, compreendemos que tanto os grupos como as oficinas podem ter os mesmos objetivos, contudo, sua metodologia e/ou recurso é diferente. As oficinas são um tipo de grupo, que está relacionado necessariamente ao fazer, à ação humana prática, promovendo aprendizagem e experimentação compartilhada, contando com um caráter ativo e dinâmico dos sujeitos (SILVA, 2007). Considerando as orientações técnicas sobre o PAIF (BRASIL, 2012), as oficinas com famílias são definidas como encontros previamente organizados, com objetivos de curto prazo (começo, meio e fim) a serem atingidos, conduzidos por profissionais de nível superior. Atuar com conjunto de famílias vem da compreensão de que as pessoas estão em constante interação com o outro, relacionando-se. Essas oficinas teriam o intuito de suscitar reflexões sobre um tema (nas áreas civis, políticos, sociais, culturais, econômicos, ambientais) de interesse da família. Em geral, contam com sete a quinze participantes. Objetiva-se desenvolver projetos coletivos e empoderamento da comunidade, conquista do protagonismo e da autonomia, podendo ser aberta ou fechada. Em tais orientações, os atendimentos coletivos (em grupo), além de oficinas com famílias, podem se caracterizar em acolhidas e ações comunitárias. Portanto, segundo as orientações técnicas, as oficinas são reconhecidas como uma modalidade de trabalho grupal, mas, não necessariamente ligada ao “fazer”, já que reconhece que a reflexão de um tema poderia ser feita. Porém, a reflexão seria um “fazer”? Uma atividade prática? Entendo que a oficina, ou a confecção de algo concreto traz a materialização dos conteúdos implícitos, que somente as palavras e o recurso verbal não seriam capazes de expressar e experimentar. Diante disso, partimos desse conceito de oficina, que necessariamente envolve o fazer algo concreto-prático. Em terapia ocupacional, há diversas formas de compreensão da atividade humana, entre elas (e aquela que acredito ser a que mais dialoga com a Assistência Social) é a de que a atividade se constitui em um “meio” para diversos fins, tais como a mediação de situações, experimentação, expressão, formação de vínculos, intermediação, socialização, produção de autonomia, e outros, a serem construídos junto à população alvo das ações de acordo com suas demandas (MALFITANO, 2005). O uso de atividades admite a realização de uma série potente de ações, que podem ser classificadas, compreendidas e aplicadas com diferentes objetivos, tais como: a) a partir de técnicas intrínsecas (marchetaria, mosaico, dança, culinária, entre outros); b) uso e produção do material, recurso ou equipamento (cerâmica, fotografia, origami, papel reciclado, blog, entre tantas outras); c) pelos campos de saber em que são classificadas (artística, cultural, literária, esportiva, lúdica, de lazer, entre outras); d) pelas propostas antecipadamente elaboradas com temáticas e objetivos preestabelecidos (debates sobre perspectiva de vida, informação a respeito do mundo do trabalho, processos educativos acerca da rede de proteção da infância e adolescência no município, entre outras); e) por serem ações cotidianas (usar o transporte público, estudar, alimentar-se, jogar futebol, entre outras); f) pelos diferentes sentidos e significados que os sujeitos em ação podem designar ou imprimir a partir de suas vivências pessoais, nesse caso, ainda que as propostas tenham indicações ou direcionamentos prévios, o interesse está na percepção individual que aquela determinada experiência proporcionou ao participante da ação (SILVA, 2012). Considerando as oficinas como um importante recurso para o trabalho social com famílias, vale destacar que aquelas que, de fato, promovem transformações, devem propiciar espaços de pertencimento ao sujeito, visando construir perspectivas de vida por meio de descobertas e capacitações das suas potências, que facilitem o autoconhecimento, a expressão de si, que dá sentido ao que somos (LIMA, 2004). Para tanto, volto à importância do recurso humano, especificamente do terapeuta ocupacional. Por mais que possa ser redundante para alguns, cabe enfatizar que o oficineiro tem uma função diferente do terapeuta ocupacional, pois ele tem o domínio da técnica (por exemplo, o músico que ensina o processo de composição de um rap, um artesão). O terapeuta ocupacional pode dominar a técnica, mas isso não é o essencial, tampouco imprescindível a este profissional. Ele deve ser
Trabalho em equipe ou equipes trabalhando no SUAS?
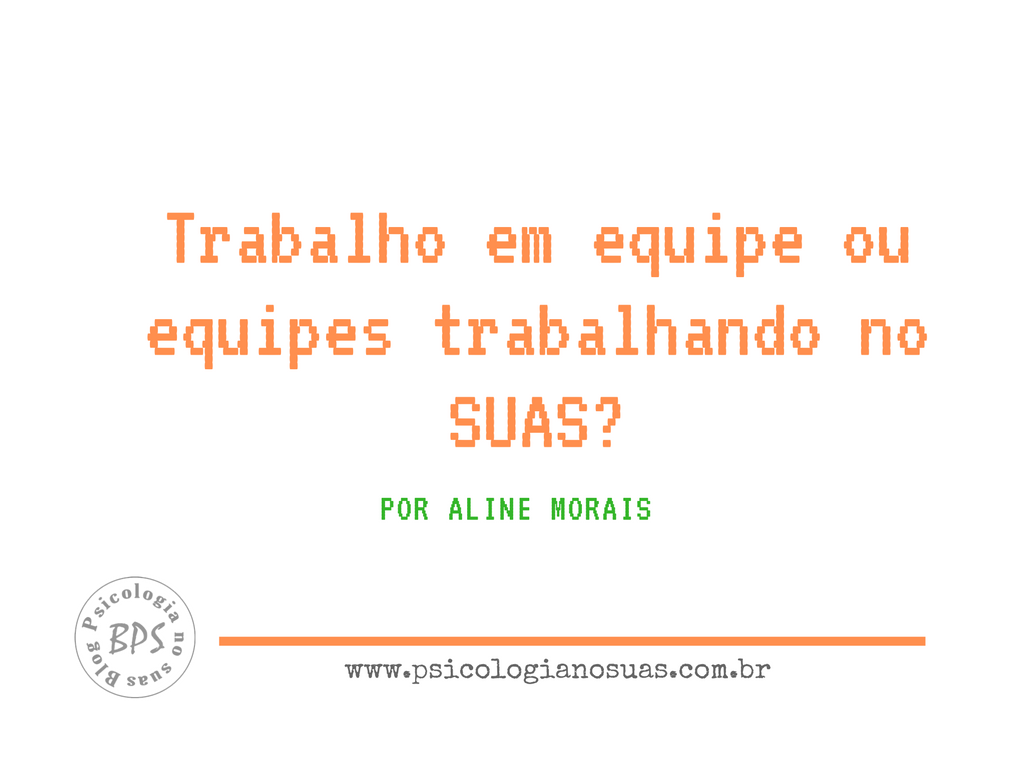
Por Aline Morais* A equipe de trabalho e profissionais que podem compor o SUAS estão previstos na NOB-RH e suas resoluções. Contudo, como se dará o trabalho em equipe na assistência social, ainda é pouco abordado, apesar de ser determinante para execução das ações dos serviços socioassistenciais. A assistência social é uma área de prestação de serviços cuja mediação principal é o próprio profissional (individualmente, sobretudo, coletivamente) (SPOSATI, 2006). É sabido que a precarização do trabalho afeta diretamente a execução das ações da assistência, tais como formas de contratação inseguras, ausência de planos de carreiras, desvio de funções, entre outros. Também se sabe que são necessárias algumas competências para se trabalhar no SUAS, tais como compreensão da trajetória histórica da assistência social, políticas públicas e sociais, conhecimento dos direitos e trabalho social com famílias, entre outros (MUNIZ, 2011). Pesquisei brevemente nos principais periódicos de Serviço Social e no Google acadêmico, relacionando as palavras equipe e assistência social. No entanto, só foram encontrados artigos relacionados à saúde. Na assistência social, encontrei referenciais que abordavam sobre o papel dos coordenadores, as metodologias de trabalho e necessidade de se realizarem reuniões de equipe. Aspectos importantes, que, entretanto, não abordam as funções dos profissionais nas equipes e suas dinâmicas de trabalho coletivo, podendo elas se caracterizar como equipe de trabalho, ou apenas uma equipe trabalhando. No primeiro caso, entende-se que há integração entre as relações e a prática, já no segundo, trata-se apenas de um “agrupamento” trabalhando, com ações fragmentadas. Compreendemos e está normatizado pelos conselhos de classe sobre o papel do assistente social, do psicólogo, do terapeuta ocupacional e demais profissionais no âmbito do SUAS. Contudo, ainda há muito que avançarmos nas formas de inserção desses profissionais. Ainda se verifica muito profissional sem “perfil”, com desvio de funções, ou com vínculos trabalhistas precários, como é o caso dos cargos comissionados, que se alteram a cada mudança de gestão. Defendo a necessidade de abertura de concursos específicos, pois o profissional tem a chance de escolher o cargo que se adéqua mais ao seu perfil (saúde ou assistência social, por exemplo). Isso, teoricamente, garante uma continuidade no trabalho realizado, evitando remanejamentos de recursos humanos e, consequentemente um trabalho de melhor qualidade. Contudo, penso ser insuficiente pensar apenas no papel de cada categoria profissional. A questão é: como elas interagem em equipe a partir de sua formação? O que significa ser uma equipe de trabalho? Com base nos artigos encontrados, as equipes podem tender a: multidisciplinaridade, que seria a associação ou justaposição, que possuem um objetivo em comum, a partir de distintos pontos de vista (a partir de sua formação); interdisciplinaridade, em que se busca superar as fronteiras disciplinares, possuindo uma linguagem consensualmente construída, integração de instrumentos, métodos e esquemas conceituais; e transdisciplinaridade, com tendência à horizontalização das relações, à integração de um campo particular para uma premissa geral compartilhada e estruturada, configurando um trânsito entre e por diferentes campos disciplinares. Diante das possibilidades de interação de um coletivo de profissionais, algumas instabilidades polarizadas podem emergir desse debate: alguns pensarem que podem perder a sua especificidade diante da equipe e se tornarem profissionais ‘substituíveis’, ou no outro extremo, atuar de forma muito especializada e fragmentada, não havendo interação com a equipe. É importante ter que o trabalho coletivo se configura no estabelecimento de relação recíproca entre as ações técnicas e interação dos agentes. Sendo assim, partirmos da compreensão que uma equipe de trabalho requer articulação, interação e comunicação efetiva dos trabalhadores, envolvimento e luta por um objetivo comum (que como sabemos, na assistência social é necessário, em muitos momentos, apresentar um posicionamento contra-hegemônico), empatia, sintonia, cuidado, sinceridade, compreensão de grupo, entre outras características que um relacionamento cotidiano requer. Não basta seguir as orientações técnicas, já que elas estão sujeitas a inúmeras interpretações e pontos de vista. Não há imparcialidade! Partindo disso, é necessário também que as formas mais tradicionais de atuação sejam repensadas, esquecendo aquele discurso de que “sempre fiz assim, e sempre deu certo”. Trabalhar em equipe é permitir-se (coletivamente) a mudança, ser capaz de sentar-se em outra cadeira, em outra mesa, mudar os caminhos, ser criativo, tentar o novo, pois, como bem nos ensinou Clarice Lispector em seu poema Mude, a direção é mais importante que a velocidade. Quando o trabalho se torna uma “causa” pela qual se quer lutar e se acredita, certamente o profissional buscará novas estratégias de ações e terá maior comprometimento, quando há o “otimismo da prática” contra o “pessimismo da razão”, como escrevia Gramsci. Pela minha experiência em campo, tenho a impressão de que as pessoas que possuem relação além-equipe, além-trabalho, podem apresentar ações mais coerentes. Quando trabalhei nas medidas socioeducativas formei vínculos com colegas de trabalho, que se ampliaram para outros lugares informais, que certamente colaboraram para nossa integração e qualidade do serviço. Obviamente que isso tem a ver com afinidades, e não há como forçar em tê-la. Outros sinais, obtidos em pesquisa, são que as dificuldades pessoais de relacionar-se evidenciam problemas no processo de trabalho, gerando a necessidade de cuidado dos trabalhadores para favorecer o fortalecimento da equipes (PEDUZZI, 2001). Algumas pistas que tal pesquisa indica é que alguns aspectos são primordiais para o trabalho em equipe, tais como comunicação (entendimento e reconhecimento mútuos), ter projeto assistencial comum (concepções compartilhadas no diálogo) e equilibrar a especificidade dos trabalhos (conhecimento específico, técnico de formação) associada à flexibilidade da divisão do trabalho (ações executadas indistintamente por diversos profissionais). Essa flexibilidade da divisão do trabalho convive com as especificidades de cada área profissional, na medida em que ambos compõem o projeto assistencial construído pela equipe. Claramente, é complexo pensar em “classificar” as equipes, e nem pretendemos fazê-lo. Entretanto, penso que essas reflexões, embora retiradas de referenciais pertencentes à área da saúde, poderia nos ofertar algum instrumento disparador para levantar questionamentos e análises acerca de como anda nossa dinâmica de trabalho, no relacional cotidiano. Como são tomadas as decisões? Qual o fluxo interno estabelecido para o usuário? Como nos comunicamos? Sabemos trabalhar coletivamente? Fecho
O primeiro-damismo e a desprofissionalização como barreiras na consolidação do SUAS
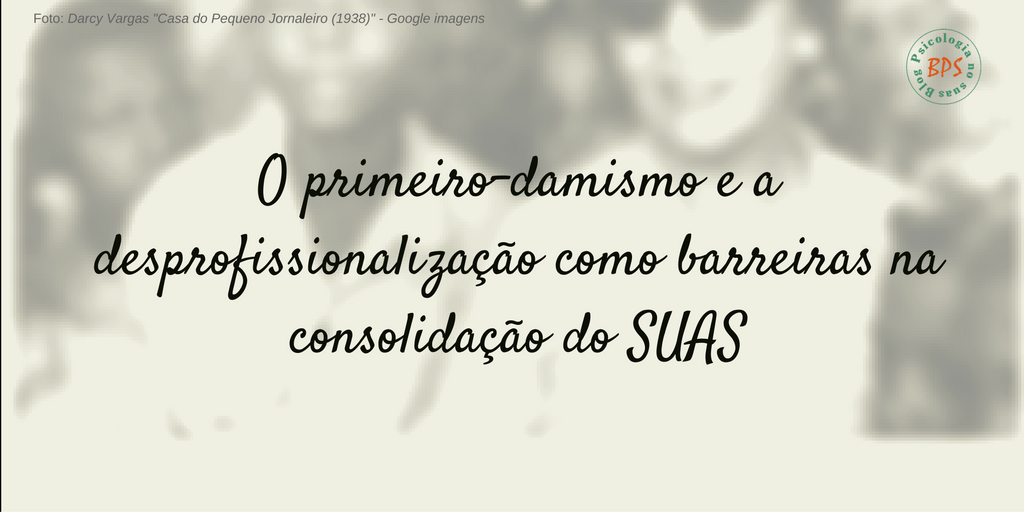
Por Tatiana Borges; Aline Morais; Lívia de Paula; Rozana Fonseca e Thaís Gomes Apesar de estar reconhecida enquanto política pública na Constituição Federal de 1988, a Assistência Social tardiamente passou a se constituir como direito social e dever do Estado, já que o seu histórico é fortemente marcado pela caridade, filantropia e voluntariado, ou melhor, é o histórico do ‘não direito’, do favor. É possível afirmar que foi com a implantação do SUAS, através da PNAS de 2004, que ocorreu um salto na profissionalização da assistência social, ou seja, contrapondo as práticas emergenciais de compaixão, de improviso e personalismos, é o arcabouço normativo dos últimos 10 anos da política de assistência social que reforça ou exige a presença de equipes de referência interdisciplinares constituídas por servidores públicos para a intervenção no conjunto de expressões das desigualdades sociais, através de serviços e benefícios socioassistenciais. Dito de outra forma, o reconhecimento, através de ordenamentos institucionais e direcionamentos políticos, de que o atendimento com dignidade prestado à população exige condições de trabalho e profissionais qualificados nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa é recente. Assim como é novo o tratamento da Assistência Social como responsabilidade estatal, expressada através de seguranças indispensáveis ao desenvolvimento pleno dos cidadãos com a garantia de direitos e com o envolvimento efetivo de todas as esferas de governo. Muito embora este entendimento seja fruto de estudos muito anteriores ao SUAS, de embates e lutas históricas para o reconhecimento da política de Assistência Social como direito e de militância política de diversos segmentos da sociedade, bem como de profissionais, com destaque aos assistentes sociais, o movimento para a implantação deste sistema é ainda incipiente, pois temos mais um modelo do que um sistema propriamente instalado, o que não invalida, de forma alguma, os avanços reais conquistados. Avanços oriundos especialmente dos movimentos organizados de trabalhadoras/es e de usuários, seja na militância diária em seus equipamentos de trabalho ou em fóruns, grupos e conselhos destinados à discussões, deliberações e construções da política. O avanço do SUAS – mesmo que não esteja nivelado, pois a cobertura para os riscos sociais não é universalizada e há um descompasso entre as formas e o tempo histórico de incorporação desta política pela união, estados e municípios – é inegável, principalmente, pelo potencial, já demonstrado pelas pesquisas e pelos indicadores existentes, de impactar a existência de grupos de pessoas, atuando na proteção a vida, na prevenção da incidência de riscos sociais, na identificação e superação de desproteções sociais e na redução de danos. Ainda assim, o desafio cotidiano que nós, das diversas categorias profissionais – que hoje, graças ao conjunto normativo do SUAS, compõem a política de assistência social – enfrentamos é superar a tradição de práticas assistencialistas pautadas sempre pelo controle e adestramento das famílias e pela criminalização da pobreza como forma de manter “a ordem e o progresso” do país, bem como o poder sobre os pobres, tratando os como desvalidos, carentes e não como cidadãos ativos de direitos. Considerando que o primeiro-damismo é uma realidade em muitos municípios, fica mais evidente a necessidade de pautarmos criticamente este cenário, uma vez que agora há uma representação emblemática e carregada de retrocessos. O quanto o primeiro-damismo tem emperrado a consolidação no SUAS? Valeria um estudo, porque sabemos que ainda há uma distância entre a legislação e o modo como a Assistência Social é vista pela população, pelos seus dirigentes e gestores municipais. O que sabemos é que, em muitos municípios a realidade da política de assistência social é permeada por ações de cunho clientelista que se convertem em moeda de troca nos acordos político-partidários entre prefeitos e vereadores para garantir votos da população. A incidência destas práticas na política de assistência social culmina numa desarticulação e fragmentação da mesma, numa sobreposição de propostas, sem considerar o que já existe no SUAS, reduzindo as ações à ajudas e concessões pontuais da primeira-dama. Nós, profissionais que compomos o SUAS e que defendemos este modelo de política pública, trabalhamos em uma direção que tem o Estado como principal responsável pelo bem-estar social e assim tendo como competência a promoção da proteção social que, no âmbito do SUAS, se materializa por meio dos serviços e benefícios socioassistenciais. Nesta direção o Estado atua como agente executivo (PAIF e PAEFI, programas e benefícios), agente regulador (dos serviços socioassistenciais prestados por entidades e organizações sociais) e agente de defesa de direitos e da participação social e esta direção, que preza a assistência como um direito e não como uma benesse, nos faz posicionarmos contrárias/os às propostas que venham reforçar o primeiro-damismo, estatuto que representa tudo aquilo que procuramos romper, ou seja, com o clientelismo, com o cerceamento de famílias e com o uso das pessoas que necessitam da assistência social para a promoção da imagem do político. O primeiro-damismo, a nosso ver, é a caricatura da negação do direito, uma vez que simboliza, de forma bastante clara, o lugar que governos baseados em assistencialismo reservam à população usuária do SUAS: o lugar de quem deve agradecer ao político pela sua bondade, por sua benevolência. Por saber que nós, trabalhadoras/es do SUAS, nos constituímos como a “tecnologia básica” deste sistema, uma vez que “a mediação principal é o próprio profissional” (BRASIL, 2008), não podemos nos calar, pois o trabalho social que realizamos exige conhecimento, formação técnica e perfil e não é possível que para um cargo de condução de uma política pública o critério seja o casamento e não o currículo profissional ou concurso público. A qualificação do trabalho social com famílias é um grande marco na implantação do SUAS e em uma de suas dimensões há um conjunto de atribuições técnicas/os, que compõem as equipes de referência dos serviço socioassistenciais. Entre estas atribuições está o acompanhamento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente, dentre outros fatores, da precariedade de renda. Assim, as famílias beneficiárias de programas de transferência de renda são prioritárias para o acompanhamento social que se configura como a oferta de um serviço e não uma exigência ou
Autonomia e suas contradições: inquietações da prática profissional
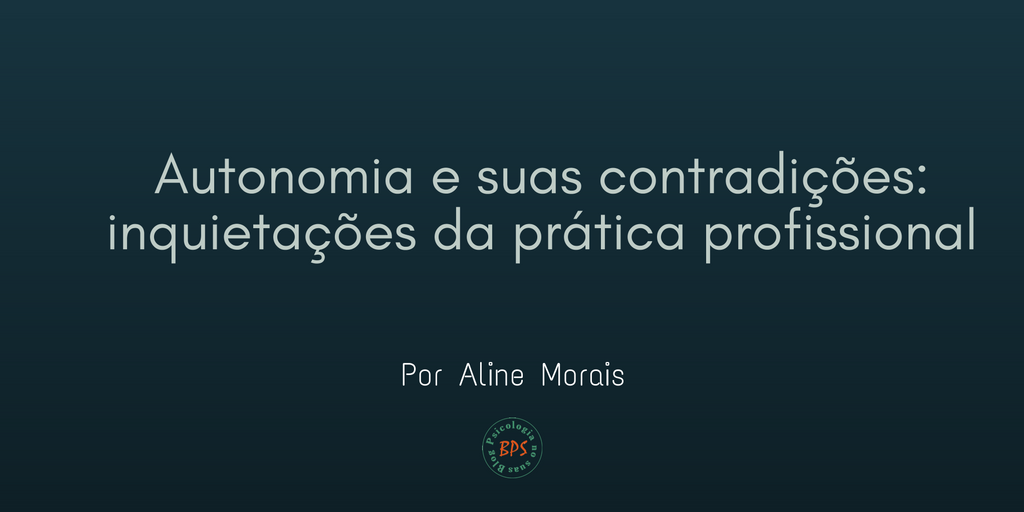
Por Aline Morais Ao pensar no trabalho social com famílias, nos objetivos de nossas ações, em um deles temos sempre acordo: promover autonomia. O que é mesmo isso? Por que os usuários da assistência precisam disso, o que lhes falta? Uma demanda (não sei bem se dos usuários, ou dos técnicos) que tem me inquietado, advém de algumas situações comuns entre algumas famílias que chegam ao CRAS, as quais imagino que com os colegas também: “problemas” com higiene (da casa, pessoal, dos filhos, etc). Chegam demandas das escolas, do Conselho Tutelar, da Saúde. Casa extremamente suja e desorganizada, crianças sujas ao chegar à escola, famílias que acumulam materiais recicláveis para venda, entre outros tantos. Assim, até que ponto tais questões configurariam negligência? Ou problema de saúde pública? Ou ainda, até onde podemos interferir no ‘funcionamento’ familiar? Quem somos nós para dizermos: “arrume sua casa”, limpe melhor o seu filho ou a si mesmo? São questões com as quais tenho me deparado, tendo a certeza de que essa questão é extremamente delicada e requer muita reflexão antes da ação. Requer cuidado, na medida em que temos lutado para nos desfazer do ranço higienista e do controle das famílias pobres que a assistência carrega em sua história. Além disso, o que deve ser levado em consideração não é o desejo do profissional, mas as necessidades das famílias, certo? Muitas perguntas e poucas respostas. Procurei materiais acadêmicos que pudessem ofertar algum suporte sobre tais questões, mas não encontrei nenhum material relacionado diretamente a discussão da higiene na assistência social (se alguém tiver, por favor, compartilhe!). Uma frase que me marcou naquele documentário “O ciclo da vida” (super indico!) foi de uma entrevistada que disse não acreditar em negligência, pois cada um dá aquilo que tem. Diante disso, entramos no campo das escolhas e nã0-escolhas (sobre a qual Lívia falou lindamente neste post ⇒“Você vai trabalhar no SUAS”: considerações sobre uma não-escolha) e, consequentemente, sobre autonomia. Sempre que penso em autonomia, me vem uma compreensão de que se trata da possibilidade de escolher, mediante as oportunidades e as não-oportunidades. Nesse caso, acho que um bom exemplo é um garoto que cometeu ato infracional. Vejo que no imaginário social tal atitude transgressora é vista como uma escolha. Contudo, antes disso, é necessário pensar que para escolher, é preciso ter alternativas. Quais as alternativas que se apresentaram de chances de vida para este jovem? Veja bem, vai além do debate de que ele é vítima (das mazelas sociais) ou autor. Estamos aqui falando de autonomia. Ou seja, antes de se promover autonomia, devem-se ter chances de escolhas, opções. E, há que se considerarem os aspectos micro e macrossociais envolvidos. Assim, percebo que falamos em autonomia de uma forma banalizada, como se fosse um conceito dado e autodefinido, ou ainda, um objetivo facilmente alcançável. Para ele, existem diversas definições. Segundo documento recente que aborda sobre o Trabalho Social com Famílias, autonomia é a “capacidade do indivíduo de eleger objetivos e crenças, de valorá-los com discernimento e de pô-los em prática sem opressões” (BRASIL, 2016, p.20 apud PEREIRA, 2000). Sposati (2013) traz algumas reflexões críticas a respeito do modo de proteção social brasileiro, o qual acaba por expressar uma dependência dos sujeitos, em contraponto a uma autonomia a ser exercida pelo indivíduo, estimulando seu espírito ‘empreendedor’. Para autora, a autonomia tornou-se um argumento neoliberal, o qual pretende desfazer da condição de sujeitos dependentes da assistência, para que exerçam autonomia, sendo, na realidade, a “ocupação remunerada de mão de obra, para que o beneficiário se transforme em provedor de sua própria proteção” (p.657). A crítica dela vem do tratamento diferenciado entre proteção social contributiva e não contributiva, sendo esta última tratada ainda como um ‘favor’ e não um direito. Nesse cenário, é necessário olhar para as entrelinhas e pano de fundo da Política de Assistência Social, notando que a autonomia encontrará espaço na contra-hegemonia, na luta pelos direitos. Ela se manifestará quando o usuário disser para o técnico que cuidará de sua casa e de seus filhos como quiser, com aquilo que tem (de repertórios e vivências). Nem sempre a conquista da autonomia irá nos agradar como técnicos, ela poderá vir a partir do embate, do questionamento, do posicionamento, das escolhas possíveis. Com isso, é preciso deslocar o olhar da norma e da disciplina, para estar em uma ação técnica relacional. Assim, talvez poderemos identificar quais os limites de nossas ações. Promover autonomia também pode significar recusar algumas atitudes, enquanto técnico. Quando eu estava executando uma oficina junto a idosos do SCFV, percebi que eles solicitavam que eu pegasse as tintas, os pinceis, e todos os outros materiais para conseguirem fazer a atividade proposta. Até a cor que iriam utilizar, pediam que eu escolhesse, e quando eu dizia “escolhe você”, alguns respondiam “tanto faz”. Neste momento, percebi que o que eu estava promovendo ali era quase o contrário da autonomia. E demorou para isso vir à consciência, não foi óbvio. Na tentativa de agradá-los, eu fazia o que me pediam. Portanto, é preciso estar atento e não cair na rotina de trabalho, para abrir espaço para essas percepções. A autonomia é aceitar no outro o que não entendemos, permitir sua participação nas suas próprias condições. Implica na capacidade dos sujeitos em criar e ampliar as suas vinculações, ter respeito mútuo, implicando em uma prática especial de troca. Governar a si próprios, sem imposições, decidir que atitudes tomar (LOPES, 2008), mesmo que seja uma “não-escolha”. Portanto, temos aqui algumas pistas de que não podemos cobrar respeito de pessoas que não foram respeitadas, ou cobrar escolhas ‘certas’ de quem não teve opções. Diante disso, ganha centralidade a necessidade de uma escuta qualificada, a respeito dos modos de vida, e, sobretudo, da alteridade. A alteridade implica reconhecer que o indivíduo existe em interação com o outro, valorizando as diferenças existentes e exercitando a empatia. Segundo Barros (2004), é preciso que o técnico saiba redimensionar o próprio saber, saiba transitar em relações de alteridades sociais e culturais em suas ações. Para concluir, percebo
Terapia Ocupacional, o social e a Assistência Social

Por Aline Morais Para iniciar, acredito que se faz necessário apresentar a Terapia Ocupacional no Campo Social, pressupondo que para alguns colegas eu não esteja trazendo nenhuma novidade. Contudo, acredito que para muitos outros profissionais seja pertinente evidenciar alguns caminhos traçados pela nossa atuação específica dentro deste campo. Comecemos com uma definição clássica da Terapia Ocupacional: um campo de conhecimento e intervenção em saúde, em educação e na ação social, que reúne tecnologias orientadas para a emancipação e a autonomia de pessoas que, por razões ligadas a problemáticas específicas (físicas, sensoriais, psicológicas, mentais e/ou sociais), apresentam, temporária ou definitivamente,dificuldades de inserção e participação na vida social. Fonte: Crefito3 Desde a década de 70, os terapeutas ocupacionais atuam no que se chama de “social”, contudo numa lógica histórica de inserção nas instituições totais (FEBEMS, asilos). Associados aos processos e movimentos de redemocratização do Brasil, os quais certamente influenciaram outras profissões, os terapeutas ocupacionais começaram a questionar o seu papel de “mantenedores da ordem institucional”. Interrogavam se realmente estavam contribuindo com o bem-estar dos sujeitos, ou apenas reproduzindo as lógicas institucionais segregatórias. Ainda, com o aumento da pobreza e da desigualdade social, os terapeutas ocupacionais, que até então estavam mais ligados às problemáticas de saúde, passam a perceber outras demandas para a profissão. Além disso, inicia-se o questionamento por parte dos terapeutas ocupacionais acerca do papel político do técnico, influenciados por Paulo Freire, Franco Basaglia, Gramsci, Foucault, Robert Castel, entre outros, que criticavam e apontavam para a “medicalização dos problemas sociais”. Assim, após diversos processos históricos, políticos e sociais, a Terapia Ocupacional Social vem se constituindo com base em alguns princípios: o adoecimento como processo também social (crítica ao modelo biomédico), deslocamento do setting terapêutico para o território, descentramento do saber técnico ou individualizado para compreensão das demandas e saberes coletivos e o conceito de atividade como algo a ser construído a partir da alteridade (conceito emprestado da antropologia). No Campo Social, entendido como esfera interdisciplinar mais ampla, há diversos núcleos de atuação da Terapia Ocupacional, tais como o da educação, da justiça, da cultura e da assistência social (MALFITANO, 2005). Assim, a Terapia Ocupacional Social, não trata exclusivamente da atuação na Assistência Social, mas tem ofertado subsídios para discuti-la, na medida em que não parte dos referenciais de saúde, mas sociológicos, antropológicos e outros. Não posso deixar de me referir ao Laboratório Metuia[1], berço da Terapia Ocupacional no Campo Social, do qual pude fazer parte durante um período de minha formação e tem protagonizado ações de extensão universitária, pesquisa e formação neste campo. Graças à presença (e luta) dos terapeutas ocupacionais nas conferências e espaços participativos do SUAS, sobretudo no Encontro Nacional dos Trabalhados do SUAS em Brasília, em março de 2011, nossa profissão foi reconhecida como categoria que pode compor as equipes de referência e gestão dos serviços socioassistenciais, consolidada por meio da resolução n. 17 do CNAS/2011. Foi um grande passo, contudo, ainda temos os seguintes desafios: Conquistar cargos efetivos e concursos específicos para terapeutas ocupacionais no SUAS; Garantir a presença de disciplinas e estágios das graduações que oferte maior preparo para atuação desses profissionais no SUAS; Divulgar e promover as nossas possibilidades de atuação na Assistência Social. Para quem se interessar, há alguns materiais complementares que já foram divulgados aqui no Blog no Post: Terapia Ocupacional no SUAS. Optei correr o risco de ser redundante para quem já conhece essa história, para fazer uma apresentação bem resumida àqueles que ainda não nos conhecem como profissão. Compartilhando aqui uma experiência pessoal, que ainda trata dos nossos desafios, quando participei da X Conferência Estadual de Assistência Social, enquanto delegada, em uma discussão em subgrupo, uma colega assistente social questionou se eu compunha a equipe de referência, se era concursada e se poderia registrar ações técnicas no prontuário SUAS, insinuando que as respostas seriam negativas. Mediante tais questionamentos, a respondi, embasada na resolução n. 17 do CNAS/2011 e afirmando que sim, como qualquer profissional da equipe de referência. Para me reconfortar dessa situação, escutei uma fala de um professor Marcelo Gallo, (professor da Unesp Franca e graduado em Serviço Social) em uma de minhas formações do Capacita SUAS, em que ele alegou que, como assistente social ele poderia afirmar: assistentes sociais, a PNAS não é de vocês! Certamente, vindo de um colega assistente social, me senti representada! Diante disso, cabe a nós terapeutas ocupacionais, mostrar a que viemos. E aos colegas e gestores, também se informarem sobre as demais profissões previstas na NOB/RH, de modo que os serviços socioassistenciais possam contar com olhares profissionais diversos e complementares, não concorrentes! Para finalizar, àqueles que se interessarem em conhecer as origens da terapia ocupacional, deixo aqui a minha sugestão de assistirem ao filme brasileiro “Nise – O coração da loucura”. Ele ajuda a compreender as nossas bases para o uso da atividade, não apenas para “ocupar” ou manter a “ordem”, mas como forma de questioná-la, estabelecendo uma ordem própria (através do que chamamos de autonomia, assunto o qual pretendo discutir em outro momento) e produção de sentido. Assim, as dimensões da intervenção do terapeuta ocupacional devem ser a ampliação e o fortalecimento das redes sociais, bem como a expansão do repertório de atividades cotidianas. O objetivo final é aumentar a participação cívica e social dos sujeitos (COSTA, 2016). Referências COSTA, L.A. A terapia ocupacional no contexto de expansão do sistema de proteção social. In: LOPES, R.E., MALFITANO, A.P.S. Terapia Ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos. São Carlos: EdUFSCar, p.135-153, 2016. LOPES, R. E. et al. Terapia Ocupacional no campo social no Brasil e na América Latina: panorama, tensões e reflexões a partir de práticas profissionais. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, São Carlos, v. 20, n. 1, p. 21-32, 2012. MALFITANO, A. P. S. Campos e núcleos de intervenção na terapia ocupacional social. Revista de Terapia Ocupacional da USP, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 1-8, 2005. [1] Grupo interinstitucional de estudos, pesquisa, formação e ações pela cidadania de crianças, adolescentes e adultos em processos de ruptura das redes sociais de suporte, sob os pressupostos
Diálogos e perspectivas possíveis da Assistência Social com/e da Terapia Ocupacional
Hoje é dia de receber Aline Morais, que será colaboradora do Blog para abordar a atuação do profissional com formação em Terapia Ocupacional no SUAS. Seja muito bem-vinda, Aline. Estou muito feliz em ampliar esse espaço com suas reflexões e proposições! Este espaço também é seu e de todas/os Terapeutas Ocupacionais <3 Por Aline Morais * Estreio esse espaço privilegiado de “compartilhares” com uma grande responsabilidade: representar os terapeutas ocupacionais do SUAS. Represento porque atualmente trabalho no CRAS de Patrocínio Paulista, além disso, tenho me dedicado, desde o término da graduação ao Campo Social da Terapia Ocupacional, seja por meio da atuação prática (nas medidas socioeducativas), seja na academia (como docente, supervisora de estágio e mestranda). Sendo assim, espero dialogar, refletir, provocar questões pertinentes à Assistência Social, como um todo, atreladas às especificidades da Terapia Ocupacional. Contudo, além de mim, sei que há colegas terapeutas ocupacionais trabalhando no SUAS, com os quais espero contar para compor este diálogo que iniciamos neste importante espaço, concedido pela Rozana Fonseca (obrigada!). Imagino que muitos colegas ainda não conheçam as possibilidades de nossa atuação na Assistência Social. Há aqueles que pensam que somos uma profissão da saúde ou recente, em ascendência. O primeiro curso de Terapia Ocupacional surge no Brasil em meados da década de 1950, e a sua atuação no campo social, nos anos 70, quando começam a atuar em presídios, FEBEMs e programas comunitários. Ou seja, estamos há um tempo significativo na construção de um saber específico, sobre o qual pretendo contar a vocês durante nossas postagens. Pretendo me debruçar sobre as especificidades da profissão, contudo, além de TO, também sou profissional do SUAS e, com certeza, teremos inquietações similares, advindas da Assistência Social como um todo. Dentre elas, as discussões que inferem que o objeto de intervenção das outras áreas (como a da saúde) é mais claro, mais concreto, do que o da Assistência Social. Quantas vezes nos deparamos com essa discussão? Para nosso conforto, o novo documento do MDS, sobre o Trabalho Social com Famílias[1], aborda o fato de nosso trabalho ser de natureza relacional, que requer necessariamente o estabelecimento de uma relação entre profissional e usuário. E então, nos questionamos: qual o limite dessa relação? Queremos nos relacionar? Ou seja, a cada afirmação, um novo questionamento. E penso que é isso que nos move, enquanto profissionais que fazem a diferença no seu cotidiano de trabalho. A autonomia é um conceito que se coloca recorrentemente como objetivo de intervenção a ser alcançado, tanto pela Assistência Social quanto pela Terapia Ocupacional. Porém, como tal conceito se efetiva na prática, no relacional? Percebo que, facilmente entramos em contradição, enquanto profissionais, e seguimos no caminho contrário (com a melhor das intenções!). Sendo assim, se no cotidiano de trabalho não há um exercício de reflexão, seguido de um posicionamento, quase sempre, contra-hegemônico (crítico à realidade, ao senso comum e ao tradicional), facilmente reproduzimos aquilo que, na teoria, criticamos. Em alguns momentos formativos dos quais participei, discute-se muito que as atividades (artesanais e manuais) na Assistência Social devem sempre ter um objetivo, um propósito. Para os terapeutas ocupacionais isso sempre foi imperativo, plenamente discutido na graduação do curso, inspirada em uma terapeuta ocupacional[2] que dizia que a atividade naturalmente terapêutica (ou benéfica) seria um mito. Mito este relacionado a uma visão ultrapassada de que o trabalho dignifica. É importante considerar que ele pode também gerar adoecimentos. Assim, a execução de uma atividade e o alcance de seus objetivos depende necessariamente do recurso humano. Uma mesma atividade pode ser utilizada para propósitos totalmente opostos. Outra reflexão que tem se mostrado importante, é discutir sobre as formas de inserção dos trabalhadores do SUAS nos serviços. Sou concursada para o cargo de terapeuta ocupacional CRAS, contudo, a abertura de cargos específicos dessa forma é raro, senão inexistente. Portanto, há muitos pontos que pretendo levantar neste espaço, enquanto terapeuta ocupacional e trabalhadora do SUAS. Busquei expor aqui apenas uma prévia desse desafio enorme de transpor o entendimento analítico dos referenciais teóricos rumo às estratégias de intervenção prática e técnico-operacional. [1] BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Fundamentos ético-políticos e rumos teórico-metodológicos para fortalecer o Trabalho Social com Famílias na Política Nacional de Assistência Social. Brasília, 2016. [2] NASCIMENTO, B. A. O mito da atividade terapêutica. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v.1, n.1, p. 17-21, 1990. *Aline Cristina de Morais – Graduada em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos – UFSCar (2008), Mestre em Terapia Ocupacional pelo Programa de Pós-Graduação em Terapia Ocupacional da UFSCar – PPGTO (2013). Atuou no Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (2008 a 2011) em São Carlos/SP. Foi professora substituta no Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar (2013-2014) e docente adjunta do curso de Terapia Ocupacional do Centro Universitário de Araraquara – UNIARA (2013-2015). Atualmente é Terapeuta Ocupacional do CRAS de Patrocínio Paulista/SP, membro do Conselho Municipal de Assistência Social de Patrocínio Paulista/SP (atual gestão) e membro do Grupo de Estudos e Capacitação Continuada de Trabalhadores do SUAS – GECCATS.