Perspectivas teóricas e práticas participativas para a assistência social após a pandemia
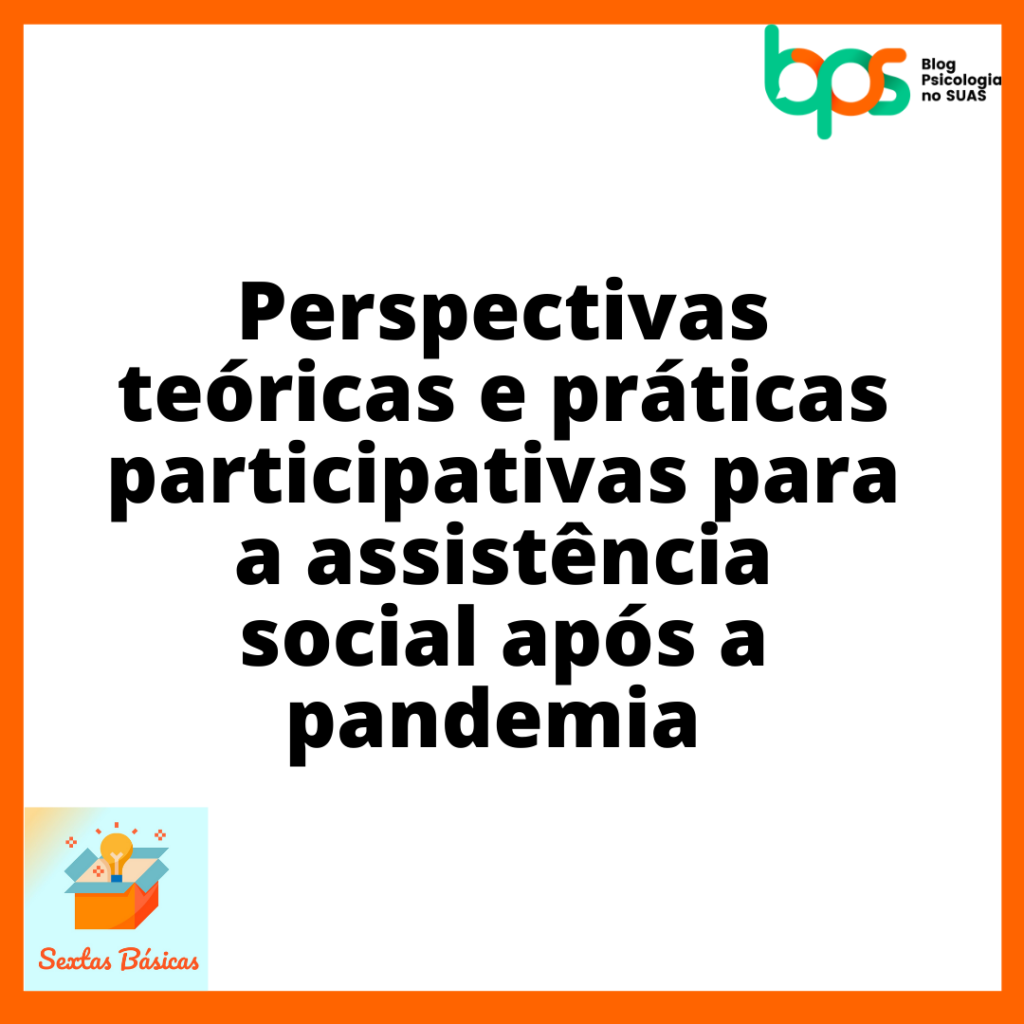
Por Rozana Fonseca e Joari Carvalho Situações de calamidades públicas requerem ações emergenciais de cobertura imediatas correspondentes e proporcionais ao efeito da ameaça como forma de redução desastres com seus danos e prejuízos. A assistência social prevê estrategicamente benefícios eventuais em calamidades como parte dessas respostas nas primeiras ações, como o direito uma proteção social da(o) cidadã(o) e de sua família, que estejam vivenciando situação de vulnerabilidade e/ou risco social que impedem autoprovisões essenciais para a sobrevivência. Mas, com exceções que merecem ainda mais reconhecimento no contexto sombrio, o que temos vivenciado nas principais respostas iniciais à demanda de proteção social foi repetidamente sua limitação à distribuição em massa de cestas básicas com metodologias propositalmente improvisadas, muitas vezes inseguras, duvidosas e autoritárias, deixando a interrogação sobre se o assistencialismo de fato esteve em declínio com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS ou se alguns atores e organismos governamentais e não governamentais saudosos do efeito de concentração de poder e visibilidade política de tais práticas aproveitaram o momento para avançarem o projeto de retrocesso e redução da capacidade estatal. Visto que, desmontar institucionalmente, pelo SUAS, a politicalha na execução da oferta de direitos sociais que são amparados por legislação, ainda não foi capaz de trazer à luz a autonomia política dos sujeitos e dos territórios quanto aos objetivos da Política de Assistência Social, abre-se o grande precedente da necessidade inadiável de avaliar o trabalho teórico-prático na assistência social. É uma obrigação indagar por que parece não ter tido a devida relevância a proteção social profissionalizada, para tomadores e tomadoras de decisão dos governos e para grande parte dos corpos técnicos, administrativos, operacionais e de controle social da própria assistência social, mesmo após quase duas décadas da implantação de um sistema que tem por objetivo profissionalizar as ações. Quais referenciais teóricos e quais práticas na proteção social na assistência social seriam mais aliadas na consolidação da rede socioassistencial, com em relação à participação social, que fica inviabilizada com o retrocesso das práticas assistencialistas? A articulação entre gestores, operadores e destinatários da rede é fundamental, mas antes disso há necessidade de recapitular ou repactuar um projeto em que os consensos necessários sejam maiores que os dissensos no que se refere ao trabalho interdisciplinar e integral com a comunidade e com as demais políticas públicas. Um dos eixos estruturantes do SUAS, a matricialidade sociofamiliar, tem sobressaído com um corpo prático-metodológico remanescente ainda da perspectiva familista como um conceito prático conservador e estratificado de família que sustenta ações mais de patrulhamento das pessoas do que de promoção da emancipação, revelando uma hierarquia nas ações do trabalho social com famílias. Com o foco nas famílias, a territorialização e os demais eixos matriciais do SUAS ficam desencontrados, tendo um marco legal que reflete em grande medida reivindicações democráticas, de justiça social e dignidade, mas culminando com práticas unilaterais, comumente embasadas no senso comum mais moralista do que profissional, pouco eficientes em termos de defesa de direitos, com baixa capacidade de conhecer as potências da comunidade. Assim, sobretudo diante deste cenário assustadoramente contraditório que a pandemia agravou e revelou sobre a assistência social, profissionais de categorias de referência do Suas, pesquisadores, gestores, conselheiros, ativistas, movimentos sociais e outros atores sociais precisam abrir espaço para práticas participativas e para um SUAS mais (com)validado, efetivo e presente no cotidiano. Com este tema Perspectivas teóricas e práticas participativas para a assistência social após a pandemia, vamos realizar um Sextas Básicas especial onde teremos três convidas, Luane Santos, Lídia Lira e Marina Leandrini. Para conhecer o projeto Sextas Básicas e ver a lista com todos os vídeos das edições já realizadas, clique aqui Luane Santos – Psicóloga e mestre em Psicologia pela (UFBA), Doutora em Educação: Psicologia da Educação pela (PUC-SP), integrante do grupo de pesquisa “A Dimensão Subjetiva da Desigualdade Social: suas diversas expressões” e autora do livro “A Psicologia na assistência social: convivendo com a desigualdade” (Editora Cortez). Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Lídia Lira – Pedagoga, atua na Educação, Assistência social e Saúde, consultora do COEGEMAS PE, assessora da Rede Estadual de Enfrentamento a violência Sexual contra Crianças e adolescentes – PE, Ativista de Direitos humanos. Marina Leandrini de Oliveira. Terapeuta Ocupacional, professora na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Dedicou seu doutorado, pelo PPGTO/UFSCar, no estudo das práticas de terapeutas ocupacional no SUAS. Coorganizadores do encontro virtual: Joari Carvalho – Psicólogo social – CRP 06/88775. Atua no órgão gestor da assistência social de Suzano – SP. Mestrado em psicologia social. Ex-colaborador convidado da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social do CFP (2018 e 2019) e ex-conselheiro membro do Núcleo de Assistência Social e do Núcleo de Emergências e Desastres do CRP- SP (2009 a 2016). Coorganizador do Sextas Básicas e mediador dos encontros virtuais. Rozana Fonseca, criadora do Blog Psicologia no SUAS O ponto de encontro para quem constrói o SUAS, é a anfitriá e tem a honra de materialziar o lema deste espaço que é agregar todas e todos que se debruçam à construção do SUAS. Link para assistir ao Sextas Básicas #9 Canal do BPS no Youtube ou clique no vídeo abaixo. Assista também aos últimos Sextas Básicas Lista completa com os vídeos dos encontros virtuais já realizados: Sextas Básicas #1 – Contribuições e desafios de profissionais do Suas para a proteção social Sextas Básicas #2 – Planos de Contingência da Assistência Social Sextas Básicas #3 – Segurança e saúde do trabalhador e da trabalhadora do Suas durante e depois da pandemia Sextas Básicas #4 – Impactos e caminhos do trabalho com famílias, a convivência e o fortalecimento de vínculos na proteção social básica Sextas Básicas #5 – A contribuição da gestão integral para a redução de riscos de desastres na política de assistência social Sextas Básicas #6 – Violação de direitos e proteção social de povos e comunidades tradicionais Sextas Básicas #7 – Avaliação da Assistência Social na situação de contingência como instrumento de afirmação do SUAS Sextas Básicas #8 – O preço social da pandemia para a população negra e a periferia
Terapeuta Ocupacional escreve cartilha sobre o SUAS: um convite para que nossas lutas sejam também SUAS
Que este espaço já é consolidado como lugar de acervos dos materiais sobre os SUAS, não resta dúvidas. Mas ainda me surpreendo quando colegas me escrevem enviando material para que seja divulgado e compartilhado pelo Blog Psicologia no SUAS. Sou grata pela oportunidade de conhecer as produções sobre o SUAS e poder publicizá-las com as pessoas interessadas pela Política de Assistência Social. Aqui, especialmente, um agradecimento à Tatiana Borges pela indicação e recomendação do material que divulgo abaixo com vocês. Parabéns à criadora da cartilha, Iara Flávia Afonso Guimarães – Trabalhadora do SUAS no CREAS. Quero registrar meu encantamento com este belíssimo trabalho, que em meio a esta crise sanitária e social, vem trazer com uma liguagem original e diagramação bem adequadas um apelo para que o SUAS seja reconhecido e valorizado. #fiqueemcasa #VivaoSUAS #proteçãoesegurançaàstrabalhadoas/res Instagram do Blog: @psicologianosuas Facebook: Blog Psicologia no SUAS
Oficinas, grupos e atividades no âmbito do SUAS
Por Aline Morais* Inicio aproveitando uma observação que expus em outro texto: Diálogos e perspectivas possíveis da Assistência Social com/e da Terapia Ocupacional quando citei sobre as discussões feitas por colegas acerca do uso de atividades e necessidade de que essas tenham objetivos, por exemplo, de que a oficina de artesanato “nunca pode ser feita sem uma parte socioeducativa” associada. Tal discussão, para os terapeutas ocupacionais está bastante contemplada, já que o ensino de atividades na formação do Terapeuta Ocupacional é central nos diferentes campos da profissão, e sempre permeada por um intuito. Como também já sinalizamos, é um mito pensar na atividade ou na aplicação de uma técnica que produz efeitos por si só, sem o recurso e direcionamento profissional competente. Partimos da visão de que a atividade humana é relacional, instaurando aprendizagens de si, do outro, de técnicas, instrumentos e territórios, facilitando novas experiências que aumentem a potência de ação e criação da existência (SILVA, POELLNITZ, 2015). O uso de atividades nos serviços de assistência social é um importante recurso (ou metodologia) de trabalho junto ao seu público. Ainda há um histórico de oferta de cursos profissionalizantes (tendo em vista estimular o empreendedorismo e saída da condição de dependente do poder público) e artesanato (para dar uma “ocupação”) aos sujeitos da assistência. Parece-me que a visão de que “é necessário se ter um objetivo” é recente em alguns núcleos do campo social. Esse raciocínio invertido confere um grande risco: o de que se construam objetivos e demandas para justificar a oferta de atividades que se têm disponíveis, sendo que o caminho deveria ser contrário: construir atividades a partir das demandas dos usuários (sempre!). A partir disso, vamos focar na discussão acerca das atividades, oficinas e grupos. Qual a diferença entre grupo e oficina? Segundo o dicionário online Michaelis, oficina é um lugar onde se exerce um ofício, um curso de curta duração que envolve um trabalho prático e partilha de experiências. Por grupo, define-se um conjunto de pessoas que forma um todo, conjunto de seres ou coisas previamente estabelecidos para fins específicos (MICHAELIS, 2017). Mediante este aporte, compreendemos que tanto os grupos como as oficinas podem ter os mesmos objetivos, contudo, sua metodologia e/ou recurso é diferente. As oficinas são um tipo de grupo, que está relacionado necessariamente ao fazer, à ação humana prática, promovendo aprendizagem e experimentação compartilhada, contando com um caráter ativo e dinâmico dos sujeitos (SILVA, 2007). Considerando as orientações técnicas sobre o PAIF (BRASIL, 2012), as oficinas com famílias são definidas como encontros previamente organizados, com objetivos de curto prazo (começo, meio e fim) a serem atingidos, conduzidos por profissionais de nível superior. Atuar com conjunto de famílias vem da compreensão de que as pessoas estão em constante interação com o outro, relacionando-se. Essas oficinas teriam o intuito de suscitar reflexões sobre um tema (nas áreas civis, políticos, sociais, culturais, econômicos, ambientais) de interesse da família. Em geral, contam com sete a quinze participantes. Objetiva-se desenvolver projetos coletivos e empoderamento da comunidade, conquista do protagonismo e da autonomia, podendo ser aberta ou fechada. Em tais orientações, os atendimentos coletivos (em grupo), além de oficinas com famílias, podem se caracterizar em acolhidas e ações comunitárias. Portanto, segundo as orientações técnicas, as oficinas são reconhecidas como uma modalidade de trabalho grupal, mas, não necessariamente ligada ao “fazer”, já que reconhece que a reflexão de um tema poderia ser feita. Porém, a reflexão seria um “fazer”? Uma atividade prática? Entendo que a oficina, ou a confecção de algo concreto traz a materialização dos conteúdos implícitos, que somente as palavras e o recurso verbal não seriam capazes de expressar e experimentar. Diante disso, partimos desse conceito de oficina, que necessariamente envolve o fazer algo concreto-prático. Em terapia ocupacional, há diversas formas de compreensão da atividade humana, entre elas (e aquela que acredito ser a que mais dialoga com a Assistência Social) é a de que a atividade se constitui em um “meio” para diversos fins, tais como a mediação de situações, experimentação, expressão, formação de vínculos, intermediação, socialização, produção de autonomia, e outros, a serem construídos junto à população alvo das ações de acordo com suas demandas (MALFITANO, 2005). O uso de atividades admite a realização de uma série potente de ações, que podem ser classificadas, compreendidas e aplicadas com diferentes objetivos, tais como: a) a partir de técnicas intrínsecas (marchetaria, mosaico, dança, culinária, entre outros); b) uso e produção do material, recurso ou equipamento (cerâmica, fotografia, origami, papel reciclado, blog, entre tantas outras); c) pelos campos de saber em que são classificadas (artística, cultural, literária, esportiva, lúdica, de lazer, entre outras); d) pelas propostas antecipadamente elaboradas com temáticas e objetivos preestabelecidos (debates sobre perspectiva de vida, informação a respeito do mundo do trabalho, processos educativos acerca da rede de proteção da infância e adolescência no município, entre outras); e) por serem ações cotidianas (usar o transporte público, estudar, alimentar-se, jogar futebol, entre outras); f) pelos diferentes sentidos e significados que os sujeitos em ação podem designar ou imprimir a partir de suas vivências pessoais, nesse caso, ainda que as propostas tenham indicações ou direcionamentos prévios, o interesse está na percepção individual que aquela determinada experiência proporcionou ao participante da ação (SILVA, 2012). Considerando as oficinas como um importante recurso para o trabalho social com famílias, vale destacar que aquelas que, de fato, promovem transformações, devem propiciar espaços de pertencimento ao sujeito, visando construir perspectivas de vida por meio de descobertas e capacitações das suas potências, que facilitem o autoconhecimento, a expressão de si, que dá sentido ao que somos (LIMA, 2004). Para tanto, volto à importância do recurso humano, especificamente do terapeuta ocupacional. Por mais que possa ser redundante para alguns, cabe enfatizar que o oficineiro tem uma função diferente do terapeuta ocupacional, pois ele tem o domínio da técnica (por exemplo, o músico que ensina o processo de composição de um rap, um artesão). O terapeuta ocupacional pode dominar a técnica, mas isso não é o essencial, tampouco imprescindível a este profissional. Ele deve ser
Autonomia e suas contradições: inquietações da prática profissional
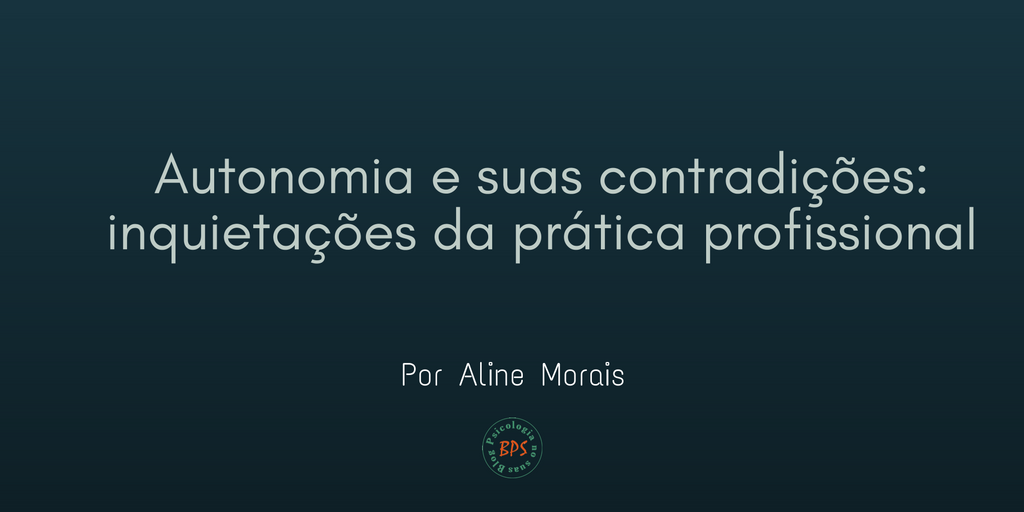
Por Aline Morais Ao pensar no trabalho social com famílias, nos objetivos de nossas ações, em um deles temos sempre acordo: promover autonomia. O que é mesmo isso? Por que os usuários da assistência precisam disso, o que lhes falta? Uma demanda (não sei bem se dos usuários, ou dos técnicos) que tem me inquietado, advém de algumas situações comuns entre algumas famílias que chegam ao CRAS, as quais imagino que com os colegas também: “problemas” com higiene (da casa, pessoal, dos filhos, etc). Chegam demandas das escolas, do Conselho Tutelar, da Saúde. Casa extremamente suja e desorganizada, crianças sujas ao chegar à escola, famílias que acumulam materiais recicláveis para venda, entre outros tantos. Assim, até que ponto tais questões configurariam negligência? Ou problema de saúde pública? Ou ainda, até onde podemos interferir no ‘funcionamento’ familiar? Quem somos nós para dizermos: “arrume sua casa”, limpe melhor o seu filho ou a si mesmo? São questões com as quais tenho me deparado, tendo a certeza de que essa questão é extremamente delicada e requer muita reflexão antes da ação. Requer cuidado, na medida em que temos lutado para nos desfazer do ranço higienista e do controle das famílias pobres que a assistência carrega em sua história. Além disso, o que deve ser levado em consideração não é o desejo do profissional, mas as necessidades das famílias, certo? Muitas perguntas e poucas respostas. Procurei materiais acadêmicos que pudessem ofertar algum suporte sobre tais questões, mas não encontrei nenhum material relacionado diretamente a discussão da higiene na assistência social (se alguém tiver, por favor, compartilhe!). Uma frase que me marcou naquele documentário “O ciclo da vida” (super indico!) foi de uma entrevistada que disse não acreditar em negligência, pois cada um dá aquilo que tem. Diante disso, entramos no campo das escolhas e nã0-escolhas (sobre a qual Lívia falou lindamente neste post ⇒“Você vai trabalhar no SUAS”: considerações sobre uma não-escolha) e, consequentemente, sobre autonomia. Sempre que penso em autonomia, me vem uma compreensão de que se trata da possibilidade de escolher, mediante as oportunidades e as não-oportunidades. Nesse caso, acho que um bom exemplo é um garoto que cometeu ato infracional. Vejo que no imaginário social tal atitude transgressora é vista como uma escolha. Contudo, antes disso, é necessário pensar que para escolher, é preciso ter alternativas. Quais as alternativas que se apresentaram de chances de vida para este jovem? Veja bem, vai além do debate de que ele é vítima (das mazelas sociais) ou autor. Estamos aqui falando de autonomia. Ou seja, antes de se promover autonomia, devem-se ter chances de escolhas, opções. E, há que se considerarem os aspectos micro e macrossociais envolvidos. Assim, percebo que falamos em autonomia de uma forma banalizada, como se fosse um conceito dado e autodefinido, ou ainda, um objetivo facilmente alcançável. Para ele, existem diversas definições. Segundo documento recente que aborda sobre o Trabalho Social com Famílias, autonomia é a “capacidade do indivíduo de eleger objetivos e crenças, de valorá-los com discernimento e de pô-los em prática sem opressões” (BRASIL, 2016, p.20 apud PEREIRA, 2000). Sposati (2013) traz algumas reflexões críticas a respeito do modo de proteção social brasileiro, o qual acaba por expressar uma dependência dos sujeitos, em contraponto a uma autonomia a ser exercida pelo indivíduo, estimulando seu espírito ‘empreendedor’. Para autora, a autonomia tornou-se um argumento neoliberal, o qual pretende desfazer da condição de sujeitos dependentes da assistência, para que exerçam autonomia, sendo, na realidade, a “ocupação remunerada de mão de obra, para que o beneficiário se transforme em provedor de sua própria proteção” (p.657). A crítica dela vem do tratamento diferenciado entre proteção social contributiva e não contributiva, sendo esta última tratada ainda como um ‘favor’ e não um direito. Nesse cenário, é necessário olhar para as entrelinhas e pano de fundo da Política de Assistência Social, notando que a autonomia encontrará espaço na contra-hegemonia, na luta pelos direitos. Ela se manifestará quando o usuário disser para o técnico que cuidará de sua casa e de seus filhos como quiser, com aquilo que tem (de repertórios e vivências). Nem sempre a conquista da autonomia irá nos agradar como técnicos, ela poderá vir a partir do embate, do questionamento, do posicionamento, das escolhas possíveis. Com isso, é preciso deslocar o olhar da norma e da disciplina, para estar em uma ação técnica relacional. Assim, talvez poderemos identificar quais os limites de nossas ações. Promover autonomia também pode significar recusar algumas atitudes, enquanto técnico. Quando eu estava executando uma oficina junto a idosos do SCFV, percebi que eles solicitavam que eu pegasse as tintas, os pinceis, e todos os outros materiais para conseguirem fazer a atividade proposta. Até a cor que iriam utilizar, pediam que eu escolhesse, e quando eu dizia “escolhe você”, alguns respondiam “tanto faz”. Neste momento, percebi que o que eu estava promovendo ali era quase o contrário da autonomia. E demorou para isso vir à consciência, não foi óbvio. Na tentativa de agradá-los, eu fazia o que me pediam. Portanto, é preciso estar atento e não cair na rotina de trabalho, para abrir espaço para essas percepções. A autonomia é aceitar no outro o que não entendemos, permitir sua participação nas suas próprias condições. Implica na capacidade dos sujeitos em criar e ampliar as suas vinculações, ter respeito mútuo, implicando em uma prática especial de troca. Governar a si próprios, sem imposições, decidir que atitudes tomar (LOPES, 2008), mesmo que seja uma “não-escolha”. Portanto, temos aqui algumas pistas de que não podemos cobrar respeito de pessoas que não foram respeitadas, ou cobrar escolhas ‘certas’ de quem não teve opções. Diante disso, ganha centralidade a necessidade de uma escuta qualificada, a respeito dos modos de vida, e, sobretudo, da alteridade. A alteridade implica reconhecer que o indivíduo existe em interação com o outro, valorizando as diferenças existentes e exercitando a empatia. Segundo Barros (2004), é preciso que o técnico saiba redimensionar o próprio saber, saiba transitar em relações de alteridades sociais e culturais em suas ações. Para concluir, percebo