Trabalhadora/o do SUAS tem como “missão” empoderar as pessoas?

Ninguém empodera ninguém. Esta afirmativa pode ser considerada uma paráfrase ao postulado por Paulo Freire na obra Pedagogia do oprimido “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. Pág.78 Não vejo outra maneira de começar a falar de empoderamento sem trazer para a roda Paulo Freire. Autor brasileiro precursor desse conceito, contudo foi mal interpretado e esse mundo que gira cada vez mais veloz e volátil tratou de traduzir e usar empowerment como o ato de dar poder a alguém ou de obter poder, assim, tal conceituação ganhou o mundo de modo muito despolitizado. O objetivo deste texto é trazer criticidade a esse conceito que invadiu as organizações públicas, privadas, ongs, movimentos sociais e tantas outras instituições, não escapando nem as religiosas. Lá em 1989, Paulo Freire escreveu, “a noção de empowerment, na sociedade norte-americana, tem sido cooptada pelo individualismo, pelas noções individuais de progresso” pág.71 . Empoderamento deve ser tratado para a transformação social e por isso empoderamento individual não é suficiente para um mudança social e nosso autor continua “Com nossas profundas raízes no individualismo, temos uma devoção utópica por nos realizar sozinhos, por nos aperfeiçoar sozinhos, por subir na vida, subir através de nosso próprio esforço, ficar ricos através do esforço pessoal”. Acho que seria bem isso que Freire traria para uma análise atual sobre o fenômeno de Coaches e empreendedores, estes que usam e abusam da palavra empoderamento. São três as principais referências que elegi para elaborar este texto: No artigo de Baquero encontrei amparo para as minhas inquietações, e me impulsionou a continuar estudando este conceito. Baquero faz um apanhado histórico do termo e debruça sobre o diálogo entre Freire e Shor e sobre o empoderamento da classe social. Sobre isso a autora postula que “Isso faz do empowerment muito mais do que invento individual ou psicológico, configurando-se como um processo de ação coletiva que se dá na interação entre indivíduos, o qual envolve, necessariamente, um desequilíbrio nas relações de poder na sociedade”. (BAQUERO Pág.181). Me apoiei no livro diálogo do Paulo Freire com Ira Shor “Medo e Ousadia: o cotidiano do professor, onde dedicam o capítulo 4 à explanação sobre empowerment. Para ler o capítulo e o livro clique em “Baixar” Comecei a estudar mais sobre este conceito quando estava me preparando para uma palestra e queria já fazer algumas provocações sobre empoderamento – a palestra foi em 2016 (olha há quanto tempo queria escrever sobre isso!). Mas o bom mesmo de escrever agora é que pude ter acesso ao livro da Joice Berth, “O que é empoderamento?” (2018) da coleção feminismos plurais, coordenado pela filósofa Djamila Ribeiro. A cada parágrafo do livro eu fui conversando com ela, agradecendo por cada linha. Mas também pensei que eu não deveria me preocupar em desenvolver o conceito de “empoderamento” neste texto porque o que eu devo fazer é indicar o livro pra todo mundo e dizer que para quem atua na Assistência Social (e claro em outras políticas) o mesmo torna-se imprescindível, porque tem exatamente as críticas e construções necessárias para suporte teórico e prático. A autora conceitua empoderamento percorrendo várias autoras e autores e traz uma questão fundamental que é um estudo que destaca a necessidade de enfrentamento das estruturas racistas e sexistas. Para Joice, o conceito de empoderamento é instrumento de emancipação política e social e não se propõe a “viciar” ou criar relações paternalistas, assistencialistas ou de dependência entre indivíduos, tampouco traçar regras homogêneas de como cada um pode contribuir e atuar para as lutas de dentro dos grupos minoritários. Página 105 (versão kindle). A autora nos lembra que a Teoria do Empoderamento, na concepção de Paulo Freire vem da Teoria da Conscientização Crítica e que para esse autor a conscientização é teorizada a partir do social e o coletivo. Quero também enfatizar o conceito de empoderamento que a autora traz da feminista norte-americana Nelly Stromquist: “O empoderamento consiste em quatro dimensões, cada uma igualmente importante, mas não suficiente por si própria, para levar as mulheres a atuarem em seu próprio benefício. São elas a dimensão cognitiva (visão crítica da realidade, psicológica (sentimento de autoestima), política (consciência das desigualdades de poder e a capacidade de se organizar e se mobilizar) e a econômica (capacidade de gerar renda independente)”. Eu poderia citar vários trechos do livro, mas ficaria enfadonho e fugiria do objetivo do texto, por isso, vamos combinar o seguinte: Se você for usar o conceito, ideia de empoderamento nos seus trabalhos, leia este livro antes? No #desafio que lancei no @psicologianosuas, oitenta por cento problematizaram a questão dos grupos no CREAS e somente o restante questionou o uso do termo “empoderar”, ou seja, somente vinte por cento entenderam um equívoco na maneira como este conceito estava sendo tratado. Isso vai ao encontro do que é possível observar quanto ao uso desmedido e banalizado do conceito de empoderamento, o que tem esvaziado o seu potencial e trazido despolitização e reprodução de discursos e ações assistencialistas, tuteladoras e acríticas, embora se preguem exatamente o contrário como quando dizem: “nós queremos empoderar essas mulheres, ou esses jovens”. Quem atua no SUAS deve saber o quanto é proposto que as relações sejam horizontais no desenvolvimento do trabalho social com famílias nos serviços e na rede socioassistencial. Proposta que inviabiliza um posicionamento onde o profissional – a/o técnica/o de referência, teria como objetivo o empoderamento das pessoas e das famílias. A proposta de empoderar alguém é puro engodo e consequência do neoliberalismo onde as pessoas deverão ser cada vez mais responsáveis por si mesmas e o Estado cada vez mais omisso. Portanto, a/os trabalhadoras/es devem ser críticas o bastante para não se tornarem agentes manipuladoras, mas sim transformadoras. Trabalhar empoderamento na Assistência Social, ou em qualquer outra instituição, não é sobre ter ou dar autonomia/poder, é mediar questões sobre desigualdade social e os seus desdobramentos, desigualdade de gênero, pobreza, racismo estrutural, machismo, sexismo, misoginia, feminicídio, xenofobia, feminismo, feminismo negro, classe social, violência institucional, (in)segurança pública, (in)segurança alimentar
OS POSTS MAIS INTERESSANTES DE 2017

Olá pessoal, Considerando que o Blog está sempre recebendo novos visitantes, que Janeiro é o mês de retomada dos serviços pós recesso e que os acervos publicados anteriormente são motivos de várias perguntas (muitos não conseguem localizar as publicações dos meses/anos anteriores), eu uso o mês de Janeiro para repostar as postagens/textos na nossa página no Facebook. Eu priorizo aqueles que obtiveram maior número de acessos ao longo de 2017. Espero que para quem sempre acessa e acompanha as postagens do Blog compreenda as (re)notificações e espero que este mês não seja tão enfadonho, até porque acredito que é sempre bom retomar algumas leituras e quem sabe contribuir com as postagens para que elas possam ser atualizadas. Para os que estão chegando agora, espero que aproveitem o material e que os mesmos possam auxiliar os trabalhos neste novo ano, mas já cheio de desafios para a manutenção e aprimoramento dos direitos sociais no âmbito do SUAS. À medida que eu for repostando, vou fazer update neste post para deixar os links dos textos/Post e assim vocês poderão acompanhar todas as publicações em um único lugar quando findar este mês. P.s. Algumas postagens podem necessitar de atualizações devido a data original de publicação – assim, caso tenha alguma sugestão e/ou contribuições a acrescentar, deixe nos comentários. Eu não republicarei na ordem de acessos porque achei melhor organizar por temas – mas os posts foram selecionados numa lista dos 50+ (lembrando que não são apenas os textos de 2017) Em fevereiro voltamos com os Post inéditos! Lista dos posts mais acessados de 2017 Para facilitar a leitura e ficar mais proveitoso o acesso, eu organizei as publicações por temas: semana 1 – Composição e Funções das equipes de referência e coordenação Semana 2 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Semana 3 – Textos sobre a prática nos serviços socioassistenciais Semana 4 – Textos das colaboradoras do Blog Lembrando que as postagens serão pelo facebook (assim mantemos nossos arquivos organizados por aqui). Como compor as equipes de referência dos CRAS, CREAS e alta complexidade: https://craspsicologia.wordpress.com/2014/01/19/como-compor-as-equipes-de-referencia-dos-cras-creas-e-alta-complexidade/ Funções da coordenação das unidades do SUAS https://craspsicologia.wordpress.com/2016/01/11/funcoes-da-coordenacao-das-unidades-do-suas/ Ações e atribuições das equipes de referência do CRAS/PAIF: https://craspsicologia.wordpress.com/2015/08/10/acoes-e-atribuicoes-das-equipes-de-referencia-do-craspaif/ Funções do técnico de nível médio e fundamental no SUAS:https://craspsicologia.wordpress.com/2014/04/22/funcoes-do-tecnico-de-nivel-medio-e-fundamental-no-suas/ Materiais para ações socioeducativas e de convivência com crianças e jovens:https://craspsicologia.wordpress.com/2013/04/27/acoes-socioeducativas-e-de-convivencia-com-criancas-e-jovens/ 03 cadernos para estruturação de proposta político-pedagógica para os SCFV https://craspsicologia.wordpress.com/2016/07/20/03-cadernos-para-estruturacao-de-proposta-politico-pedagogica-para-os-scfv/ Sobre as oficinas no SCFV – “O que é o CRAS segundo o Facebook”:https://craspsicologia.wordpress.com/2015/06/01/sobre-as-oficinas-no-scfv-o-que-e-o-cras-segundo-o-facebook/ 15 teses sobre a oferta do SCFV:https://craspsicologia.wordpress.com/2016/07/19/15-teses-sobre-a-oferta-do-scfv/ Acesse a página para acompanhar as Postagens! Boa leitura e um excelente trabalho a todas e todos!
O advogado na equipe do CREAS
Compartilhando o material Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): O Advogado na Equipe de Referência produzindo pela Comissão de Assistência Social da OAB-SC (CAS/OAB/SC). É um material que deve interessar a todos os profissionais e gestores do SUAS, provocando um debate para maior assertividade da atuação dos profissionais do direito no SUAS. Veja mais sobre o documento de acordo com os organizadores: “O documento apresenta os resultados do levantamento realizado pela Comissão de Assistência Social da OAB-SC (CAS/OAB/SC) junto aos 87 (oitenta e sete) Centros de Referência Especializados de Assistência Social de Santa Catarina (CREAS/SC), com o objetivo de conhecer a realidade desses equipamentos, especialmente quanto à inserção e atribuições do Advogado, tendo em vista que, a partir da NOB/RH/SUAS, este profissional passou a integrar as equipes de referência de Assistência Social. O referido levantamento foi realizado no período de fevereiro a agosto de 2015, e a sistematização das informações obtidas compõem o presente documento, organizado de forma a contemplar todos os quesitos inclusos na pesquisa”. (Apresentação) Download: Advogado no CREAS Boa leitura! COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- OAB/SC ZAGO, Arlete Carminatti (Org); OLIVEIRA, Heloísa.M.J; LEÃO, Paula C.L.; FREITAS, Rosana de C.M; KRUEGER, Paola G.E.; WOHLKE Roberto; ABREU FILHO, Hélio; FERRER, Elisabeth B.S.B; CÓRDOVA, Ismael; SANTOS, Igor S. Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): O Advogado na Equipe de Referência.Florianópolis/ Santa Catarina: CAS/ OAB/SC, out. 2015.
Feliz Gestão Nova: o SUAS convida a uma Psicologia neutra?
Por Lívia de Paula “Ano Novo, Vida Nova.” Para muitos de nós, trabalhadores do SUAS, essa frase poderia ser reescrita neste momento assim: Ano Novo, Gestão Nova. Vários municípios vivenciam neste início de mandato inúmeras mudanças que trazem consigo sentimentos por vezes contraditórios: esperança na renovação, medo das transformações e angústias frente às reconfigurações dos serviços. Para aqueles que chegam no campo da Assistência Social, os sentimentos podem ser outros: receio diante do novo, sensação de estar perdido diante do famoso “caí de paraquedas nesse trabalho”, sentimento de não pertencimento e a nossa velha conhecida crise de identidade profissional. Surgem vários questionamentos como: existe algum trabalho para Psicologia no SUAS? O que é ser psicóloga / psicólogo? E a mais famosa pergunta: o que farei eu, profissional da Psicologia, nesse espaço não clínico? Durante todo o mês de Janeiro, o Blog trouxe textos já publicados anteriormente que podem ser ferramentas importantes para nos auxiliar nesta etapa de transição. Se você ainda não leu, vale consultar esta Retrospectiva nos arquivos do Psicologia no SUAS. Terminei 2016 escrevendo sobre nossa atuação com famílias e tinha como pretensão continuar refletindo sobre este tema, mas o momento político dos municípios me convidou a “recalcular minha rota”. Preferi dar Feliz Ano Novo trazendo um tema polêmico, que divide opiniões, mas que considero imprescindível para quem atua no SUAS e nas demais políticas públicas: a questão da neutralidade profissional no contexto da Assistência Social. Você, profissional do SUAS, calouro ou veterano, já pensou sobre isto? O que é neutralidade? O que é ser neutro no âmbito das práticas sociais? Consultando o Dicionário Michaelis On-line[i], encontramos os seguintes sentidos para neutralidade: “condição daquele que se abstém de tomar partido; caráter ou qualidade do que é imparcial.” Já entre os sentidos para a palavra neutro, encontramos alguns bastantes interessantes: “que não apresenta clareza ou definição; indefinido, vago; desprovido de sensibilidade; indiferente, insensível.” Sendo estas as compreensões mais frequentes destas palavras, consultamos as diretrizes da Política de Assistência Social para encontrar apontamentos que orientam nossa atuação enquanto operadores da Política, buscando compreender como tais apontamentos se relacionam com o que nos indicam as palavras citadas. A NOB-RH/SUAS, em seus Princípios éticos para os trabalhadores da assistência social, começa dizendo o seguinte: “A Assistência Social deve ofertar seus serviços com o conhecimento e compromisso ético e político de profissionais que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das potencialidades e da emancipação de seus usuários;” (p.19). Mais à frente, o documento coloca como um dos princípios éticos dos trabalhadores “a defesa intransigente dos direitos socioassistenciais”.[ii] Poderíamos elencar aqui várias outras orientações presentes nos documentos que regem o funcionamento do SUAS mas apenas estas já nos auxiliam muito na tarefa de problematizar o tema do nosso texto. Já sabemos que neutralidade e neutro são palavras que indicam o não posicionamento, uma certa indiferença, o que não está claro ou definido. E também já sabemos o que a Assistência Social exige de seus técnicos: somos profissionais impulsionadores de potencialidades e emancipação da população; somos profissionais de reconhecimento, defesa e garantia de direitos. É possível defender direitos sendo indiferente, vago e insensível? A compreensão mais comum de que a ciência deva ser neutra, produzindo conhecimento sobre determinado fenômeno sem se relacionar com ele é colocada em xeque no território das práticas sociais. Segundo Branco (1998), “a ciência psicológica, no estágio atual, exige pesquisa, extensão e ensino reflexivos, críticos e engajados.” Fica claro que não há neutralidade que caiba no SUAS. Não há para onde correr. O SUAS é um campo para quem se posiciona. É um campo para quem “enxerga” as vulnerabilidades e as fragilidades daqueles que, na maioria das vezes não tem vez e voz, em especial dos chamados grupos minoritários (negros, mulheres, crianças e adolescentes, população LGBT, pessoas com deficiência, entre outros). E como fazemos, nós da Psicologia, diante desta constatação? Nós que aprendemos tão bem a sermos neutros? Está posto o conflito e talvez a nossa grande crise ao adentrarmos o SUAS. Eu faço o que com aquela psicóloga ou psicólogo que ia ser? Aquela que ia ficar atrás da mesa ou ao lado do divã, sem precisar explicitar suas posições? Sugiro uma conversa honesta entre você e aquela pessoa que você se imaginava. Talvez você pode descobrir que o trabalho pautado na psicologia social não é bem a sua. Ou talvez não. Talvez você descubra que há outras formas de ser psicóloga ou psicólogo, nas quais o posicionamento é indispensável. E aí, colega, bem-vinda ao SUAS. No atual cenário político do país, no qual vemos ruir direitos todos os dias, estamos cada vez mais precisados de profissionais intransigentes na defesa e na luta por justiça social. Vamos refletir mais sobre Neutralidade e Psicologia? Os textos sugeridos falam sobre formação dos profissionais psicólogos e sobre nossa atuação no espaço clínico, mas podem auxiliar nos questionamentos sobre a prática da Psicologia em qualquer espaço: BRANCO, Maria Teresa Castelo. Que profissional queremos formar? http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141498931998000300005&script=sci_arttext SAMPAIO, Mariana Miranda Autran. Neutralidade na relação terapêutica – reflexões a partir da abordagem gestáltica. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672004000100005 MARIANO, Anna Paula Rodrigues. A questão da neutralidade do psicoterapeuta.http://www.espacocuidar.com.br/pt/a-quest%C3%A3o-da-neutralidade-do-psicoterapeuta/ Cabe ainda uma última reflexão que pode contribuir para que você queira estar conosco na empreitada do SUAS. Para dar conta desta tarefa de defesa de direitos não podemos trabalhar isolados. Na última reunião da Comissão das Psicólogas (os) do SUAS da Subsede Centro Oeste do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, l Assistência Social exige participação e discussão coletiva. Se você está chegando agora ou já é velho de casa não importa. Pense na sua participação. Ela é uma das formas de nos ajudar na construção da nossa identidade enquanto trabalhadores. Há muitas maneiras de se apropriar, de dividir angústias pertinentes às nossas tarefas, de se informar, de contribuir para o fortalecimento da política: procure os fóruns de trabalhadores estaduais ou municipais, os conselhos de direitos da sua cidade, os grupos de discussão, estudo e trabalho, os grupos das redes sociais, enfim… Posso dizer sem medo que existe uma Psicologia possível
Entre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade: breves considerações sobre cultura política e trabalho na assistência social
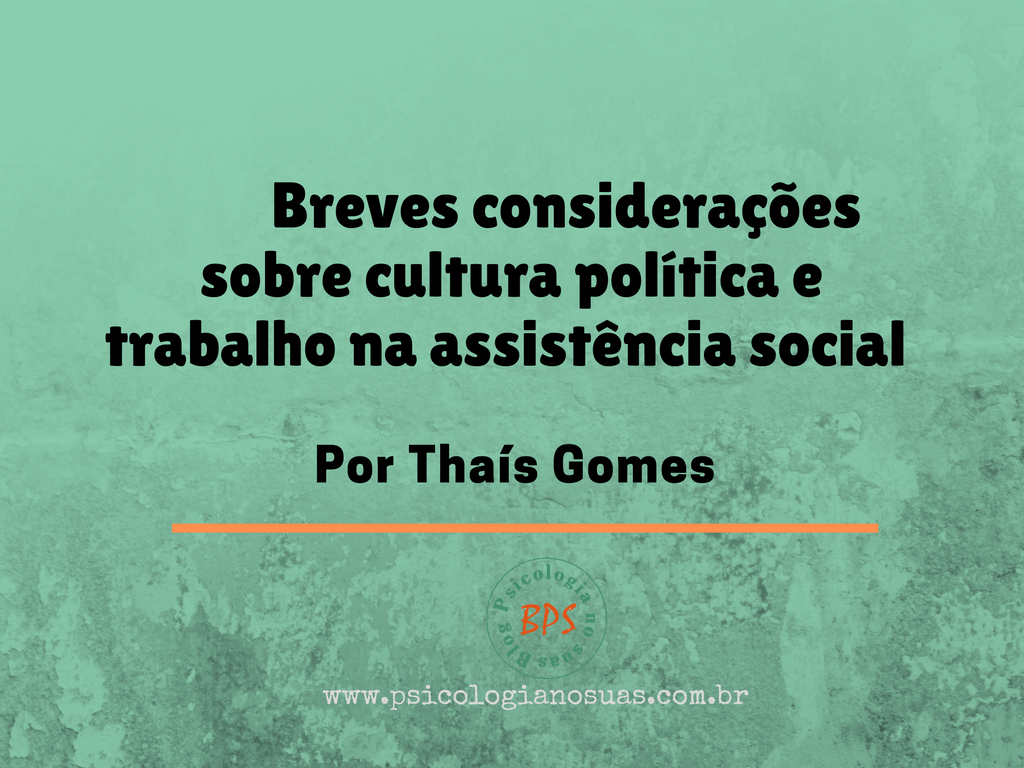
Por Thaís Gomes* Chegou ao fim mais um período eleitoral e assim vão sendo desenhadas as plataformas políticas para os próximos quatro anos em nível municipal… É um período que traz muitas preocupações e incertezas para os trabalhadores da assistência social. Cortes de gastos, ameaça de demissão dos trabalhadores contratados, redução das equipes e dos benefícios, interrupções nos SCFV, são só alguns dos fatores que prejudicam potencialmente a oferta dos serviços socioassistenciais. Esse quadro demonstra como a cultura política local influencia a dinâmica da política de assistência social, principalmente em períodos eleitorais, onde é possível notar o quanto ainda é utilizada como meio de troca de favores entre políticos e eleitores, com predomínio de relações verticais com forte cunho clientelista, ainda que a atual configuração da política de assistência social proponha exatamente a ruptura com o ranço histórico do assistencialismo. Não é incomum ver vereadores “bondosamente”, isentos de interesses, acompanharem os usuários dos serviços nos CRAS por exemplo, para acesso a benefícios eventuais em ano de eleição municipal por exemplo. E se os traços da cultura política influenciam a dinâmica da política de assistência social, cumpre observar que afeta também o trabalho dos técnicos que atuam na ponta dos serviços. A incidência das práticas de mandonismo e coronelismo nos municípios influenciam os processos de trabalho e a oferta dos serviços na política de assistência social de um modo perverso ao permitirem também, para além do cenário citado anteriormente, a inserção de pessoas sem qualificação profissional e técnica para ocupar cargos de gestão/ coordenação nas secretarias de assistência social através dos cargos comissionados, pois ao não disporem dos requisitos para ocupar tais cargos, acabam reproduzindo dentro da lógica de trocas de favores e cabide de emprego, práticas assistencialistas que perpetuam a visão da política de assistência social como favor e não como direito, culminando num círculo vicioso que prejudica a oferta de serviços em consonância com as prerrogativas do SUAS, além de causar constrangimentos entre as equipes técnicas, usuários e gestores. Além disso, a grande incidência de contratações profissionais por contrato de trabalho por tempo determinado, RPA’s, comissionados, terceirizados e voluntários em detrimento da contratação via concurso público também configura uma questão delicada no debate da cultura política local, pois nos remete a pensar até que ponto as normativas existentes no arcabouço da política de assistência social, como a NOB-RH (Norma Operacional Básica de Recursos Humanos) têm força de lei, tendo em vista ser a contratação por concurso público o modo em que se atesta o conhecimento técnico do profissional para exercer determinada função, confere estabilidade profissional, além de ser parte fundamental no processo de construção de uma política pública de Estado e estar preconizado na configuração da política de assistência social. De acordo com Brisola e Silva (2014) a precarização das condições de contratação no âmbito do SUAS contribui também para a restrição dos direitos profissionais/ trabalhistas e para a descaracterização da assistência enquanto política pública estatal podendo ocasionar ainda mais retrocessos na efetivação dos direitos socioassistenciais. Outro ponto a ser destacado na trama de relações desenvolvidas por intermédio da cultura política local é a participação social dos profissionais nas instâncias de representação dos trabalhadores, sindicatos, conselhos de direito e de políticas e movimentos sociais. A precarização das condições de trabalho também é fator determinante no processo de despolitização das categorias profissionais e também da própria política de assistência social, que prevê a participação e o controle social por intermédio dos conselhos e conferências. Muitas vezes imersos na rotina de trabalho, em meio a tantas questões que se colocam, os profissionais não dispõe de tempo para discutir o trabalho desenvolvido, refletir sobre suas práticas, sobre as condições de trabalho, bem como participar ativamente das instâncias de controle social como o conselho municipal de assistência social por falta de tempo e estímulo e até mesmo por represálias (demissões, assédio moral, ameaças de violência, perseguições, etc) que possam sofrer advindas do órgão gestor da política ou do poder executivo, ou de ambos. Além da parca oferta de capacitações para as equipes técnicas, o que propiciaria um espaço privilegiado para trocas de experiências e debate sobre o cotidiano de trabalho. Importante sinalizar que enquanto profissionais precisamos estar atentos à dinâmica das relações sociais forjadas em nosso dia a dia, buscando entender a dinâmica social e econômica e seus rebatimentos em nosso espaço profissional, para que possamos adotar posturas que busquem romper com práticas burocráticas e conservadoras que ajudam a perpetuar práticas clientelistas e assistencialistas, traços da cultura política local, dentro da política de assistência social. E isto somente pode se concretizar através das discussões fomentadas pelas práticas profissionais e das estratégias de enfrentamento traçadas por quem faz o SUAS acontecer diariamente. O cenário que se mostra atualmente é de grandes retrocessos na política de assistência social em todos os níveis, nacional, estadual e municipal. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, recentemente a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos foi incorporada à Secretaria Estadual de Saúde, o que representa um enorme retrocesso ao unir as políticas de assistência social e saúde, destaque também para os importantes documentos de referência sobre o trabalho na política de assistência social elaborados pela SEASDH. A impressão que tenho é que estamos vivenciando um estado de apatia social e descredibilidade política em meio a conjuntura que se apresenta através dos noticiários (sérios e imparciais), redes sociais, diante de tantos bombardeios de estratégias dos governantes de todas as instâncias para dirimir direitos sociais conquistados. Mas não devemos/ podemos perder as esperanças pois em meio as crises é que surgem as possibilidades de mudança. Que em 2017 possamos coletivamente traçar estratégias para enfrentar o desmonte dos direitos sociais, que tenhamos coragem e ousadia para lutarmos pela política de assistência social e pela efetivação dos direitos, por melhores condições de trabalho no SUAS, por maior adesão e participação dos trabalhadores nos espaços de decisão, frentes de trabalho, grupos de discussão e reflexão do trabalho para juntos buscarmos uma alteração neste cenário de retrocessos posto. “(…) O
Estamos nos organizando em caixinhas e desorganizando as proteções ou nos organizando em proteções e desorganizando as caixinhas?
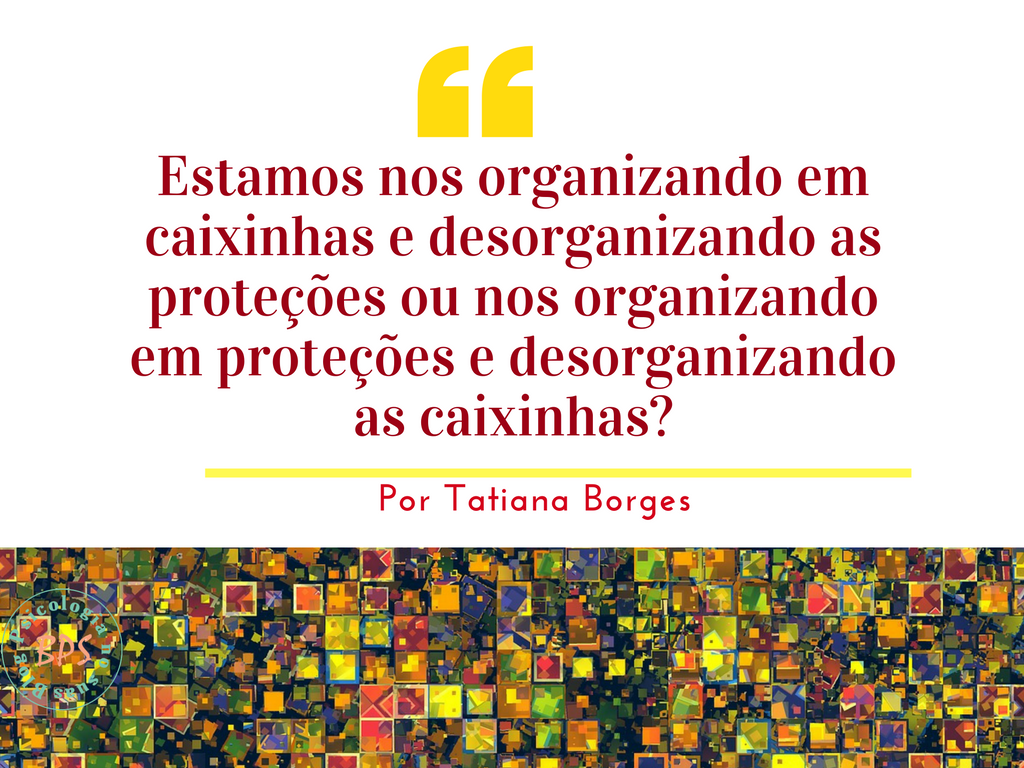
Por Tatiana Borges* “Comecei a pensar, que eu me organizando, posso desorganizar, que eu desorganizando, posso me organizar” Foi com esta frase de Chico Science e Nação Zumbi que terminei o texto de minha primeira participação aqui no Blog (Encontros e trocas profissionais: relato de uma experiência exitosa) e volto neste mesmo espaço com a inquietante reflexão do quanto que nós, profissionais do SUAS, temos que trabalhar na construção e desconstrução de práticas e posturas no dia a dia desta política, pois os nossos processos de trabalho se dão nos encontros, nas trocas e alianças que estabelecemos, seja com usuárias/os, com nossas/os colegas da mesma ou de outras categorias ou com nossas/os superiores nas estruturas institucionais. Justamente na reprodução das relações sociais é que vamos nos desorganizando e nos organizando enquanto atoras/es importantes de uma política pública, assim como o próprio SUAS que, para se organizar como sistema teve e tem que desorganizar e romper a cada dia com as formas tradicionais de se fazer a assistência social, formas estas incompatíveis com o processo democrático, com a igualdade e com a dignidade humana. Alguns anos de experiência na assistência social me evidenciaram a tendência natural que temos de nos organizarmos em caixinhas, ou seria desorganizarmos? Não sei. O que é possível observar é que esta característica para além de dar uma sensação de uma habitual zona de conforto, limita a prática profissional, a interdisciplinaridade, o trabalho coletivo e prejudica o conteúdo e o alcance dos serviços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda no âmbito do SUAS. (Assunto muito bem tratado no último texto da Aline Moraes) As armadilhas das caixinhas possuem variadas formas e a maioria delas são bem conhecidas pelas/os trabalhadoras/es do SUAS, um exemplo é o aprisionamento por categorias de nível superior, onde é defendido atribuições exclusivas como: “visita domiciliar deve ser feita por assistente social” “é o psicólogo que tem habilidades para grupos” estas são algumas frases que costumamos a ouvir. Este tema já vem sendo tratado neste blog e, diga-se de passagem, com muita didática pela Rosana Fonseca, mas reforço que este pensamento em caixinha não prima pela partilha e nem pela produção de novos conhecimentos, tampouco prioriza as seguranças que a política deve garantir, mas sim a segurança de espaços profissionais e de vaga de trabalho que somados ao processo de alienação da divisão entre os que pensam e os que executam as ações, configuram-se em um dos inúmeros efeitos das contradições das relações de trabalho, que não pretendemos aprofundar aqui. (TORRES, 2014; RIZZOTTI, 2014) A compartimentalização a qual me refiro é ainda mais automática quando falamos em setores, áreas, unidades, núcleos, divisões administrativas, entre outros. No entanto, a provocação que trago é que o balizamento que estamos criando entre as proteções hierarquicamente definidas como básica e especial de média e alta complexidade pode também estar limitando a função central da política de assistência social que é a própria proteção social dos indivíduos e famílias e que para nós gestoras/es e trabalhadoras/es é, ou deveria ser, o objetivo em comum, pressupondo horizontalização e democratização de poderes e saberes. Ora, é sabido que as demandas e violações apresentadas pela população usuária dos serviços públicos de uma forma geral não serão respondidas unicamente por uma política pública, ou por um tipo de proteção, tampouco por um tipo exclusivo de trabalho técnico, ademais, “a proteção integral requer complementariedades na intervenção dos profissionais de diferentes serviços”, na assistência social, esta complementariedade se dá entre os serviços abrangidos pelas proteções sociais, a básica e a especial. (TORRES, 2014) Com certo tempo realizando o acompanhamento da política de assistência social nos municípios foi possível observar a grande necessidade que temos de identificar o que diferencia as proteções, muitas vezes na ânsia maior por demarcar espaços de atuação, uma frase comum que destaca bem esta afirmação é “se tem violação de direitos a proteção social especial de média complexidade que deve atender”, no entanto quando temos que ajuntar ações surge enormes dificuldades, como por exemplo, no reordenamento dos serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos, na ocasião que foram criadas metas de atendimentos para as situações prioritárias que se configuram como proteção social especial, mas que devem ser atendidas no serviço da básica e que até hoje geram inúmeras dúvidas entre técnicas/os e gestoras/es, este processo daria assunto para vários outros posts. O que pretendo ressaltar aqui é que temos propensão em usar o que diferencia para limitar ou encaixotar e não para alargar, ou no caso, ampliar a proteção social. (TORRES e FERREIRA, 2016) Esta problematização tem sido realizada nos encontros ampliados do GECCATS (Grupo de Estudo e Capacitação Continuada das/os Trabalhadoras/es do SUAS) que mantemos na região de Franca/SP. Ao longo de 2016 debatemos os anseios relativos ao referenciamento e contrarreferenciamento entre CRAS e CREAS na perspectiva de superar a fragmentação e construir caminhos por intervenções conjuntas e partilhadas, sem desrespeitar as autonomias intelectuais. Abro aqui um parêntese para explicar que o GECCATS surgiu como uma iniciativa de um grupo de profissionais do estado, dos CRAS e órgãos gestores e se constituiu em um espaço de estudo e trocas de experiências para trabalhadoras/es de nível superior da proteção social básica, pois naquele momento (2009) o entendimento do papel do CRAS como porta de entrada do SUAS era premente. A complexidade das temáticas associadas à proteção social especial sempre foram tratadas em espaços separados deste grupo. Há algum tempo tem surgido fortemente a necessidade em transformar o GECCATS em um grupo de interproteções, com a expansão da participação para trabalhadoras/es da PSE de CREAS e órgãos gestores. A presença das queridas professoras Abigail Silvestre Torres e Stela da Silva Ferreira em um dos encontros reforçaram este caminho inadiável de aprimoramento e amadurecimento do grupo ao debater com as/os participantes as questões que suscito neste post e que nos inquietam e em certo ponto até nos assustam por nos tirar da caixinha. Assim todo o conteúdo deste texto tem como pano de fundo os meus registros e interpretações das colocações
Terapia Ocupacional, o social e a Assistência Social
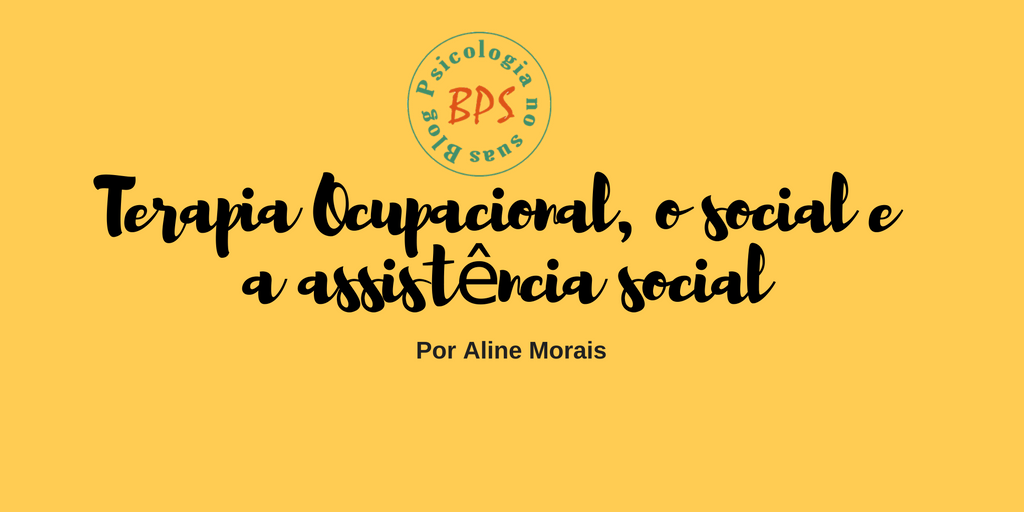
Por Aline Morais Para iniciar, acredito que se faz necessário apresentar a Terapia Ocupacional no Campo Social, pressupondo que para alguns colegas eu não esteja trazendo nenhuma novidade. Contudo, acredito que para muitos outros profissionais seja pertinente evidenciar alguns caminhos traçados pela nossa atuação específica dentro deste campo. Comecemos com uma definição clássica da Terapia Ocupacional: um campo de conhecimento e intervenção em saúde, em educação e na ação social, que reúne tecnologias orientadas para a emancipação e a autonomia de pessoas que, por razões ligadas a problemáticas específicas (físicas, sensoriais, psicológicas, mentais e/ou sociais), apresentam, temporária ou definitivamente,dificuldades de inserção e participação na vida social. Fonte: Crefito3 Desde a década de 70, os terapeutas ocupacionais atuam no que se chama de “social”, contudo numa lógica histórica de inserção nas instituições totais (FEBEMS, asilos). Associados aos processos e movimentos de redemocratização do Brasil, os quais certamente influenciaram outras profissões, os terapeutas ocupacionais começaram a questionar o seu papel de “mantenedores da ordem institucional”. Interrogavam se realmente estavam contribuindo com o bem-estar dos sujeitos, ou apenas reproduzindo as lógicas institucionais segregatórias. Ainda, com o aumento da pobreza e da desigualdade social, os terapeutas ocupacionais, que até então estavam mais ligados às problemáticas de saúde, passam a perceber outras demandas para a profissão. Além disso, inicia-se o questionamento por parte dos terapeutas ocupacionais acerca do papel político do técnico, influenciados por Paulo Freire, Franco Basaglia, Gramsci, Foucault, Robert Castel, entre outros, que criticavam e apontavam para a “medicalização dos problemas sociais”. Assim, após diversos processos históricos, políticos e sociais, a Terapia Ocupacional Social vem se constituindo com base em alguns princípios: o adoecimento como processo também social (crítica ao modelo biomédico), deslocamento do setting terapêutico para o território, descentramento do saber técnico ou individualizado para compreensão das demandas e saberes coletivos e o conceito de atividade como algo a ser construído a partir da alteridade (conceito emprestado da antropologia). No Campo Social, entendido como esfera interdisciplinar mais ampla, há diversos núcleos de atuação da Terapia Ocupacional, tais como o da educação, da justiça, da cultura e da assistência social (MALFITANO, 2005). Assim, a Terapia Ocupacional Social, não trata exclusivamente da atuação na Assistência Social, mas tem ofertado subsídios para discuti-la, na medida em que não parte dos referenciais de saúde, mas sociológicos, antropológicos e outros. Não posso deixar de me referir ao Laboratório Metuia[1], berço da Terapia Ocupacional no Campo Social, do qual pude fazer parte durante um período de minha formação e tem protagonizado ações de extensão universitária, pesquisa e formação neste campo. Graças à presença (e luta) dos terapeutas ocupacionais nas conferências e espaços participativos do SUAS, sobretudo no Encontro Nacional dos Trabalhados do SUAS em Brasília, em março de 2011, nossa profissão foi reconhecida como categoria que pode compor as equipes de referência e gestão dos serviços socioassistenciais, consolidada por meio da resolução n. 17 do CNAS/2011. Foi um grande passo, contudo, ainda temos os seguintes desafios: Conquistar cargos efetivos e concursos específicos para terapeutas ocupacionais no SUAS; Garantir a presença de disciplinas e estágios das graduações que oferte maior preparo para atuação desses profissionais no SUAS; Divulgar e promover as nossas possibilidades de atuação na Assistência Social. Para quem se interessar, há alguns materiais complementares que já foram divulgados aqui no Blog no Post: Terapia Ocupacional no SUAS. Optei correr o risco de ser redundante para quem já conhece essa história, para fazer uma apresentação bem resumida àqueles que ainda não nos conhecem como profissão. Compartilhando aqui uma experiência pessoal, que ainda trata dos nossos desafios, quando participei da X Conferência Estadual de Assistência Social, enquanto delegada, em uma discussão em subgrupo, uma colega assistente social questionou se eu compunha a equipe de referência, se era concursada e se poderia registrar ações técnicas no prontuário SUAS, insinuando que as respostas seriam negativas. Mediante tais questionamentos, a respondi, embasada na resolução n. 17 do CNAS/2011 e afirmando que sim, como qualquer profissional da equipe de referência. Para me reconfortar dessa situação, escutei uma fala de um professor Marcelo Gallo, (professor da Unesp Franca e graduado em Serviço Social) em uma de minhas formações do Capacita SUAS, em que ele alegou que, como assistente social ele poderia afirmar: assistentes sociais, a PNAS não é de vocês! Certamente, vindo de um colega assistente social, me senti representada! Diante disso, cabe a nós terapeutas ocupacionais, mostrar a que viemos. E aos colegas e gestores, também se informarem sobre as demais profissões previstas na NOB/RH, de modo que os serviços socioassistenciais possam contar com olhares profissionais diversos e complementares, não concorrentes! Para finalizar, àqueles que se interessarem em conhecer as origens da terapia ocupacional, deixo aqui a minha sugestão de assistirem ao filme brasileiro “Nise – O coração da loucura”. Ele ajuda a compreender as nossas bases para o uso da atividade, não apenas para “ocupar” ou manter a “ordem”, mas como forma de questioná-la, estabelecendo uma ordem própria (através do que chamamos de autonomia, assunto o qual pretendo discutir em outro momento) e produção de sentido. Assim, as dimensões da intervenção do terapeuta ocupacional devem ser a ampliação e o fortalecimento das redes sociais, bem como a expansão do repertório de atividades cotidianas. O objetivo final é aumentar a participação cívica e social dos sujeitos (COSTA, 2016). Referências COSTA, L.A. A terapia ocupacional no contexto de expansão do sistema de proteção social. In: LOPES, R.E., MALFITANO, A.P.S. Terapia Ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos. São Carlos: EdUFSCar, p.135-153, 2016. LOPES, R. E. et al. Terapia Ocupacional no campo social no Brasil e na América Latina: panorama, tensões e reflexões a partir de práticas profissionais. Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, São Carlos, v. 20, n. 1, p. 21-32, 2012. MALFITANO, A. P. S. Campos e núcleos de intervenção na terapia ocupacional social. Revista de Terapia Ocupacional da USP, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 1-8, 2005. [1] Grupo interinstitucional de estudos, pesquisa, formação e ações pela cidadania de crianças, adolescentes e adultos em processos de ruptura das redes sociais de suporte, sob os pressupostos