Desvelando as Masculinidades no contexto do SUAS: possibilidades de reflexão

Por Lívia de Paula* Em texto anteriormente publicado aqui no Blog, iniciei algumas reflexões a respeito de como temos pensado as questões de gênero dentro do contexto das famílias que acolhemos no SUAS. No mês passado, avançamos um pouco nesta tarefa trazendo questionamentos sobre nossa atuação com as mulheres que chegam aos nossos equipamentos.[i] Considero esta temática fundamental para o trabalho da Psicologia dentro da Política de Assistência Social, principalmente nos CREAS, tendo em vista que a maioria das violações que acolhemos estão alicerçadas em aspectos referentes às relações de gênero. No intuito de continuar compartilhando indagações sobre o assunto, pretendo trazer hoje algumas considerações sobre nossa prática frente às masculinidades. Coloco a mim mesma um desafio com esta proposta: como falar do masculino sendo mulher? Atualmente, assistimos a muitos debates e “embates” sobre o “lugar de fala”: pode uma mulher falar de masculinidades? Pode um branco falar de preconceito racial? Pode um homem contribuir com as lutas do feminismo? Sobre esta questão, Adriano Senkevics, no texto “As armadilhas do “lugar de fala” na política contemporânea”, publicado em seu Blog Ensaios de Gênero, traz apontamentos bastante pertinentes: Para além disso, o “lugar de fala” é usualmente tomado como “autoridade de fala”, como se só quem vivesse uma experiência (no lugar subalterno) pudesse discutir aspectos que a circundam. Vejam só: não é preciso ser negro para falar de racismo, na medida em que debater o racismo, ou as relações étnico-raciais em geral, envolve trazer à tona dimensões que também tocam as pessoas brancas, amarelas e de outras cores e raças. Recusar esse pressuposto é ignorar justamente o aspecto relacional da construção social das diferenças. Nunca é demais reiterar: falar sobre algo ou alguém não significa falar em nome de algo ou alguém. Das experiências individuais, próprias de cada um, devemos saltar para a reflexão coletiva – esta é a base do campo político.[ii] Tentando então este salto para a reflexão coletiva, vamos falar sim de masculinidades. Se os homens são parte das famílias que acompanhamos e se a Psicologia é uma profissão predominante feminina, quem, senão nós, construirá um conhecimento sobre o assunto? Não podemos nos furtar desta questão, mesmo correndo o risco de críticas ancoradas no embate do “lugar de fala”. A primeira pergunta que me ocorre sobre o assunto é: os homens chegam ao SUAS? Como? Em minha prática na PSE (Proteção Social Especial), observo os homens chegando principalmente no papel de agressores, adolescentes em conflito com a lei ou como pessoas em situação de rua. E no seu equipamento, como os homens têm chegado? Sua equipe tem falado sobre isso? Estas questões me interessam por perceber que estamos silenciados quando o assunto é a vivência das masculinidades. Os homens nos chegam, mas e nós? Conseguimos chegar até eles? Muitas são as questões que podem ser pauta para construções teórico-práticas no que tange às masculinidades. Podemos começar pensando sobre a educação que os meninos recebem em nossa cultura machista. Nossos homens são ensinados a dominar, a exercer autoridade sobre o outro em qualquer que seja a situação, e principalmente nas relações afetivo-sexuais: “Se não for assim, não é homem.” “Homem não chora.” “A mulher é propriedade do homem.” Nossos homens são estimulados desde criança à agressividade e violência: “Homem não leva desaforo pra casa”. “Tem que ser valente e corajoso”. É necessário que compreendamos isto para que ampliemos nosso entendimento acerca de como as representações e estereótipos sobre o papel masculino dentro das famílias é construído e formatado cotidianamente em nossa sociedade. São estes mesmos homens, educados sob a égide da dominação masculina, que estão inseridos em nossos serviços quer como agressores, infratores, pessoas em situação de rua, e em menor número, também como vítimas de violência. Pinto Junior (2005) coloca que o fato da subnotificação das situações de violência sexual contra meninos ser ainda maior do que a subnotificação dos casos envolvendo meninas também pode encontrar alguma compreensão na forma como os meninos são criados. Uma denúncia dessa natureza traz descrédito e dúvidas quanto à identidade sexual da vítima. Segundo ele, há também uma ideologia, tanto entre o senso comum quanto entre a ciência, de que os meninos estão imunes a esta violação por serem “machos”, e que, quando passam por esta situação é por terem dado permissão ou desejado que o fato ocorresse.[iii] Nas suas contribuições, encontramos ainda outras menções ao processo de socialização dos homens: […] o medo do estigma da homossexualidade, os sentimentos ambivalentes, a atribuição de culpa aos meninos e a própria “cegueira” da sociedade podem fazer que o número de casos reportados seja muito pequeno. Além disso, os meninos são socializados no sentido de não demonstrar qualquer tipo de fraqueza ou de medo. (PINTO JUNIOR, 2005, p. 44). Partindo dos aspectos aqui elencados, percebemos o quanto é imprescindível que nós, técnicos do SUAS, nos debrucemos sobre os processos de masculinidade e sobre as experiências dos homens que acolhemos. Investigar e entender as vivências masculinas nos territórios e nos contextos familiares é condição para um trabalho efetivo de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Atualmente, já existem estudos e pesquisas que buscam alternativas para romper com os paradigmas de educação de gênero que estamos discutindo. Um destes estudos é o de Januário (2016), que nos chama a atenção para o caráter pluralista e mutável da noção de masculinidade: Importa também destacar que não obstante numa mesma sociedade, as masculinidades são múltiplas, definidas por critérios como a idade, classe social, orientação sexual ou etnia (Nixon, 1996) sendo passíveis de mudar ao longo da vida de uma pessoa. As características que definem a masculinidade, seja na vida privada ou na vida pública, podem variar bastante de uma cultura para outra. (JANUÁRIO, 2016, p.111).[iv] Além das pesquisas acadêmicas, existem algumas iniciativas que podem contribuir para qualificar nosso trabalho na Política de Assistência Social. A página do Facebook “Já falou para seu menino hoje?” é uma dessas. Criada pela pedagoga Caroline Arcari e pela psicóloga Nathália Borges, a página é sempre alimentada por postagens propulsoras de reflexões
Mulheres que chegam ao SUAS: que histórias elas podem contar?
Por Lívia de Paula* Nossa história tem meninas, e meninas também contam nossa história. É impossível compreender o Brasil sem a insistência de compreender suas meninas. Porque entre nós ser menina ainda constitui uma desvantagem social e, sendo pobre, uma exclusão social. -Marlene Vaz- Dia 08 de março: Dia Internacional da Mulher. Em virtude desta data, o mês de março assume em diversos segmentos sociais, inclusive nas políticas públicas, um caráter de celebração e mobilização diante das questões relativas ao feminino. A publicidade comercial foca seus esforços no incentivo ao consumo, a indústria da beleza vende a importância de estar sempre bela e atraente, os serviços de saúde oferecem exames preventivos, orientações e consultas específicas. O SUAS também se mobiliza. Lembro-me que, no ano passado, o Blog Psicologia no SUAS realizou um Hangout com o intuito de discutir quais estavam sendo as práticas propostas na política de assistência social dos municípios para marcar esta data. Muitas foram as críticas feitas por nossa editora Rozana às atividades já banalizadas nos equipamentos, como o famoso “Dia da Beleza”, por exemplo. Seus questionamentos diziam respeito a quais estereótipos estamos reforçando quando reduzimos nossas ações a proporcionar um corte de cabelo, um alisamento dos fios e uma maquiagem.[i] Ao me propor a escrita deste texto, me vi pensando: “Será que conseguimos avançar em alguma coisa no que tange a esta temática?” Meu convite para você, leitor e colega do SUAS, é esse: vamos pensar juntos como temos atuado frente às questões do feminino? Comecemos pensando sobre a pluralidade escondida nessa história de ser mulher. O nosso “Dia da Beleza” contempla essa pluralidade? Usando uma das frases mais conhecidas de Freud: será que sabemos “afinal, o que querem as mulheres?” Será que sabemos de fato quem são essas mulheres que chegam até o SUAS? No nosso cotidiano de trabalho, estamos sempre falando sobre essas mulheres. Discutimos o lugar da mulher na sociedade contemporânea e as questões de poder imbricadas nas violações a que todas nós estamos sujeitas. Falamos de empoderamento e autonomia. Ao mesmo tempo, em nossa rotina prática, preenchemos nossos relatórios quantitativos e categorizamos: meninas vítimas de abuso sexual, adolescentes aliciadas por redes de exploração sexual, mulheres prostitutas, mulheres vítimas de violência doméstica…. Lidamos todos os dias com situações nas quais a vulnerabilidade, a fragilidade e os mais diversos tipos de violência fazem com que mulheres cheguem até nós “gritando por socorro.” No meu texto anterior[ii]: “Feliz Gestão Nova: o SUAS convida a uma Psicologia Neutra?”, defendi a ideia de que o SUAS convida, para o trabalho em seus equipamentos, profissionais que se posicionem em defesa dos direitos das minorias, dentre elas, as mulheres. Só uma defesa intransigente torna possível uma transformação nos ciclos de violação a que estão submetidas nossas usuárias. E é por isso que precisamos ocupar os espaços falando de violência, de identidade de gênero, de relações de poder alicerçadas em nossa cultura machista. Mas é também necessário nos atentarmos para uma possível armadilha que pode nos capturar no percurso desta tarefa. Esta armadilha surge quando, ancorados em nossos posicionamentos ideológicos, deixamos de estar em contato com a pessoa que estamos atendendo. Isso pode fazer com que criemos balizadores do que acreditamos “mais adequado” para a vida das usuárias. Algumas frases, comuns de serem ouvidas nos equipamentos, exemplificam o que exponho: “por que você não se separa deste companheiro?”, “ela precisava largar a prostituição e o uso das drogas”, “para quem não tem nada, aprender artesanato já seria uma fonte de renda”. Agindo assim, corremos o risco de simplesmente trocar uma forma de opressão por outra. Corremos o risco de criar um outro modelo idealizado de mulher. Será que nosso papel não seria trabalhar as situações de vulnerabilidade que envolvem as mulheres a partir das experiências de feminino que nos são apresentadas? Circula sempre pelas redes sociais, em diversas páginas que discutem as questões do feminino, uma frase bastante interessante: “Lugar de mulher é onde ela quiser.” Creio que não podemos nos esquecer disso. Se acreditamos que o patriarcado nos tirou a voz por tanto tempo e ainda hoje continua nos oprimindo, não é hora de escutarmos a voz das mulheres? Precisamos escutar principalmente aquilo que é difícil de ouvir. Aquilo que nos faz nos sentir impotentes. Aquilo que, por vezes, toma o sentido oposto do que acreditamos liberdade feminina. Segundo Torres, Nas situações, mais complexas, é preciso não apenas nos colocar no lugar do outro e entender o lado do outro, tentar sentir o que o outro sente – o que tange o conceito de empatia –, mas também conseguir se aproximar do fenômeno em questão. (TORRES, 2015)[iii] É necessário nos atentarmos para a experiência de cada mulher que acolhemos. Existe ali uma manifestação do feminino, que se revela singular e intransferível, que nos aproxima do fenômeno, que amplia nossa compreensão e que pode inclusive enriquecer nossas estratégias de enfrentamento no nível macro. O documento “Referências técnicas para atuação de psicólogas (os) em Programas de Atenção à Mulher em situação de Violência”, produzido pelo Conselho Federal de Psicologia, no ano de 2013, traz uma contribuição importante para esta questão, quando aborda o referencial da clínica ampliada. Segundo o documento: Um diferencial dessa clínica denominada ampliada é que a escuta realizada pelo profissional não se interessa apenas pela situação de violência, mas pela pessoa na sua integralidade, considerando todas as suas necessidades. (p.50) Apesar do documento não tratar do trabalho no SUAS, penso ser uma boa sugestão de leitura exatamente por possibilitar que ampliemos o nosso olhar sobre esta problemática. Ainda é urgente falar, e falar muito, sobre violência, exclusão e sobre as fragilidades e desvantagens de ser mulher em nossa cultura. Mas que possamos compreender as pessoas que acolhemos em sua integralidade, que possamos parar para escutá-las sobre aquilo que vivem. Por que ao invés de promover Dias da Beleza e do Artesanato, não fazemos de março um mês de Histórias, por exemplo? Por que não convidar essas mulheres para uma “costura” de vivências, na qual cada uma pode
Feliz Gestão Nova: o SUAS convida a uma Psicologia neutra?
Por Lívia de Paula “Ano Novo, Vida Nova.” Para muitos de nós, trabalhadores do SUAS, essa frase poderia ser reescrita neste momento assim: Ano Novo, Gestão Nova. Vários municípios vivenciam neste início de mandato inúmeras mudanças que trazem consigo sentimentos por vezes contraditórios: esperança na renovação, medo das transformações e angústias frente às reconfigurações dos serviços. Para aqueles que chegam no campo da Assistência Social, os sentimentos podem ser outros: receio diante do novo, sensação de estar perdido diante do famoso “caí de paraquedas nesse trabalho”, sentimento de não pertencimento e a nossa velha conhecida crise de identidade profissional. Surgem vários questionamentos como: existe algum trabalho para Psicologia no SUAS? O que é ser psicóloga / psicólogo? E a mais famosa pergunta: o que farei eu, profissional da Psicologia, nesse espaço não clínico? Durante todo o mês de Janeiro, o Blog trouxe textos já publicados anteriormente que podem ser ferramentas importantes para nos auxiliar nesta etapa de transição. Se você ainda não leu, vale consultar esta Retrospectiva nos arquivos do Psicologia no SUAS. Terminei 2016 escrevendo sobre nossa atuação com famílias e tinha como pretensão continuar refletindo sobre este tema, mas o momento político dos municípios me convidou a “recalcular minha rota”. Preferi dar Feliz Ano Novo trazendo um tema polêmico, que divide opiniões, mas que considero imprescindível para quem atua no SUAS e nas demais políticas públicas: a questão da neutralidade profissional no contexto da Assistência Social. Você, profissional do SUAS, calouro ou veterano, já pensou sobre isto? O que é neutralidade? O que é ser neutro no âmbito das práticas sociais? Consultando o Dicionário Michaelis On-line[i], encontramos os seguintes sentidos para neutralidade: “condição daquele que se abstém de tomar partido; caráter ou qualidade do que é imparcial.” Já entre os sentidos para a palavra neutro, encontramos alguns bastantes interessantes: “que não apresenta clareza ou definição; indefinido, vago; desprovido de sensibilidade; indiferente, insensível.” Sendo estas as compreensões mais frequentes destas palavras, consultamos as diretrizes da Política de Assistência Social para encontrar apontamentos que orientam nossa atuação enquanto operadores da Política, buscando compreender como tais apontamentos se relacionam com o que nos indicam as palavras citadas. A NOB-RH/SUAS, em seus Princípios éticos para os trabalhadores da assistência social, começa dizendo o seguinte: “A Assistência Social deve ofertar seus serviços com o conhecimento e compromisso ético e político de profissionais que operam técnicas e procedimentos impulsionadores das potencialidades e da emancipação de seus usuários;” (p.19). Mais à frente, o documento coloca como um dos princípios éticos dos trabalhadores “a defesa intransigente dos direitos socioassistenciais”.[ii] Poderíamos elencar aqui várias outras orientações presentes nos documentos que regem o funcionamento do SUAS mas apenas estas já nos auxiliam muito na tarefa de problematizar o tema do nosso texto. Já sabemos que neutralidade e neutro são palavras que indicam o não posicionamento, uma certa indiferença, o que não está claro ou definido. E também já sabemos o que a Assistência Social exige de seus técnicos: somos profissionais impulsionadores de potencialidades e emancipação da população; somos profissionais de reconhecimento, defesa e garantia de direitos. É possível defender direitos sendo indiferente, vago e insensível? A compreensão mais comum de que a ciência deva ser neutra, produzindo conhecimento sobre determinado fenômeno sem se relacionar com ele é colocada em xeque no território das práticas sociais. Segundo Branco (1998), “a ciência psicológica, no estágio atual, exige pesquisa, extensão e ensino reflexivos, críticos e engajados.” Fica claro que não há neutralidade que caiba no SUAS. Não há para onde correr. O SUAS é um campo para quem se posiciona. É um campo para quem “enxerga” as vulnerabilidades e as fragilidades daqueles que, na maioria das vezes não tem vez e voz, em especial dos chamados grupos minoritários (negros, mulheres, crianças e adolescentes, população LGBT, pessoas com deficiência, entre outros). E como fazemos, nós da Psicologia, diante desta constatação? Nós que aprendemos tão bem a sermos neutros? Está posto o conflito e talvez a nossa grande crise ao adentrarmos o SUAS. Eu faço o que com aquela psicóloga ou psicólogo que ia ser? Aquela que ia ficar atrás da mesa ou ao lado do divã, sem precisar explicitar suas posições? Sugiro uma conversa honesta entre você e aquela pessoa que você se imaginava. Talvez você pode descobrir que o trabalho pautado na psicologia social não é bem a sua. Ou talvez não. Talvez você descubra que há outras formas de ser psicóloga ou psicólogo, nas quais o posicionamento é indispensável. E aí, colega, bem-vinda ao SUAS. No atual cenário político do país, no qual vemos ruir direitos todos os dias, estamos cada vez mais precisados de profissionais intransigentes na defesa e na luta por justiça social. Vamos refletir mais sobre Neutralidade e Psicologia? Os textos sugeridos falam sobre formação dos profissionais psicólogos e sobre nossa atuação no espaço clínico, mas podem auxiliar nos questionamentos sobre a prática da Psicologia em qualquer espaço: BRANCO, Maria Teresa Castelo. Que profissional queremos formar? http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141498931998000300005&script=sci_arttext SAMPAIO, Mariana Miranda Autran. Neutralidade na relação terapêutica – reflexões a partir da abordagem gestáltica. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672004000100005 MARIANO, Anna Paula Rodrigues. A questão da neutralidade do psicoterapeuta.http://www.espacocuidar.com.br/pt/a-quest%C3%A3o-da-neutralidade-do-psicoterapeuta/ Cabe ainda uma última reflexão que pode contribuir para que você queira estar conosco na empreitada do SUAS. Para dar conta desta tarefa de defesa de direitos não podemos trabalhar isolados. Na última reunião da Comissão das Psicólogas (os) do SUAS da Subsede Centro Oeste do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, l Assistência Social exige participação e discussão coletiva. Se você está chegando agora ou já é velho de casa não importa. Pense na sua participação. Ela é uma das formas de nos ajudar na construção da nossa identidade enquanto trabalhadores. Há muitas maneiras de se apropriar, de dividir angústias pertinentes às nossas tarefas, de se informar, de contribuir para o fortalecimento da política: procure os fóruns de trabalhadores estaduais ou municipais, os conselhos de direitos da sua cidade, os grupos de discussão, estudo e trabalho, os grupos das redes sociais, enfim… Posso dizer sem medo que existe uma Psicologia possível
Entre o concerto e o conserto: qual tem sido nosso foco do trabalho com famílias no SUAS?
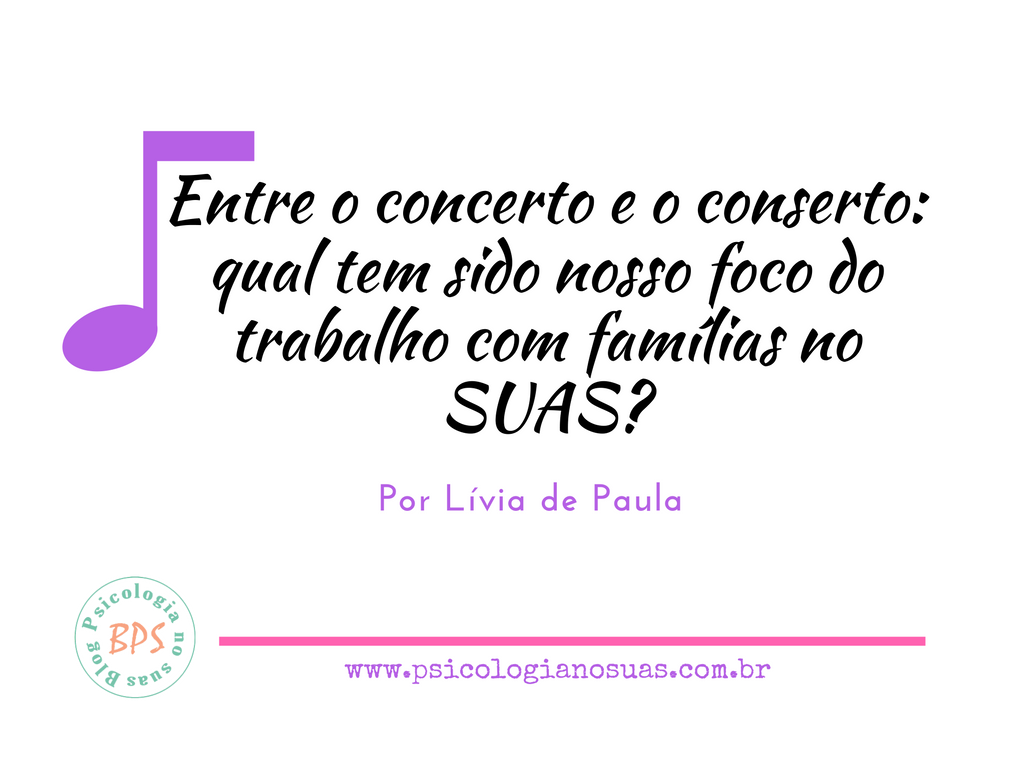
Por Lívia de Paula* “Família, família Papai, mamãe, titia, Família, família Almoça junto todo dia, Nunca perde essa mania” A canção dos Titãs, um clássico do nosso rock nacional, é bastante utilizada por nós, trabalhadores do SUAS, na facilitação de grupos e outras atividades de sensibilização. Sua letra traz como ponto central os dilemas daquela que é nosso foco na atuação dentro do social: a Família. Sabemos que pensar a família é, me arrisco em dizer, a tarefa mais importante da nossa prática. A maioria dos documentos que nos orientam tem um capítulo/parte específica para tratar deste tema. Assim, todos os dias, lemos sobre família, pensamos sobre família e atendemos alguma família. Propositalmente, até aqui, utilizei o termo família no singular. Já é convencional no que diz respeito à assistência social falarmos de FAMÍLIAS, a fim de trazermos à tona as inúmeras configurações familiares por aí existentes. É convencional falarmos, mas será que de fato temos nos atentado e nos permitido trabalhar com Famílias, no sentido aqui apontado? É para esta conversa que eu convido você, meu colega de SUAS, hoje. Quando recebemos uma família para acolhimento em nosso equipamento, nossa primeira ação é ou deveria ser conhecer como ela se configura. Quem são seus membros? Qual é o vínculo entre eles? Como se relacionam? É a partir destes questionamentos que poderemos traçar (junto com eles) as estratégias para o nosso trabalho. Você considera esta uma tarefa fácil? Fazendo uma breve reflexão fenomenológica, percebo que esta é uma das propostas mais difíceis da nossa prática. Difícil porque somos pessoas em contato com pessoas. Como pessoas, não podemos negar que somos constituídas por vivências, afetos e concepções. E é por isso que, antes de acolher uma família, creio ser imprescindível refletir genuinamente sobre minhas concepções, meu lugar de conforto e minhas estranhezas sobre o assunto. Afinal, batem à nossa porta desde famílias tradicionais tal qual a da canção do Titãs (papai, mamãe, titia, cachorro, gato, galinha) quanto famílias cuja configuração nunca foi por nós sequer imaginada. Esta proposta de acolhimento vai requerer então a suspensão de nossos conceitos e valores e uma postura empática[i]. Tal empreitada, por mim considerada tão árdua, é a única que pode garantir que façamos nosso trabalho como preconiza a Política de Assistência Social, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e da autonomia. Sem suspendermos nossos valores e praticarmos a empatia, não creio ser possível caminharmos em direção a estes objetivos. A linha que separa um trabalho de fortalecimento familiar de um trabalho de educação, de “conserto” das famílias é bastante tênue. Se direcionamos nosso trabalho a partir daquilo que entendemos como certo para uma configuração familiar estamos fadados a uma ação policialesca, de reparação, literalmente de arrumar o que está estragado[ii]. Ainda hoje é comum encontrarmos argumentos que defendam as noções alicerçadas na ideia de que famílias convencionalmente estruturadas, as chamadas famílias nucleares, são a garantia de um desenvolvimento saudável de seus membros. Acredito que no âmbito do SUAS já avançamos um pouco. Já sabemos que uma “orquestra” teoricamente estruturada nem sempre faz o melhor concerto. É necessário que os instrumentos, quais forem eles, dialoguem entre si, se encontrem. É necessário treino e muito ruído para se chegar a alguma possibilidade de som. Penso que a metáfora da orquestra nos auxilia na compreensão de que as famílias são constituídas de membros diversos entre si, que coabitam vivenciando tanto conflitos quanto afetos. São as vivências conflituosas e afetivas que tornam possível a música familiar. É fato que já avançamos. Mas ainda há muitas questões que por nós permanecem quase intocadas. O documento “Parâmetros para o Trabalho com Famílias na Proteção Social Especial de Média Complexidade”, um relato de experiência do município de Campinas – SP, traz contribuições valiosas para esta discussão e merece ser lido em sua íntegra.[iii] Na parte que trata dos marcos conceituais, há o seguinte apontamento: O debate sobre a concepção de família revelou o quão problemática é a construção de uma concepção partilhada sobre o tema, particularmente na sua relação com a proteção social. É totalmente consensual a ideia de que a família é uma instituição que se transforma histórica e cotidianamente, que na contemporaneidade assume as mais diferentes configurações e que tem papel fundamental na construção do mundo subjetivo e intersubjetivo dos sujeitos. […] As divergências aparecem quando se coloca em pauta a relação entre família e proteção. Nesse aspecto, por um lado, subjaz a ideia de considerar, em princípio, a família como um espaço de proteção […] bem como o objetivo do trabalho social com famílias contemplados na proposição do SUAS, qual seja, o de fortalecer a capacidade protetiva das famílias. Por outro lado, apresenta-se a ideia de que a família não, necessariamente, constitui-se como um espaço de proteção. Nessa perspectiva, a hipótese de proteção como fundamento da configuração familiar estaria apoiada numa concepção moral. No que ela deveria ser e não no que ela realmente é. Em uma proposta de cunho moralizador, isso poderia induzir a processos de responsabilização da família pela proteção social. (p.33-34) Tal apontamento ilustra bem o que nosso cotidiano na esfera do SUAS nos apresenta: deparamo-nos todos os dias com famílias que “deveriam ser” protetivas, mas não o são. Como somos impactados por esta experiência? Volto a dizer: nesta hora, estamos frente a frente com a armadilha de uma possível atuação policialesca, calcada na melhor das intenções: fortalecer a capacidade protetiva das famílias. Será que temos nos deixado capturar discretamente pela crença de que há um modo certo de ser família? As famílias do SUAS são famílias do jeito errado? Será que um trabalho de fortalecimento no âmbito do social pode ter como norte a formatação das famílias, tendo como meta a família “comercial de margarina”? Estas são apenas algumas das questões essenciais a serem refletidas. Existem outras. Por exemplo, em tempos de polêmicas sobre gênero e sexualidade, não precisamos pensar esse tema dentro das famílias? Como tem sido exercido os papéis de gênero no contexto familiar? Enfim, já percebemos que este é um tema
O primeiro-damismo e a desprofissionalização como barreiras na consolidação do SUAS
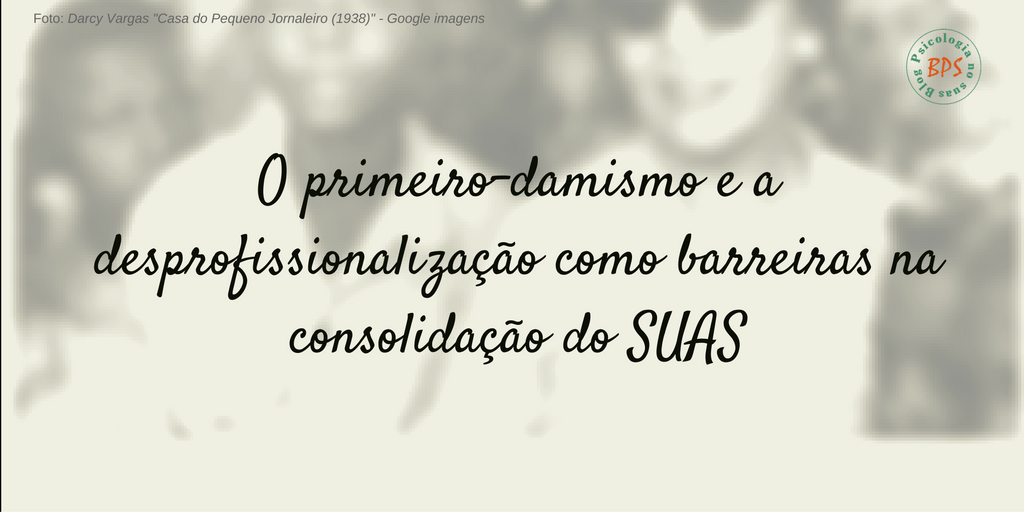
Por Tatiana Borges; Aline Morais; Lívia de Paula; Rozana Fonseca e Thaís Gomes Apesar de estar reconhecida enquanto política pública na Constituição Federal de 1988, a Assistência Social tardiamente passou a se constituir como direito social e dever do Estado, já que o seu histórico é fortemente marcado pela caridade, filantropia e voluntariado, ou melhor, é o histórico do ‘não direito’, do favor. É possível afirmar que foi com a implantação do SUAS, através da PNAS de 2004, que ocorreu um salto na profissionalização da assistência social, ou seja, contrapondo as práticas emergenciais de compaixão, de improviso e personalismos, é o arcabouço normativo dos últimos 10 anos da política de assistência social que reforça ou exige a presença de equipes de referência interdisciplinares constituídas por servidores públicos para a intervenção no conjunto de expressões das desigualdades sociais, através de serviços e benefícios socioassistenciais. Dito de outra forma, o reconhecimento, através de ordenamentos institucionais e direcionamentos políticos, de que o atendimento com dignidade prestado à população exige condições de trabalho e profissionais qualificados nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa é recente. Assim como é novo o tratamento da Assistência Social como responsabilidade estatal, expressada através de seguranças indispensáveis ao desenvolvimento pleno dos cidadãos com a garantia de direitos e com o envolvimento efetivo de todas as esferas de governo. Muito embora este entendimento seja fruto de estudos muito anteriores ao SUAS, de embates e lutas históricas para o reconhecimento da política de Assistência Social como direito e de militância política de diversos segmentos da sociedade, bem como de profissionais, com destaque aos assistentes sociais, o movimento para a implantação deste sistema é ainda incipiente, pois temos mais um modelo do que um sistema propriamente instalado, o que não invalida, de forma alguma, os avanços reais conquistados. Avanços oriundos especialmente dos movimentos organizados de trabalhadoras/es e de usuários, seja na militância diária em seus equipamentos de trabalho ou em fóruns, grupos e conselhos destinados à discussões, deliberações e construções da política. O avanço do SUAS – mesmo que não esteja nivelado, pois a cobertura para os riscos sociais não é universalizada e há um descompasso entre as formas e o tempo histórico de incorporação desta política pela união, estados e municípios – é inegável, principalmente, pelo potencial, já demonstrado pelas pesquisas e pelos indicadores existentes, de impactar a existência de grupos de pessoas, atuando na proteção a vida, na prevenção da incidência de riscos sociais, na identificação e superação de desproteções sociais e na redução de danos. Ainda assim, o desafio cotidiano que nós, das diversas categorias profissionais – que hoje, graças ao conjunto normativo do SUAS, compõem a política de assistência social – enfrentamos é superar a tradição de práticas assistencialistas pautadas sempre pelo controle e adestramento das famílias e pela criminalização da pobreza como forma de manter “a ordem e o progresso” do país, bem como o poder sobre os pobres, tratando os como desvalidos, carentes e não como cidadãos ativos de direitos. Considerando que o primeiro-damismo é uma realidade em muitos municípios, fica mais evidente a necessidade de pautarmos criticamente este cenário, uma vez que agora há uma representação emblemática e carregada de retrocessos. O quanto o primeiro-damismo tem emperrado a consolidação no SUAS? Valeria um estudo, porque sabemos que ainda há uma distância entre a legislação e o modo como a Assistência Social é vista pela população, pelos seus dirigentes e gestores municipais. O que sabemos é que, em muitos municípios a realidade da política de assistência social é permeada por ações de cunho clientelista que se convertem em moeda de troca nos acordos político-partidários entre prefeitos e vereadores para garantir votos da população. A incidência destas práticas na política de assistência social culmina numa desarticulação e fragmentação da mesma, numa sobreposição de propostas, sem considerar o que já existe no SUAS, reduzindo as ações à ajudas e concessões pontuais da primeira-dama. Nós, profissionais que compomos o SUAS e que defendemos este modelo de política pública, trabalhamos em uma direção que tem o Estado como principal responsável pelo bem-estar social e assim tendo como competência a promoção da proteção social que, no âmbito do SUAS, se materializa por meio dos serviços e benefícios socioassistenciais. Nesta direção o Estado atua como agente executivo (PAIF e PAEFI, programas e benefícios), agente regulador (dos serviços socioassistenciais prestados por entidades e organizações sociais) e agente de defesa de direitos e da participação social e esta direção, que preza a assistência como um direito e não como uma benesse, nos faz posicionarmos contrárias/os às propostas que venham reforçar o primeiro-damismo, estatuto que representa tudo aquilo que procuramos romper, ou seja, com o clientelismo, com o cerceamento de famílias e com o uso das pessoas que necessitam da assistência social para a promoção da imagem do político. O primeiro-damismo, a nosso ver, é a caricatura da negação do direito, uma vez que simboliza, de forma bastante clara, o lugar que governos baseados em assistencialismo reservam à população usuária do SUAS: o lugar de quem deve agradecer ao político pela sua bondade, por sua benevolência. Por saber que nós, trabalhadoras/es do SUAS, nos constituímos como a “tecnologia básica” deste sistema, uma vez que “a mediação principal é o próprio profissional” (BRASIL, 2008), não podemos nos calar, pois o trabalho social que realizamos exige conhecimento, formação técnica e perfil e não é possível que para um cargo de condução de uma política pública o critério seja o casamento e não o currículo profissional ou concurso público. A qualificação do trabalho social com famílias é um grande marco na implantação do SUAS e em uma de suas dimensões há um conjunto de atribuições técnicas/os, que compõem as equipes de referência dos serviço socioassistenciais. Entre estas atribuições está o acompanhamento às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrente, dentre outros fatores, da precariedade de renda. Assim, as famílias beneficiárias de programas de transferência de renda são prioritárias para o acompanhamento social que se configura como a oferta de um serviço e não uma exigência ou
A violência nossa de cada dia
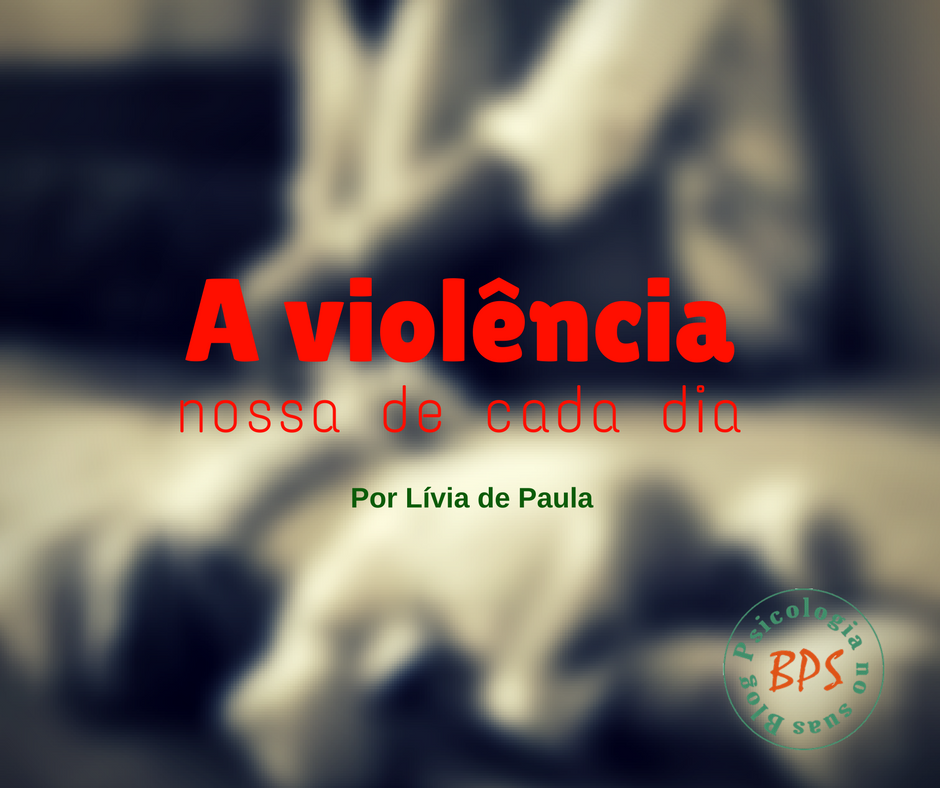
Por Lívia de Paula* Como técnica de referência de um CREAS, é algo recorrente em minha prática receber convites e solicitações para participar como facilitadora em rodas de conversa e palestras sobre o tema violência, na maioria das vezes sobre violência contra crianças e adolescentes, meu foco de atuação dentro do serviço. Já estive nos espaços, mais diversos, como escolas, falando para crianças e adolescentes; escolas, falando para pais e responsáveis; universidade, falando para alunos; teatro, falando para pessoas da comunidade; evento promovido por igreja evangélica, falando para fiéis; entre outros. Considero uma imensa responsabilidade explanar sobre este tema e uma das preocupações que tenho é tentar sair do lugar comum que muitas vezes nos captura enquanto trabalhadores da área: falar sobre prevenção, sobre os tipos de violência e sobre as formas de denúncia. Geralmente é este o nosso script, tanto quando falamos sobre o tema, quanto quando somos convidados a ouvir outros profissionais em capacitações que nos são oferecidas. É claro que este script tem grande importância, pois é ele que nos orienta em nosso trabalho cotidiano. Porém, penso ser interessante ir além. Ir além, a meu ver, é antes de falar do que já está posto, promover reflexões. Antes de dizer o número do Disque 100 (Disque Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República)[i], seria bacana conhecer o que as pessoas pensam sobre violência. Qual é o conceito delas sobre o assunto? Qual é o seu conceito, caro colega de SUAS? Já se perguntou? É com esse questionamento que geralmente inicio minhas apresentações. Perguntando a mim mesma e aos meus ouvintes o que é violência. E as descobertas vão inúmeras, muitas vezes mudando até o rumo da prosa. Observo que, em grande parte das discussões, a violência é vista como algo que não nos pertence. Violência é coisa de noticiário policial, num reino tão, tão distante… Quantas vezes me perguntam: mas existe violência sexual em Itaúna? E essa forma de olhar a violência não é exclusividade daqueles com os quais nos relacionamos (amigos, conhecidos, parentes, usuários). Essa é a minha forma de olhar a violência. Essa, provavelmente, é a sua forma de olhar a violência. Mas então, o que seria violência? A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) define a violência como: o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que, resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.[ii] Pensando a partir deste conceito da OMS, torna-se simples observar como a violência faz parte do cotidiano de cada um de nós. Quem nunca se sentiu ameaçado ou chantageado? Quem nunca ficou irritado no trânsito e ofendeu outro motorista? Isso sem falar nas nossas relações familiares, algumas sustentadas pelos conflitos e violências psicológicas várias. A violência nossa de cada dia. Assimilada e Banalizada. Aquela que não dá ibope pros “Datenas”, afinal todo mundo perdoa porque: “eu estava nervoso”, “aquele motorista é um lerdo”, “foi só uma brincadeirinha”. A psicanalista Maria Laurinda Ribeiro de Souza, em seu artigo “A banalização da violência: efeitos sobre o psiquismo”[iii], nos traz contribuições importantes sobre este tema: Outra forma de se olhar para a questão da violência é identificar, no nosso cotidiano mais próximo, como ela se manifesta nos pequenos gestos. Por serem tão do dia-a-dia e por parecerem tão insignificantes frente à magnitude das manchetes, não se dá tanta atenção. Penso, por exemplo, nas discriminações, exclusões e desrespeitos mais comezinhos – transformar as empregadas em escravas disfarçadas deixando, por exemplo, as roupas jogadas, os jornais espalhados, para que elas os guardem. […] Violência do casal que não suporta as mínimas diferenças e não consegue negociar ou ao menos escutar as divergências. Violência com os filhos que são deixados ao relento das ruas ou, em situações econômicas mais favoráveis, aos acasos da televisão moderna – os jogos eletrônicos e computadores. […] O lugar para os afetos, as amizades, o respeito mútuo, a confiança, está cada vez mais restrito. Saindo de casa: violência no descuido com as calçadas; inexistência de rampas, de guias rebaixadas, de respeito mínimo às normas de convivência, cidadania, zoneamento urbano, empregos informais sem direitos trabalhistas, sem previsões de acidentes e de amparo à velhice… Também aqui a lista seria imensa. Apesar de tantos exemplos fáceis de serem identificados e que produziriam realmente uma lista imensa, acredito que promover reflexões mais amplas sobre o conceito de violência configura-se como um desafio em nosso cotidiano. Alguns destes exemplos ainda trazem espanto e geram muitas polêmicas quando abordados. Em certa ocasião, na qual estava como facilitadora de uma roda de conversa, falávamos sobre as palmadas, os famosos tapinhas para educar. Fui questionada por uma colega psicóloga: “mas você acha que isto também é violência?” Não sei se é o caso desta colega, mas conheço vários profissionais do SUAS que acreditam e defendem discursos como “mulher apanha porque gosta”, “pedófilo precisa é ser castrado”, “criança só vira gente se apanhar”. É por essas e outras que o desafio está posto. E é por tudo isso que defendo que continuemos a falar de violência. Que não recuemos quando convidados a falar sobre violência. Porém é urgente que ampliemos nosso olhar. Que busquemos a violência naquele reino distante. É preciso sim que a nossa fala contemple as situações que chocam: a negligência grave, as violências física, sexual e fatal. Mas, mais necessário ainda é que a nossa fala discurse principalmente sobre a violência mais “perigosa”: aquela à qual nos acostumamos, aquela que se veste de hábito. Que essa reflexão possa começar conosco e se estender aos espaços nos quais somos convidados a estar: os equipamentos do SUAS, as ruas, as praças, as escolas, a comunidade. Só assim será possível contribuirmos para a quebra dos ciclos de violação, uma das tarefas mais importantes da Política de Assistência Social. [i] Para conhecer o serviço, acesse AQUI [ii] Acesse o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde AQUI [iii] Artigo
“Você vai trabalhar no SUAS”: considerações sobre uma não-escolha
Por Lívia de Paula* Desde o início do meu trabalho neste espaço de colaboração, tenho tido a honra de ser orientada pelo professor André Torres, profissional significativo em minha formação como psicoterapeuta fenomenológico-existencial e que, ao mesmo tempo, possui uma prática que “conversa” bem com o campo social, tendo inclusive atuado pioneiramente na área e publicado sobre o assunto antes mesmo da consolidação do SUAS (TORRES, 2005)[i]. Uma de suas primeiras sugestões foi que eu contasse um pouco sobre o interesse pelo SUAS antes de efetivamente trabalhar nele. Em nosso último contato, ele me questiona: “Por que trabalhar no SUAS?” Confesso que fiquei profundamente incomodada com este questionamento, ou melhor, com a ausência de uma resposta para ele. De pronto pensei: não escolhi o SUAS. Fui escolhida por ele. Apesar de já ter uma trajetória marcada pelas disciplinas vinculadas à Psicologia Social, conforme abordei em meu último texto, quando iniciei como psicóloga da Prefeitura Municipal de Itaúna não foi me perguntado onde eu gostaria de trabalhar. Creio ser assim na maioria das prefeituras. É raro termos conhecimento de concursos específicos para determinada área de atuação dentro do escopo das secretarias existentes. “Você vai trabalhar no Serviço Sentinela”: foi assim o meu encontro com o SUAS. Fui lançada nele. E este encontro, bastante inesperado e não planejado, já dura dez anos. Posso dizer então que essa foi uma escolha daquelas que acreditamos ser uma não-escolha. Ao ser escolhida pelo social, eu também o escolhi. Como servidora pública efetiva poderia, diante de alguma insatisfação, pedir para ser transferida para outro setor. E até hoje não o fiz. Mesmo com a dureza cotidiana do trabalho que todos vocês, meus colegas de SUAS, conhecem muito bem, eu continuo lá. E conheço muitas pessoas que, assim como eu, também continuam. E daí eu refaço a nós a pergunta do meu orientador: Por que continuamos? Tendo me deparado com o incômodo e o desafio posto por esta questão, percebo que fiz dela minha companheira de percurso. Volta e meia, me pego pensando sobre isso. Curiosa que sou vivo em busca de novos desafios, novas tessituras. E isso inclui também, participar sempre de capacitações, congressos, espaços agregadores de novos conhecimentos. Escrevo este texto ainda no calor do último evento no qual estive presente: I Simpósio da Rede de Pesquisas em Narrativas, Gênero e Políticas; realizado nos dias 01 e 02 de setembro, na PUC Minas[ii]. Este simpósio congregou pesquisadores de todo o país e me possibilitou adentrar em um universo até então bastante desconhecido para mim. Fui bastante tocada pelos relatos de experiências e investigações. Uma das apresentações, feita pelo professor da Universidade Estadual de Maringá/PR Murilo Moscheta, me conectou instantaneamente com a pergunta que norteia este texto. De uma forma bastante inovadora e intensa, Murilo terminou sua contribuição se apropriando de uma fala de uma aluna sua, Eloísa Guerra, que “explicou” o porquê de continuar exercendo a profissão de professora, apesar de tantas dificuldades. Disse ela: “O que eu mais gostava ao fim de cada aula era o sentimento de indignação e a vontade de mudar o mundo que predominava em mim”. Sua fala reverberou profundamente em mim, como se me dissesse assim: é isso. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, em seu Capítulo I, art. 2º, Parágrafo único, dispõe que: A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Somos os profissionais dos quais se espera a operacionalização disto. É possível caminhar no sentido de enfrentar a pobreza, garantir mínimos sociais e universalizar direitos sem refletir sobre as exclusões deste mundo que vivemos? E aquela questão, minha companheira de percurso, começa a ser iluminada. O SUAS só pode ser um campo para os indignados: aqueles que esbravejam contra as desigualdades e injustiças que permeiam a vida dos nossos usuários, aqueles que esbravejam contra as dificuldades que permeiam a atuação dos trabalhadores do social. Podemos estar longe das transformações necessárias para a efetivação da política. Mas estamos no caminho. E acabo de descobrir que uma das coisas que me mantém nesse caminho é o sentimento de indignação e a vontade de mudar o mundo que continuam predominando em mim ao final de cada dia de trabalho. Obrigada André, obrigada Eloísa Guerra, obrigada Murilo! [i] TORRES, A. R. R. A perspectiva existencial diante da comunidade carente de recursos socioeconômicos. In: Valdemar Augusto Angerami – Camon. (Org.). As várias faces da psicologia fenomenológico-existencial. 1ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p. 55-80. [ii] Se quiser saber mais sobre o evento, acesse o site: http://www.narrativas-genero-politica.org/ *Lívia de Paula colabora mensalmente com o Blog Psicologia no SUAS! Saiba mais sobre Lívia AQUI e para os outros textos: AQUI
Compartilhando vivências: vamos falar sobre nossa atuação na Proteção Social Especial?

Oi Pessoal, hoje dou as boas-vindas a estreante da coluna de colaboradores com co-autoria no BPS, Lívia de Paula! É muita alegria ter você aqui, Lívia <3 ——————– Por Lívia de Paula* Como leitora do Blog Psicologia no SUAS, vejo que o sucesso do trabalho desenvolvido pela Rozana Fonseca se relaciona diretamente com algo que nós, técnicos – os chamados “profissionais da ponta” – sentimos como lacuna a ser preenchida: somos carentes de espaços que falem a nossa língua, que abordem a prática cotidiana da nossa atuação com clareza, objetividade e em uma relação “de igual para igual”. Acompanhar este Blog sempre teve este sentido para mim: encontrar os “iguais”, perceber que as dificuldades são semelhantes e ver então confortadas um pouco das minhas angústias diante do trabalho no SUAS, um campo novo, para o qual precisamos nos reinventar. A meu ver, pensar e criar uma prática diferente da tradicional clínica revela-se como algo estimulante, porém também bastante desafiador. Desafiadora também é a tarefa que inicio com este texto: atuar como colaboradora deste espaço, trazendo para ele reflexões sobre minha práxis no campo da política de assistência social. Reflexões essas que também terão como base falar a língua dos trabalhadores do SUAS, principalmente daqueles que, como eu, atuam na Proteção Social Especial (PSE), mais especificamente nos CREAS, com situações de violência contra crianças e adolescentes. Minha trajetória no SUAS iniciou-se em 2006, quando comecei a atuar como psicóloga, funcionária pública concursada na Prefeitura Municipal de Itaúna, Minas Gerais. O município implantaria em maio de 2006 o Programa Sentinela e eu passei a ser uma das técnicas de referência, atuando no mesmo desde o primeiro dia de seu funcionamento. Tal Programa tinha como objetivo oferecer um conjunto de ações – de natureza especializada – a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual, bem como a suas famílias. O Programa passou posteriormente a se chamar Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes e, em 2009, o município implantou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e o trabalho desenvolvido pelo Programa Sentinela passou a ser ofertado dentro do PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos. Revisitando o Guia de Orientação aos Serviços Municipais de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes – Sentinela, lançado pelo Governo de Minas em novembro de 2006, três questões chamaram minha atenção. Conforme citei anteriormente, o público alvo do serviço é definido como: “crianças e adolescentes vitimizados pela violência sexual, bem como suas famílias.” Aqui surgem as duas primeiras diferenças entre este Serviço e o CREAS: o foco na violência do tipo sexual e na vítima de tal violência, sendo a família citada em segundo lugar. Atualmente o trabalho do CREAS tem a centralidade na família e não apenas na vítima. Além disso, o cuidado é direcionado a vários tipos de violação de direitos, não só à violência sexual. Outra questão importante refere-se a uma das funções do profissional da Psicologia citadas no documento: “realizar anamnese psicológica”. Anamnese não nos remete a um psicodiagnóstico, a uma linguagem clínica tradicional? Parece que ainda havia muita influência da psicoterapia aqui… Este retorno à história do cuidado com as situações de violência contra crianças e adolescentes dentro do SUAS mostra-se importante por ilustrar como foram sendo construídas as propostas de ação junto a este público. Uma frase recorrente dentre os psicólogos atuantes no SUAS é: “não fazemos clínica, não fazemos psicoterapia”. E, muitas vezes, nos incomoda não sermos compreendidos neste posicionamento. Aí encontramos um guia que nos orientava a fazer anamnese psicológica, o primeiro procedimento que é realizado dentro do contexto psicoterápico. Diante disso, me coloco a pensar: O quanto avançamos de lá até aqui? O que construímos? Não fazemos psicoterapia. O que fazemos? Como tem se dado o trabalho com as famílias envolvidas em alguma situação de violência contra crianças e adolescentes nos CREAS? Que tipo de Psicologia tem sido possível? Dentre outras coisas, é principalmente sobre estes questionamentos que me debruçarei neste espaço de colaboração. Espero que, através deste espaço, você que está no mesmo barco que eu possa encontrar novas formas de pensar o seu trabalho e contribuir para o fortalecimento da nossa grande equipe: os Trabalhadores da Assistência Social. *Lívia de Paula – Graduada em Psicologia pela Universidade do Estado de Minas Gerais (2003). Possui formação em Psicoterapia Existencial e especialização em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. Foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Gestões 2010-2012 e 2012 -2014). Atua na área de Assistência Social desde 2006. Atualmente é técnica de referência do PAEFI/CREAS de Itaúna/MG e Coordenadora do GT SUAS da Subsede Centro Oeste do CRP – MG. Contato:liviadepaulla@yahoo.com.br